"Moçambique nunca conheceu momentos de paz”, entrevista a Paulina Chiziane
Foi a primeira mulher a publicar um romance no seu país. E a primeira africana a ganhar o Prémio Camões, em 2021. Ser tudo isto levou-a a perguntar: “Porquê agora?” A resposta ocupa a conversa com o Expresso. Nela recua-se aos inícios, fala-se do rumo do continente africano, da autocolonização e da colonização da língua
Em Maputo, esta é a estação do grande calor. “Calor de derreter uma pessoa”, confirma Paulina Chiziane. Coisas que só o ciberespaço permite: de um lado alguém em Maputo a passar um lenço pelo rosto suado, do outro alguém em Lisboa a abrigar-se contra o frio, a olharem um para o outro. Paulina está lá fora, no jardim, a derreter, e o verde contrasta com os olhos acinzentados. O filho Domingos, a quem ela chama “assistente”, corrige a posição do ecrã — ambos abrem o mesmo sorriso. Paulina tem também uma filha e cinco netos. E 11 livros num catálogo que traça o retrato de Moçambique — um país ainda em busca de uma identidade.
Em 2021, Paulina venceu o Prémio Camões e mais uma vez inaugurou uma era. À circunstância de ter sido a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, com “Balada de Amor ao Vento”, em 1990, somou-se a de ser a primeira mulher africana a receber a mais prestigiosa distinção da língua portuguesa. Amar a língua não lhe evita as lutas que por vezes trava contra ela, os conflitos com um léxico que resiste a nomear África e que, quando o faz, não impede um discurso de supremacia.
Nascida em Manjacaze, província de Gaza, a sul de Moçambique, em 1955, Paulina Chiziane cresceu em Maputo, onde frequentou a escola católica e estudou linguística na universidade. Foi membro da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) na juventude e trabalhou na Cruz Vermelha durante a guerra civil. Mudou-se para a Zambézia, a norte, onde hoje reside.
Em Portugal tem publicados os romances “Balada de Amor ao Vento”, “Ventos do Apocalipse”, “O Alegre Canto da Perdiz” e “Niketche: Uma História de Poligamia”, todos pela Caminho.
Depois de “A Voz do Cárcere”, o seu último livro, escrito a meias com Dionísio Bahule — com as vozes dos reclusos nas prisões, que os dois foram ouvir —, impôs a si própria uma paragem.

“Estou a fazer umas folgas. Não tenho escrito muito, mas estou a fazer textos para música”, conta ao Expresso.
“Canções?”, perguntamos.
“Sim, bonitas. Junto-me aos jovens e já lançámos alguns vídeos. A temática é a liberdade, o povo africano, o meio ambiente. Valores universais.”
Disse que nunca teve a intenção de ser a primeira. Mas foi a primeira mulher em Moçambique a publicar um romance — abriu esse caminho. O que é que isso significa para si e para as mulheres do seu país?
Significa muita coisa. Quando comecei a escrever, existia o preconceito cultural segundo o qual as mulheres eram seres inferiores. Havia também preconceitos coloniais, de que as mulheres podiam apenas escrever poeminhas de amor e cantigas de embalar e não tinham a capacidade de trabalhar na língua portuguesa. Essas foram algumas das barreiras que tive de vencer.
Não foi fácil e não sabia exatamente o que estava a fazer, mas o gosto de contar uma história fez com que eu fosse escrevendo e escrevendo.
E de onde vem esse escrever? Como começou?
Lembro-me de uma marca na escola primária [católica]. Fizemos uma redação, e a professora, que era uma freira, disse que o meu texto estava muito mal escrito em português, mas que eu tinha escolhido palavras com alma. Olhei para ela — era a irmã Francisca — e pensei: o que é que está para aqui a dizer? Depois corrigiu a minha redação, colocou-a como deve ser, e foi lida no Domingo de Páscoa, na igreja. Isso encheu-me de orgulho.
Mas ficou aquela dúvida: o que é isso de as palavras terem alma? Mais tarde, no ensino secundário, entrei em contacto com a poesia de Florbela Espanca e encontrei um verso que nunca mais esqueci: “O coração das pedras a bater.” A minha confusão aumentou.
Então, as pedras têm coração? As palavras têm alma? Nos meus tempos de adolescente, tinha a mania de fazer um diário, o ‘diário dos sonhos’. Acordava de manhã, tentava lembrar-me dos sonhos que tivera durante a noite e escrevia-os no diário. Chegava sempre atrasada à escola. Era sempre a última a tomar banho, a última a sair de casa, porque tinha de registar o sonho da noite anterior. Infelizmente, esse caderninho perdeu-se. Posso dizer que sou um ser noturno. Ainda hoje, durante o dia, vejo o mundo a correr e a passar, mas as noites, para mim, têm um encanto especial. Fico a pensar no que aconteceu, no que as pessoas fizeram, e quando dou por mim já estou a rabiscar palavras. Ser escritora faz parte da minha natureza. Posso estar no meio de uma multidão, mas estou sempre só, a processar o que vejo.
O Prémio Camões coloca-a como uma das principais representantes da escrita em português. Qual é a sua relação com a língua portuguesa?
É uma relação de amor. E nas histórias de amor há sempre conflitos. As minhas lutas com a língua portuguesa são várias. Moçambique é este país enorme, com diferentes línguas locais, e falar em português é algo que nos dá comunicação e mobilidade. Saio de Moçambique, viajo pelo Brasil, por Portugal, vou para outros países, comunico com outras culturas e povos a partir da língua portuguesa. Contudo, do ponto de vista prático, existem conflitos. A língua portuguesa, porque veio da Europa, nomeia a cultura, a flora e a fauna da Europa. É muito comum entre nós, escritores africanos, falarmos de pássaros.
Nesta região, onde se fala xangan, a língua nomeia-os. Mas a língua portuguesa não penetra tão fundo, porque este pássaro é característico deste lugar. De vez em quando dou por mim a rir-me dos glossários que faço. Temos uma fruta muito bonita, a que chamamos massala, redonda, bem cheirosa, que todas as crianças comem, mas o que é que eu digo para falar dela num texto em português? Massala é uma fruta esférica de casca dura que parece um coco mas não é um coco? É um palavreado sem fim para dizer que há uma fruta, neste lugar, que a língua portuguesa não consegue nomear. O mesmo se passa com as flores. Acredito que o tempo vai resolver estes problemas, que o léxico vai acabar por abrir-se.
Disse uma vez que o conflito tem também a ver com o facto de o português ser uma língua de dominação — o que a torna uma língua de segregação.
Eu, de vez em quando, dou assim uns berros, uns gritos. Porque nós usamos sobretudo dicionários que são provenientes de Portugal — ainda não produzimos os nossos. E nestes dicionários portugueses há uma supremacia que muitos de nós ainda não tivemos capacidade de ver. Andamos distraídos com o assunto, tal como os próprios portugueses.
No dicionário da Porto Editora vem a palavra ‘catinga’, que para eles é mais ou menos isto: “Cheiro nauseabundo característico da raça negra.”
Isto não é um insulto? O meu trabalho exige que mexa muito com dicionários, e estas definições deixaram-me curiosa, de modo que comecei a andar de folha em folha. E encontrei, por exemplo, ‘palhota’, que vem descrita como “habitação rústica característica dos pretos”. Isso é uma asneira: a palhota é reconhecida como uma habitação ecológica.
Sente que há um tom pejorativo?
Exatamente, a vários níveis. A palavra ‘prostituta’ aparece como “mulher de má conduta”. Já ‘prostituto’ é “aquele que se diverte fazendo sexo”. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, temos a questão do racismo e também a do lugar da mulher. É uma linguagem de supremacia. Veja outra palavra: ‘matriarcado’ é “costume tribal africano”. Pelo seu lado, ‘patriarcado’ é a “nobreza dos grandes homens de feitos heróicos”. ‘Heroína’ é uma mulher de beleza extraordinária. ‘Herói’ é o homem bravo na guerra.
Aprende-se muito sobre a ordenação do mundo a ler um dicionário…
Eu aprendi, e foi um acidente. Isso mostrou-me a necessidade urgente de descolonizar a própria língua, sobretudo nestes livros, que são obrigatórios para quem quer aprendê-la e estudá-la. Porém, toda a descolonização, toda a libertação é um processo. E é sempre preciso que alguém grite para as coisas se modificarem. Por curiosidade, fui ver o dicionário brasileiro, e descobri que o Brasil, que tem muitos mais anos de liberdade, faz dicionários que integram todo o léxico deles. A palavra ‘catinga’ no Brasil já tem um significado diferente. Eles fizeram esse trabalho de limpeza das impurezas e dos vícios da língua.
É a primeira escritora negra a ganhar o Prémio Camões — e agora hesito em dizer ‘negra’ ou ‘preta’. O que é mais correto?
Para mim, tanto faz. Mas faz bem em perguntar, porque não é igual. Usa-se ‘negro’ ou ‘negra’ para incluir todos os que têm sangue negro. Temos os pretos, que somos nós, e temos os mulatos, que são considerados negros. Quando se diz ‘negro’ inclui- se muita coisa. Mas ‘preto’ é específico. Eu sou preta.
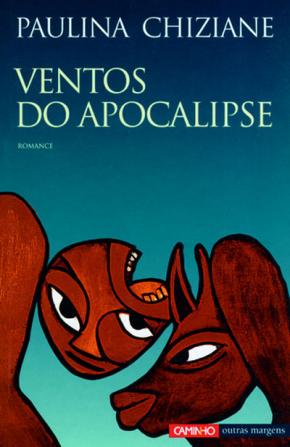 Voltando à pergunta, li que o prémio lhe despertava interrogações: porquê agora?, quem somos nós?, para onde vamos? Como responde?
Voltando à pergunta, li que o prémio lhe despertava interrogações: porquê agora?, quem somos nós?, para onde vamos? Como responde?
São questões muito profundas. Começaria por falar da trajetória da literatura em Moçambique. Os primeiros nomes de mulheres que aparecem são de mulheres brancas. Estou a lembrar-me da Glória de Santana, da Clotilde Silva, pessoas que eu admiro, que li bastante e com quem aprendi muito. O tempo foi passando e surgiram nomes como Noémia de Sousa, Lília Momplé e depois Lina Magaia e eu própria. Ora, o que é que aconteceu para haver esta hierarquia racial? Primeiro, quem tinha acesso à educação durante o período colonial, devido à segregação racial, eram os homens brancos. Aos poucos, esse acesso foi aberto aos filhos dos brancos com as negras. Os últimos a ter educação foram os pretos. Essa é a explicação que eu encontro.
Ou seja, o acesso tardio à educação condicionou uma literatura plenamente moçambicana.
Determinou o rumo das coisas. Viemos de um regime colonial, houve lutas de libertação e finalmente entendimentos. É por isso que só agora aparecemos nós.
A literatura de um escritor é o que o escritor é. É possível escrever ignorando o ângulo político e social a partir do qual se está?
É uma pergunta ao mesmo tempo simples e complicada de responder.
Porque eu estou neste chão, estou neste meio, há uma mangueira atrás de mim, consegue vê-la? Ouvem-se os pássaros a cantar, cujos nomes não existem na língua portuguesa. Tenho uma cultura e uma vivência. Não sou capaz de me dissociar do meio onde estou inserida. Por outro lado, venho de uma história, desde o colonialismo às lutas pela libertação, aquele fervor da alma, aquele grito pela liberdade, o choro coletivo dos povos africanos.
Nos livros que escrevi em Maputo, dou por mim a ter mangueiras, cajueiros — nomeio as plantas desta flora que me rodeia. Mas quando escrevia na Zambézia, qual não foi o meu espanto ao descobrir que coloquei demasiadas palmeiras? A Zambézia já foi o maior palmar do mundo. Sem me aperceber, o meu subconsciente foi fazendo o que achava que devia fazer. Depois, há um outro aspeto interessante para nós, moçambicanos.
A minha geração foi a primeira a ter acesso à educação. Somos os primeiros a ter acesso ao mundo. Então, para que servirá a minha literatura? Apenas para imaginar, para dizer frases bonitas? Ou para ajudar o meu povo a dar o grito de liberdade e a negociar a sua identidade?
“Ventos do Apocalipse” foi o primeiro romance que escreveu, embora não tenha sido o primeiro a ser publicado. O seu contexto é o da guerra civil a que assistiu “em direto” — nas suas palavras —, como cidadã e ao serviço da Cruz Vermelha. Como é que surge este livro e o que representa para si?
É um livro que está no centro do meu coração. Eu estava a trabalhar num campo de refugiados e vi uma senhora idosa. A primeira vez que nos encontrámos frente a frente ela fugiu. Isso voltou a acontecer algumas vezes. Até que fui atrás dela, entrei na sua tenda e perguntei-lhe: “O que se passa?”
Ela começou a chorar e explicou-me: “Quando te vi, imaginei que a minha filha estava a regressar da morte.”
Aquilo interessou-me. Perguntei-lhe o que acontecera, e ela começou a relatar que a filha tinha sido morta dias antes e, segundo ela, era muito parecida comigo — a altura, a voz. Então, sentia-se chocada. Abraçámo-nos e chorámos. Foi a primeira vez que senti a profundidade da guerra. Isso moveu-me a escrever algumas notas e a perseguir a história da guerra, para dar o grito coletivo e dizer: chega de sofrimento. Produzi o livro, mas ao tentar publicá-lo deparei-me com os obstáculos de um tempo de várias carências, como a falta de papel, de eletricidade.
A editora da Associação dos Escritores só tinha papel para um livro mais pequeno. Eu disse: não, não vou mutilar este trabalho, mas vou escrever outra história. Assim, publiquei a “Balada de Amor ao Vento”.
Que memórias guarda da guerra civil?
Foi terrível. Guerra civil é coisa que devia apagar-se da história da Humanidade.
Não havia uma única família que não estivesse de luto. De norte a sul, eram só mortes, massacres. Do lado da minha mãe perdi muitos familiares, do lado do meu pai um pouco menos. Foi nessa altura que comecei a compreender a importância da expressão ‘bom dia’. Porque dormíamos e não sabíamos se íamos acordar.
E, quando despertávamos, a alegria de acordar vivo e dizer ‘bom dia’ era algo de muito profundo. E, logo a seguir, correr para casa dos vizinhos para saber se tinham tido um bom dia.
Ao chegar a noite, saudávamos ‘boa noite’, mas era um desejo verdadeiro, porque não sabíamos o que podia acontecer nessas horas de sono.
O que diz hoje ao ver que a violência no seu país não acabou, que ainda há focos de presença devastadora em Moçambique?
É uma tristeza profunda, mesmo. Porque este país nunca conheceu momentos de paz. E não é apenas o nosso país: infelizmente, o continente africano está a ser assolado por diferentes interesses do mundo. Ontem foram os portugueses, hoje não sabemos quem são nem porquê, mas é sempre usando os argumentos mais terríveis.
Alguns destes conflitos atuais, nomeadamente em Cabo Delgado, usam o nome da religião, dos profetas, profetismos, proselitismos: isto parece o que aconteceu durante as invasões europeias, que vinham com aquele palavreado bonito de cristianização, de civilização, de evangelização…
Que no fundo não era nada disso: era pilhagem, tortura e morte.
Costumo dizer às pessoas: OK, tivemos uma invasão colonial e vieram os ditos civilizadores com a sua religião, prometendo levar-nos ao céu. Mas qual foi o preço desse céu desde que fomos invadidos? Todos os pretos conheceram o inferno da colonização e da escravatura.
Nem sempre sou compreendida, sobretudo por aqueles grupos radicais evangélicos. A eles respondo: é bom conhecer a história, conhece o teu passado e saberás ver o presente e projetar o futuro. A nova colonização, mais uma vez, virá para o continente africano em forma de religião.
A colonização assume novas formas, é isso?
A colonização levou muitos séculos, quase 400 anos. E a libertação não será feita de um dia para o outro. Repare: 400 anos de colonização produziram uma maneira de ver o mundo, de pensar.
Digo-o sem rodeios: o projeto colonial foi bem-sucedido, porque transformou o negro ou o preto em qualquer coisa que se autorrenega constantemente.
Renega a sua língua, o seu corpo, a sua pele, o seu cabelo. De vez em quando digo umas loucuras como esta: Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, portanto, cá por mim, Deus é negra. É mulher. Então, vamos lá interpretar os factos e tirar as conclusões a partir daí. Esta terra é minha, este chão é meu, se Deus me fez assim é porque quis que assim fosse. Porque é que tenho de aceitar mudar o meu ser para agradar a outro, como se o outro fosse um novo Deus? Que beleza terá o mundo com apenas uma raça?
Como descreve hoje, então, a identidade moçambicana?
É uma busca permanente. A identidade tem de ser construída e reconstruída todos os dias. Não é um produto acabado. Falar de identidade é falar de um processo de libertação. É saber viver com todas as culturas, conhecendo de onde venho. A cultura que vem para destruir a minha tem de saber que eu tenho valores, valores culturais que se calhar ela precisa e não tem. Então, em lugar de opressão, porque não uma negociação? Parece muito simples.
Mas não é…
Pois não. Vou dar um exemplo. Quando as mulheres europeias chegaram a África, a Moçambique, e mais concretamente a Tete — uma das províncias mais quentes —, vinham com aquelas saias, contrassaias e espartilhos, chapéus, luvas, botas… Chegavam a Tete e encontravam um calor de 50 graus.
A primeira impressão que tiveram foi dizer: “Estes pretos não são civilizados, andam nus, é um povo pecaminoso, devia vestir-se e ter mais pudor.” Isto aparece em vários escritos históricos.
Passado algum tempo, as europeias começaram a tirar o chapéu, as luvas, e aos poucos descobriram que a nudez ou o andar de tanga é um valor, porque preserva a frescura e o bem-estar. Hoje já reconhecem isso, foi um processo que levou muito tempo. Como consequência, hoje, os pretos vestem mais roupa do que os brancos. Mas há outro exemplo de que gosto muito ao falar dos valores da cultura africana. Para o europeu, o corpo da mulher é um lugar de pecado. A criança é batizada em nome do pai e do filho, e a mãe que a pariu e que durante nove meses a carregou é completamente excluída, porque o lugar dela é o do pecado. Em Moçambique, as mulheres mais coloridas, as que cuidam mais do corpo, são as do norte, de Nampula. A razão — simples e complexa — é que, na cultura local, o corpo da mulher é o lugar do sagrado, porque guarda dentro de si as sementes da eternidade. Hoje estamos nestas guerras, nestas lutas pela libertação e pelos direitos da mulher, mas esse é um valor que nós, na cultura africana, já temos. As mulheres daquelas regiões são umas verdadeiras flores, por causa deste aspeto cultural.
Mas quando houve a invasão — porque não houve comunicação, muito menos negociação, e sim supremacia de um sobre o outro — cada um dizia as asneiras que queria. Concluindo: todos os povos têm valores, é preciso negociar.
Não é preciso agredir.
Falamos de mulheres, e o júri do Prémio Camões destacou o papel que lhes tem dado nos seus romances, a discussão do que é o lugar do feminino africano e a evolução desse lugar — estou a pensar no livro “Niketche”.
Gostava de a ouvir falar sobre isto.
Por vezes, quando as africanas falam da questão das mulheres, colocamos preconceitos dos outros sobre nós mesmas, porque desconhecemos as raízes da nossa identidade. Nós, mulheres africanas, não conhecemos as raízes da nossa identidade. E tem de haver um trabalho muito profundo e de muita coragem para resgatar a nossa própria história. A mulher africana tem um passado de grandeza. Falemos do Egito, onde tivemos uma rainha poderosíssima, de uma dimensão intemporal, que é a Cleópatra. Depois tivemos a rainha de Sabá, originária da Abissínia. E fomos tendo figuras femininas de relevo. Um dos últimos monomotapas aqui da região tinha no seu exército uma guarda feminina, que fazia parte da tradição banto. Quando os colonos chegaram, seja o colonialismo árabe ou o europeu, disseram: pobres mulheres, estão a ser usadas e abusadas por esses homens poderosos.
Depois houve a cristianização, a islamização, e as mulheres passaram a ficar na cozinha. A tradição da mulher guerreira não é nova na nossa história.
E na história da escravatura, no reino de Daomé, tivemos um dos piores exércitos da caça de escravos — e esse exército era feminino. Portanto, tudo o que eram valores intrínsecos foi retirado, e a mulher foi posta na cozinha, em nome da civilização. O que é que a literatura europeia diz sobre a rainha de Sabá? Que era bonita, que ofereceu 80 sacos de ouro ao rei Salomão e que este se apaixonou por ela. Ora, se tinha tanto ouro, tinha poder, tinha exércitos, tinha uma estratégia de governação, mas os livros só referem que era bonita.
O mesmo se passou com Cleópatra, por quem Júlio César caiu de amores.
Mas aquela mulher governava o Egito, conduzia carros de guerra, enviava caravanas diárias de trigo para o Império Romano. Falar disto é falar da história de África, da mulher africana. Porque a ‘modernice’ de se colocarem mulheres no exército já era uma prática comum neste continente.
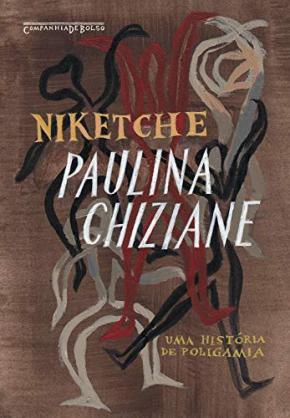 “Niketche” é uma história da poligamia. Porque é que o escreveu?
“Niketche” é uma história da poligamia. Porque é que o escreveu?
Não procurei este livro, ele veio ao meu encontro. Eu estava sentada na minha varanda do segundo andar, na Zambézia, quando vi uma confusão de rua.
Duas mulheres insultando uma terceira com aqueles palavrões de peixeira.
Fiquei atenta, porque aquilo se passava na casa em frente da minha. A senhora que ali vivia tinha um bebé de uns três meses. E as outras diziam-lhe: “Viemos informar que nós também somos mulheres do teu marido. Enquanto estavas na maternidade, era connosco que ele vivia.” Achei aquilo estranho, peguei no telefone, liguei para o meu vizinho e contei-lhe o que estava a ver.
Ele veio a correr e, ao chegar, viu as três mulheres juntas a discutir e a insultar-se.
Virou-se e desapareceu. Fiquei muito zangada com este homem e não falei com ele durante uns dias. Uns meses depois, quando dei por mim, já estava a escrever os palavrões e toda aquela confusão, e o livro saiu. Aproveitei para confrontar as culturas do norte e do sul de Moçambique, que são muito diferentes.
É do norte ou do sul?
Sou do sul, de Gaza, a província mais machista do país. E fui trabalhar para a menos machista, que é a Zambézia e Nampula, onde os homens são menos agressivos e menos possessivos.
Noutro livro seu, “O Alegre Canto da Perdiz”, põe o dedo na ferida das questões raciais. Nele, a personagem de Delfina quer ter filhos brancos, “para aliviar o negro da sua pele como quem alivia as roupas do luto”. É um livro duro, que fala da violência dos negros contra si próprios, certo?
Essa é outra história verídica. Conheci uma senhora que era mulata e que tinha uma empregada preta. Um dia descobri que as duas eram irmãs.
Apanhei um susto. O que se passava é que a filha preta ficou no papel de empregada doméstica da filha mulata, nascida do segundo marido da mãe. Esta história levou- me a querer compreender melhor essa coisa chamada racismo. Porque muitas vezes pensamos que o racismo é aquilo que o branco faz contra o negro. Mas, numa situação de colonização de 400 anos, em que o negro perdeu a sua identidade e se renega a si próprio, é muito normal encontrar casos como este. São casos comuns na província da Zambézia, que é a província com maior miscigenação, e na de Nampula.
E o que é o racismo? Quem o promove? Estamos num país independente, livre, mas ainda não estamos livres dos preconceitos do mundo.
Veja só: hoje as mulheres, sobretudo as jovens, sentem-se mais bonitas se puserem extensões no cabelo, o que é uma tentativa de ter o cabelo de um branco. Isto é uma prova de autonegação muito evidente. Por vezes digo-lhes, a brincar mas a sério: cabelo é corpo, este é o teu corpo. Porque é que o negro ou a negra tem de procurar ser aquilo que jamais será? E quando é que vai sentir orgulho em ser quem é?
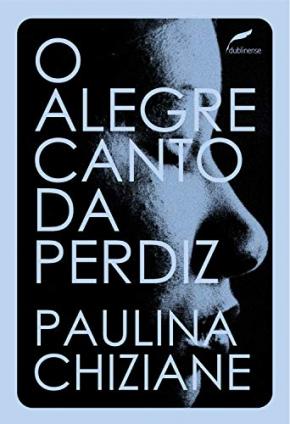 No fundo, reverter a colonização mental e identitária. Tem dito que o mundo nunca quis saber o que África tem para lhe ensinar. Que coisas são essas, hoje, no século XXI?
No fundo, reverter a colonização mental e identitária. Tem dito que o mundo nunca quis saber o que África tem para lhe ensinar. Que coisas são essas, hoje, no século XXI?
Não só no século XXI, mas no milénio.
África é virgem, completamente virgem. Quando a colonização chegou, decepou os ramos da árvore.
Houve muito sofrimento, mas não houve tempo para parar e perceber que este indivíduo é um ser humano e que tem as suas raízes escondidas no chão. Essas raízes, aos poucos, estão a dar forma a uma nova árvore, que é uma nova África. Podemos falar da nossa fauna, da nossa flora, do nosso subsolo. Como natureza, temos aquilo que o mundo inteiro ambiciona, mas todos os dias somos bombardeados com ideologias da supremacia do outro.
Temos uma terra, um mar, temos tudo. E é por isso que as grandes potências não se querem afastar de África.
É preciso despertar a consciência desta nova geração de africanos para continuar a lutar pela sua dignidade, pelo seu espaço — um espaço que, a cada dia que passa, está a ser usurpado.
Este é um tema que me apaixona, e eu uso a literatura para contribuir para esse despertar. Temos muito para dar ao mundo, e o mundo desconhece-nos, ou melhor, julga que sabe o que não sabe. Os livros escritos sobre nós pelos europeus podem até ser bons livros, mas falam daquilo que eles entendem que nós somos.
Um exemplo disto é o feminismo: querem implantá-lo em África, como se por cá isso fosse novidade. Mas, veja, não há continente que tenha sofrido uma sangria como o continente africano. Os melhores filhos de África foram vendidos, e quem ficou para tomar conta deste espaço foram as mulheres. Choraram, sofreram, mas não desistiram. A mulher africana tornou-se a pedra basilar da construção deste continente. A construção de África é feminina. Então, claro que eu preciso de saber a história das mulheres da Europa e dos Estados Unidos, claro que aprendo com a sua luta, é cultura, mas, se quer saber como se luta e como se resiste, o mundo tem de se ajoelhar perante as mulheres africanas. E pedir perdão.
Entrevista originalmente publicada por EXPRESSO 15/1/2022.