Arriscar aquilo que abre caminhos, entrevista a António Pinto Ribeiro
Como passa da dança para as questões interculturais e pós-coloniais?
A relação não é directa nem casual. Acontece que, depois da minha formação em Filosofia, na especialidade de Estética, fui convidado para criar um campo de estudos teóricos na recentíssima Escola Superior de Dança. Aceitei e pensei “vamos lá estudar”. E foram anos de leituras compulsivas sobre tudo o que havia sobre dança, corpo, coreografia. Poderia ter sido cinema, literatura, artes visuais, teatro que foram sempre áreas do meu interesse. A dança funcionou durante anos como a ponta de um iceberg. Depois, uma enorme curiosidade que me é própria, levou-me a ver espectáculos, filmes, concertos que não eram necessariamente da tradição ocidental e branca, o fascínio pelo continente africano e pelas questões de cultura e de ideologia a elas associadas conduziram-me ao multiculturalismo; inicialmente, diga-se, de uma forma muito inocente.
É o seu método de trabalho, uma curiosidade de abertura ao mundo?
Mais do que método, é uma forma de estar que tem consequências muito produtivas. Mas também estou em crer que, a determinada altura, uma certa fisicalidade e corporalidade presentes nestas experiências evocaram a minha infância e adolescência em África, o que me motivaria a revisitar alguns países africanos.
 António Pinto Ribeiro. Fotografia de Malick Sidibé.Até então como lidava com essas memórias?
António Pinto Ribeiro. Fotografia de Malick Sidibé.Até então como lidava com essas memórias?
Eram memórias muito gratas, associadas sempre a momentos de alegria e quietude como creio que são as de todos os que viveram a infância nas cidades cosmopolitas de Luanda e de Lourenço Marques. A consciência da guerra colonial e da problemática a ela associada, bem como do colonialismo só aconteceu já no final da adolescência em Lisboa aquando da Revolução. Por isso, nesta necessidade de revisitar o passado estava também implícita uma outra consciência política e, sobretudo, uma consciência de labor cultural.
Já havia um debate sobre o pós-colonial nalguns países europeus.
Vi em 1989 a exposição Les Magiciens de la Terre que foi determinante nos meus interesses, pela abordagem aos estudos de cultura e pós-coloniais, matérias pouco conhecidas em Portugal na década de 80.
A nenhuma alusão a estas questões em Portugal certamente prendia-se à história dos portugueses com África…
A problemática era de difícil abordagem. Portugal tinha deixado de ser um império colonial há pouco mais de uma dezena de anos e as universidades estavam muito enfeudadas a uma tradição de estudos de contornos muito etnocêntricos. A própria situação das comunidades imigrantes africanas estava longe de ser o que é hoje. Havia uma invisibilidade de natureza racista que não deixava ver estas comunidades. Recentemente estive a ler o manifesto programático da Culturgest, escrito em 1992, e as questões da interculturalidade e pós-coloniais já faziam parte das linhas orientadoras, ainda que de uma forma muito naif. Mas foi um dos aspectos mais importantes no eixo dessa programação e que conduziria o meu trabalho, quer o de natureza de programação, quer o de investigação. Ao reforçar esta minha pesquisa, foi-me possível conciliar um lado de programação de obras de arte e de culto não ocidentais, recusando sempre a ideia do artesanal e folclórico.
(longe de ser condescendente, também era preciso ter em conta que os modos de produção são outros e integrar as obras nos seus contextos)
Permitiu a apresentação de uma programação que tem a ver com outra contemporaneidade. E isso era preciso explicar e contextualizar. Esse lado de pesquisa e investigação, com os contributos das teorias sobre os géneros e pós-coloniais, foi muito importante. Mas sempre tentei evitar qualquer tipo de gueto, de nichos discriminatórios.
 Capa do programa Distância e Proximidade, 2008.E parece-me que incluir reflexão e não apenas divulgação é uma linha muito sua… Sempre se interessou por cruzar o mundo teórico com propostas artísticas?
Capa do programa Distância e Proximidade, 2008.E parece-me que incluir reflexão e não apenas divulgação é uma linha muito sua… Sempre se interessou por cruzar o mundo teórico com propostas artísticas?
Acho essencial, em todas as instituições, que a linha de programação seja comunicada. No meu entender a programação cultural decorre de um contrato entre os públicos e os artistas ou os autores. O programador é um mediador mas, nesse contrato que faz, deve anunciar aos parceiros a sua missão, as suas opções e a razão das mesmas. A programação cultural baseia-se numa linha de argumentação cujo destinatário é um auditório tendencialmente universal. Por outro lado, os públicos devem ter acesso a chaves de aproximação ao que lhes é apresentado, o seu modo original de produção, se já foi apresentado noutro contexto, etc. Torna tudo muito mais claro e resgata a legitimidade que não teria se não fosse devidamente informado. Isso pode ser feito de forma interessante e criativa. A programação cultural é uma actividade fascinante que tem tanto de risco como de fruição e de partilha raras. Mas exige uma atenção permanente e um cuidado com os públicos, artistas, formadores de massa crítica e uma vigilância permanente sobre o poder que se adquire nesta actividade. É fulcral uma auto-crítica permanente que não permita que se substitua ao artista nem ao público, sem contudo ceder a gostos massificadores ou à pressão daqueles que acham que representam os artistas.
Nos primeiros tempos houve resistência às suas sugestões mais fora do cânone ocidental?
Não houve, de facto, um entusiasmo inicial. No imediato teria sido mais fácil seguir modelos de sucesso já existentes. A médio prazo teriam falido. Recordo situações difíceis como em 1995. Na Culturgest propus, com o António Loja Neves, o primeiro grande ciclo de cinema de África, eram 114 filmes, desde os primórdios aos mais actuais. Lembro-me de entrar uma noite no auditório e estarem apenas nove pessoas a ver um filme extraordinário. Fiquei estupefacto sem perceber porque aquilo não seria interessante para os públicos. Acho que por várias razões: era o início da Culturgest; no imaginário das pessoas África correspondia, para uma determinada comunidade magoada e traumatizada, a alguma coisa que não estavam interessados em reviver; para outros, por manifesta ignorância, a amadorismo - de África não esperavam grande coisa. Havia preconceitos e falta de práticas que inibiam a adesão. O Miguel Hurst queixava-se de que não havia teatro africano e eu disse-lhe “tome lá as condições de produção mínimas e crie uma companhia e faça uma peça”. Fez o Museu do Pau Preto e depois foi viver para Angola e a companhia acabou. Ou seja, estava tudo por criar, não havia uma comunidade africana em Portugal que se assumisse e explicitasse como massa crítica e artística. Penso que hoje a situação está incomparavelmente melhor. Mas é justo mais uma vez afirmar o apoio permanente da administração da Culturgest de então nesta programação de risco e minoritária.
Desde esse início até ao Próximo Futuro de hoje, percepciona grandes diferenças a nível da recepção?
Não há comparação. Mas tem a ver com as dinâmicas da globalização, com as dinâmicas culturais de Portugal, com as mudanças no mundo. O estatuto que a música africana, mais ou menos electrónica mais ou menos revivalista, tem nas agendas da dança e djs é um fenómeno impressionante. Isso teve uma importância enorme na captação de novos públicos. E há hoje uma visão menos “rasta” da música africana que consegue atingir outro público, capaz de gostar de coisas norte-americanas, europeias ou brasileiras e que consegue conciliar modernidade com África.
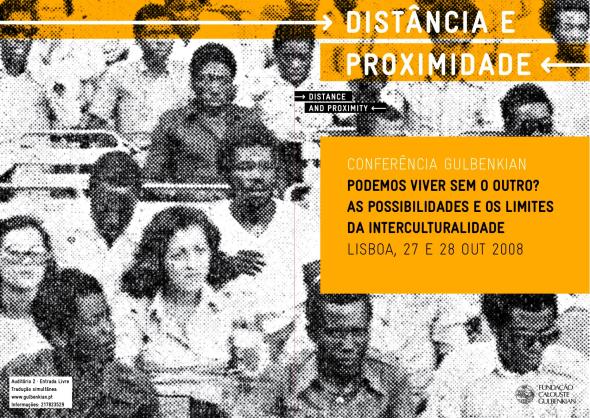 Capa programa Podemos Viver sem o Outro, 2008. Imagem de Yonamine.
Capa programa Podemos Viver sem o Outro, 2008. Imagem de Yonamine.
A interculturalidade já é um discurso vigente mas ainda funciona um pouco como “moda”, pouco problematizada na vida comum e nas manifestações culturais que, em certa medida, recusam-se a confrontar os aspectos conflituosos. Qual é a sua postura diferenciadora da típica abordagem institucional e despolitizada ao intercultural?
Não tenho nada a ideia de uma cultura abrangente, homogénea e pacificadora. Não há sequer cultura mas, sim, culturas que estão em confronto, em conflito e por vezes em diálogo. Uma determinada expressão cultural resulta de uma expectativa que um grupo tem em relação à cultura e ao mundo mas também na sua carga hereditária, naquilo que os anglo-saxónicos chamam, e bem, heritage. Naturalmente que, por tradição ou expectativa, muitas destas culturas e grupos entram em conflito. Pode ser produtivo, desde que se assuma isso como algo normal que faz parte da democracia. À medida que há negociação entre grupos e expressões culturais, onde a intervenção na cidade, a política e questões sociais não podem ser substituídos pela cultura, encontramo-nos numa situação democrática e rica. As produções culturais devem traduzir isto.
O que é para si a verdadeira interculturalidade?
No mais vasto conceito, a interculturalidade pode constituir uma estratégia de negociação cultural que conduz à construção de um projecto político de transformação das sociedades multiculturais. E alguns equívocos ou afirmações demagógicas são desde já de evitar. O primeiro de todos é o de que a cultura e pela cultura se resolvem os conflitos e os antagonismos. Nada de mais errado. A cultura pode constituir uma plataforma de aproximação, um modo negocial, mas nunca resolverá os grandes antagonismos, as grandes diferenças de interesses. Em caso algum, devemos pois deslocar para a cultura os problemas específicos das esferas da política, da economia e da religião. O segundo equívoco é pensar que a cultura é um bem e que, per si, contagia de bondade toda a acção humana. No que uma estratégia intercultural pode ser útil é no esclarecimento, tornando claros os conflitos e as suas razões, mas nem sempre eliminando-os. Aliás, a interculturalidade não pressupõe um reino definitivo da paz, inclui sim a possibilidade de tensão desejavelmente produtiva. Um último equívoco que se coloca é o que tende a divorciar os fundamentos culturais dos religiosos ou, pelo contrário, reduzir ao religioso. Desde T.S. Elliot pelo menos, que devemos saber que as culturas estão impregnadas de religião, o que se reflecte na produção cultural. E é assim que podemos falar de uma cultura cristã, presente mesmo em autores laicos, ou de artistas hindus e que, portanto, a interculturalidade transporta sempre traços de interreligiosidade.
 Capa Jornal Próximo Futuro, n 1, fotografia de Pieter Hugo.Um quarto é aquele que concebe o interculturalismo como um diálogo entre blocos culturais homogéneos, em que todos os membros de uma cultura se identificam de uma forma absoluta. Na verdade, não existem blocos culturais homogéneos, e na mesma região cultural há ricos e pobres, mulheres e homens. E as pessoas identificam-se e agrupam-se também por clubes, orientações sexuais, associações profissionais, o que permite, por um lado, estabelecer pontes de comunicação entre regiões culturais diferentes e, por outro, encontrar fissuras entre membros das mesmas regiões.
Capa Jornal Próximo Futuro, n 1, fotografia de Pieter Hugo.Um quarto é aquele que concebe o interculturalismo como um diálogo entre blocos culturais homogéneos, em que todos os membros de uma cultura se identificam de uma forma absoluta. Na verdade, não existem blocos culturais homogéneos, e na mesma região cultural há ricos e pobres, mulheres e homens. E as pessoas identificam-se e agrupam-se também por clubes, orientações sexuais, associações profissionais, o que permite, por um lado, estabelecer pontes de comunicação entre regiões culturais diferentes e, por outro, encontrar fissuras entre membros das mesmas regiões.
A interculturalidade não é, pois, uma ideologia. Como estratégia, é uma forma inovadora de conviver e co-habitar nas sociedades contemporâneas, com a diversidade de grupos culturais e étnicos. De algum modo, é o estado mais evoluído da democracia mas, tal como esta, exige uma construção permanente e diária. É importante reconhecer igualmente que a interculturalidade faz-se a partir de vários pontos de partida, e não pode resultar de uma legislação ou normatização regrada apenas pela comunidade que acolhe. Supõe, por isso, uma negociação cultural cujo limite é a rejeição de todo e qualquer sofrimento infringido a alguém, a exclusão social, religiosa ou sexual.
Finalmente, tanto ou mais importante do que o já existente património cultural das diásporas, é admitir e até estimular a combinação cultural e o sincretismo que constituem o melhor índice de interculturalidade contemporânea. Só uma prática cultural e um programa político que combata o ressentimento face ao passado e privilegie o futuro tem a ver com a interculturalidade e a sua prática.
Ao encomendar os filmes do Tão Perto e Tão Longe, para resgatar o percurso dos objectos, remete para a lacuna na memória dos próprios povos de onde os mesmos surgiram. Com assimilações e transformações tão rápidas, perdeu-se um sentido de pertença, daí a importância do conhecimento do processo, do que foi sucedendo. As culturas não-europeias, na sua auto-estima e identidade (sem cair em nacionalismos e tradicionalismos), precisam de saber que tiveram imensa influência nos processos histórico-sociais para a própria cultura europeia se desenvolver como tal.
Há uma coisa importante: nos últimos 20 anos apareceu um conjunto de pessoas, intelectuais e artistas, a investigar a sério e a criar narrativas sobre o período colonial. Um passo tão importante quanto este seria o de serem capazes de criar narrativas sobre o período pré-colonial. Que está esquecido. É preciso resgatá-las, porque as do tempo colonial são narrativas de perda permanente, do período pré-colonial são da maior elevação. Tudo o que eram príncipes do Benim, as riquezas, a costa até ao Congo, a Líbia que originariamente queria dizer África e os etíopes que era um termo que designava todas as pessoas de pele negra…
A História da África Negra do Elikia M’Bokolo mostra como o período colonial é apenas um capítulo dentro de uma imensa e grandiosa história. É preciso conhecer a fundo estes outros tempos, até porque as narrativas mais recentes e a necessidade de inventar heróis tendem a construir-se sobre muitos equívocos de supostas tradições.
É muito importante criar modos e centros de investigação sobre as percepções e representações de África, quer a partir do exterior, quer do seu interior. Há todo um universo de factos, narrativas, representações a descobrir e construir e que agora podem ser finalmente elaboradas e será concerteza intelectualmente fascinante.
 O seu livro É Março e é Natal em Ouagadougou (Cotovia, 2010) inscreve-se num registo empirista de notas de viagem, sugestões, sensações… Quando chega a uma cidade, quais são as primeiras coisas que procura encontrar, de diferença e reconhecimento?
O seu livro É Março e é Natal em Ouagadougou (Cotovia, 2010) inscreve-se num registo empirista de notas de viagem, sugestões, sensações… Quando chega a uma cidade, quais são as primeiras coisas que procura encontrar, de diferença e reconhecimento?
Quando não conheço não procuro nada. De uma forma geral costumo-me informar antes sobre a cidade: autores, filmes, paisagem, lugares. Posso já chegar com um certo imaginário e fantasias construídas, mas são as pessoas e situações no local que decidem a impressão com que regresso porque hoje regressa-se sempre, não é verdade? O contexto de viajar em trabalho é produtivo porque se trata de situações reais, nada a ver com o turista perdido, deslumbrado ou desgostoso. É a própria cidade que me estimula a escrever num ou noutro sentido.
Há uma linha de continuidade nas suas viagens?
São viagens de trabalho relacionadas com o universo cultural, e as cidades têm os seus circuitos, seja em Burquina Fasso ou em Santiago do Chile há uma livraria, cinema, palestras, e cidadãos da rua, o que me fascina muito. As zonas rurais já serão muito diferentes.
Pode ir a Buenos Aires, Tóquio, Xangai, Rio e chamam-lhe a atenção os elementos comuns da cultura urbana, o café, a livraria, a sala de espectáculos…
As estruturas urbanas até podem ser semelhantes mas as maneiras como são vividas e ocupadas são diferentes e é dessa diferença que resulta a condição de se ser viajante. Uma livraria na Amazónia é uma livraria mas não tem nada a ver com uma livraria convencional de Paris. Existe uma diferenciação nas estruturas mais formais, a forma como se organizam, como atendem, e são as pessoas, o seu modo coreográfico de ocuparem a cidade, que continuam a marcar. E ainda há os chamados choques culturais. Viaje para o interior da China e sentir-se-á perdida apesar do I-phone, do I-pad e do domínio do inglês. As estruturas culturais, na sua profundidade, são muito lentas na sua mudança.
Que cidades o surpreenderam mais?
Depende da recepção, das experiências emocionais, do maior ou menos grau de estranheza ou de habituação, das pessoas com quem convivi… Talvez o Rio de Janeiro me tenha marcado inevitavelmente. E Santiago do Chile e a Cidade do Cabo, enfim…
Expressa um certo incómodo com os turistas culturais, visitantes de festivais, por exemplo no Fespaco (em Burquina Fasso), que revelam um paternalismo desajustado para com aquilo que corre mal em África. Como se contorna essa atitude sem cair no reaccionarismo?
É preciso ser exigente. Perceber o contexto e ser exigente em função disso. Há coisas que não posso exigir em Ouagadougou como se estivesse em Berlim, mas tenho direito e o dever de exigir a dignidade em qualquer parte do mundo. De facto não pactuo com a condescendência nem com o paternalismo de contornos sempre muito coloniais.
 fotografia de Kader Attia na exposição Fronteiras, 8º Encontros de Fotografia de Bamako, até 28 de Agosto na Gulbenkian
fotografia de Kader Attia na exposição Fronteiras, 8º Encontros de Fotografia de Bamako, até 28 de Agosto na Gulbenkian
A nível de políticas culturais com estes países, quais são os piores defeitos da cooperação?
Não há qualquer política cultural.
Os Centros Culturais, provenientes do período cultural, enquanto mecanismos de controlo, de representações nacionalistas e promoção da língua, em alguns casos conseguiram transformar-se em plataformas interessantes de produção articuladas com artistas locais, mas é muito raro. Porquê?
O que acontece na maior parte das situações em África é que os grandes centros culturais das cidades são a única coisa que existe, então a responsabilidade é grande. Depende muito do director do centro: quando as pessoas são activas, interessadas, inteligentes, cultas as coisas correm bem. São as únicas plataformas possíveis de entendimento entre os artistas e intelectuais que lá se encontram e o lugar para apresentar produção local. Acho fulcral que os Centros Culturais Portugueses, por exemplo, possam apresentar programações de França ou Itália como o reverso também deve ser válido pois, afinal, são o lugar de apresentação das produções africanas. Não é o que acontece, normalmente são coisas bacocas, nacionalistas e anacrónicas. Nos casos dos Centros Portugueses as pessoas estão lá há 15 anos sem relação com a cultura contemporânea portuguesa a representar uma portugalidade que só existe na cabeça deles, e sempre se sentiram estranhos no país onde estão. Com excepções, é certo.
Isto parte de um problema maior de não haver articulação, nem estratégia, nem investimento. Como experiências interessantes, refere o caso da política cultural brasileira. O que temos a aprender com o Brasil nesse capítulo?
Imenso, a capacidade que eles tiveram de criar organizações intermédias entre as grandes instituições e o nada. Os Pontos de Cultura foram das coisas mais interessantes pois correspondem à escala do lugar onde foram instalados, às necessidades com um elevado grau de exigência.
Sim, estamos no meio do Acre e no Ponto de Cultura disponibiliza-se equipamento para filmar e computadores, tudo isso também impele a um aumento da qualidade…
Temos a aprender a nível de uma coisa impressionante que eles descobriram: um país precisa de ter imagens de si próprio, um país precisa de se auto-representar e o melhor mecanismo é o cinema. Portanto, o investimento em cinema não é ingénuo.
E assim passaram de oito longas-metragens por ano para mais de cem actualmente e com presença regular de filmes brasileiros nas salas de cinema.
E os festivais, o enorme apoio à produção e distribuição. Depois outro aspecto: criaram a cadeira de história da presença negra no Brasil. Tiveram de formar 20 mil professores, reforçaram no Canal Futuro, acompanham estas situações. Mostram capacidade de ousar, tentar, arriscar…
Não têm tanto o nosso cinto da razão.
Nós somos demasiado agrilhoadas, vá-se lá saber a quê…
Que mais-valia a cultura da mobilidade em que vivemos traz ao contexto cultural português, na criação de pontes, co-produções? Há alguma estratégia ao mandar-se as pessoas para fora?
A ideia de que as pessoas têm de viajar e confrontar-se com outras culturas é o legado mais interessante do Iluminismo europeu. Esta geração de hoje, a Erasmus, é muito mais rica em termos de experiência cosmopolita do que anteriores. São experiências individuais, muito pouco será programático, mas sobre eles deixou de existir o estigma do “estrangeirado”. Quanto aos programas Inov, a ideia é muito válida e generosa, mas na maioria deles a estratégia está errada, nomeadamente no que diz respeito aos processos de avaliação do estágio e sobretudo no desaproveitamento que se faz no regresso dessas experiências no estrangeiro.
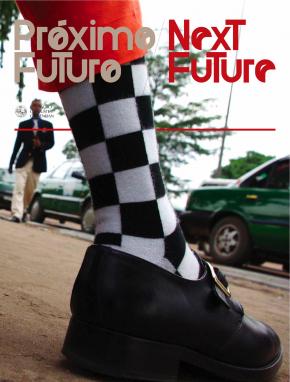 Capa Jornal Próximo Futuro, n 6, imagem de Baudouin Mouanda.Voltando à sua programação, continua a equilibrar a produção europeia com estes estímulos de fora, que nos fazem repensar o nosso próprio esgotamento criativo.
Capa Jornal Próximo Futuro, n 6, imagem de Baudouin Mouanda.Voltando à sua programação, continua a equilibrar a produção europeia com estes estímulos de fora, que nos fazem repensar o nosso próprio esgotamento criativo.
Acho que é muito estimulante. Houve uma fase em que a programação era para dar visibilidade a produções não europeias que mereciam ser vistas. Essa fase foi bem cumprida. Mas queria que concebêssemos como um lugar em que se criasse coisas novas a partir do que já foi a sua História, já não se trata de montra e mostra, implica ter um público e comunidade de artistas que olhe para isto de uma maneira diferente. Estou muito grato com o facto de o jardim Gulbenkian se ter tornado lugar de deleite de chineses, ucranianos, e que pessoas muito jovens tenham perdido o medo de frequentar lugares de cultura.
É preciso deixar de sacralizar os espaços culturais…
É uma possibilidade de ter uma comunidade artística que partilha daquilo como estímulo à produção, para além de um primeiro grau de curiosidade…
No que toca à responsabilização dos artistas, consegue distinguir os que são permeáveis às agendas e temas de modismos dos que realmente têm algo a dizer?
Faço um esforço para que isso aconteça. Tenho muita consideração pelos artistas, acho que são imprescindíveis a qualquer cidade e comunidade, têm uma enorme responsabilidade, pois lidam com emoções e fragilidade humana. Mas a minha relação com eles é prolongada no tempo, é de acompanhamento, não desejo ter qualquer tipo de intimidade com um artista só porque ele é artista. Interessam-me as obras, os discursos, os processos, não me interessa a sua privacidade; claro que há sempre relações que ultrapassam a dimensão laboral.
A seguir ao programa Próximo Futuro*, que acabará este ano, o que vai fazer?
Não faço ideia: continuarei concerteza a dar aulas nas universidades, se possível, a escrever. Entretanto pedi à administradora do pelouro que a Fundação fizesse uma avaliação do Programa, algo que é fundamental, veremos…
*tem início a 12 de Maio na Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
António Pinto Ribeiro nasceu em Lisboa.
A sua formação académica foi feita nas áreas da Filosofia, Ciências da Comunicação e Estudos Culturais. É nestas áreas que tem desenvolvido o trabalho de investigação e de produção teórica publicado em revistas da especialidade. É professor-conferencista de várias universidades internacionais. A par da sua actividade de investigador e de professor tem tido uma prática de programação artística e de gestão cultural com a organização de vários programas, festivais e exposições nacionais e internacionais.
Foi director artístico da Culturgest (centro cultural em Lisboa) desde a sua criação, em 1992, até Abril de 2004. Foi programador geral do fórum cultural O Estado do Mundo (2006/2007) na Fundação Calouste Gulbenkian, coordenador do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística (2004-2008) e programador geral do Programa Gulbenkian Distância e Proximidade (2008). Actualmente coordena o Programa Gulbenkian Próximo Futuro, até 2011.
Da sua obra publicada destacam-se: A Dança da Idade do Cinema (1991), Dança Temporariamente Contemporânea (1994), Por Exemplo a Cadeira – Ensaio Sobre as Artes do Corpo (1997), Corpo a Corpo - Sobre as Possibilidades e os Limites da Crítica (1997), Ser Feliz é Imoral? - Ensaios Sobre Cultura, Cidades e Distribuição(2000), Melancolia (romance, 2003), Abrigos - Condições das Cidades e Energia da Cultura (2004), À Procura da Escala - cinco exercícios disciplinados sobre cultura contemporânea (2009) e É Março e é Natal em Ouagadougou (Cotovia, 2010).