Angola de dentro para fora nas “Actas da Maianga”. percursos de reflexão sobre as guerras e o político no pensamento de Ruy Duarte de Carvalho
Sobre o que dizer
Era fevereiro de 2002. Para os angolanos um mês de um ano que para todos remete a algo, estivesse dentro ou fora de Angola, implicado mais direta ou indiretamente. Encontrei-me com Ruy Duarte de Carvalho no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, nunca o tinha visto. A pauta de nossa conversa era o projeto nacional para o desenvolvimento da cultura em Angola no imediato pós-independência. Liguei o gravador, mas havia coisas mais urgentes para falar. Ruy Duarte estava trabalhando em seu livro [“dizer da(s) guerra (s) (,) em Angola (?)”], assim com todos estes parênteses e colchetes, como numa equação matemática de difícil resolução.
Dizia que precisava voltar a Luanda, que o livro, após a morte de Savimbi, chamado por ele de o acontecimento, precisaria de complemento, já que os seus escritos baseavam-se em excertos recolhidos em sua varanda da Maianga, e ali lidos, relidos e ruminados. Era necessário voltar para Luanda, e estar lá quando o mês de março tivesse início, o mês que dizia ter sido muitas vezes decisivo para inícios ou fins, não definitivos, de conflito na história de Angola.
 A reflexão aqui proposta está no ponto de intersecção entre a entrevista de fevereiro de 2002 e o livro Actas da Maianga. Dizer da(s) guerra(s), em Angola, terminado em outubro de 2002, e que pode ser compreendido como a expressão do pensamento de Ruy Duarte, em primeira pessoa, sobre o processo político em Angola e do que ele e dele deriva. Nas palavras do próprio autor:
A reflexão aqui proposta está no ponto de intersecção entre a entrevista de fevereiro de 2002 e o livro Actas da Maianga. Dizer da(s) guerra(s), em Angola, terminado em outubro de 2002, e que pode ser compreendido como a expressão do pensamento de Ruy Duarte, em primeira pessoa, sobre o processo político em Angola e do que ele e dele deriva. Nas palavras do próprio autor:
Hei-de pulicar outras coisas que fui dizendo depois disso, fazer uma “Escrita e a Coisa Dita”, mas está em tempo, não é? E depois, quer dizer, de resto é poesia, muita poesia, depois tem antropologia – quando a coisa é feita com emoção resulta. Entretanto, fui fazendo outras coisas de antropologia pura e dura. Vai sair agora uma coisa em Luanda de caráter mais científico mesmo, entrando pelos terrenos da História, coisas que fui fazendo para congressos e outro tipo de coisas. Andei mais ou menos ocupado nesses últimos dois anos, andei muito lá pelos pastos de Angola, e portanto… os pastores… Há aí uma coisa de ficção, que não é um romance, são os materiais acumulados para um romance e depois dei-lhe a volta, não é? Saiu também, foi editado depois aqui [Lisboa], depois dos Pastores, chama-se Os Papéis do Inglês, fala de Angola, cultura de Angola, põe a coisa lá. Mas hoje escrevo uma coisa agora que isto a alteração da atualidade também me perturbou, perturbou-nos a todos, mas que era uma coisa que é reunir as notas que tenho desses anos que não entraram nos pastores, trabalhos que eu fiz lá para o Huambo em situações de guerra mesmo. E como toda a gente se permite falar de Angola e ninguém sabe o que está a falar, aqui ou em Luanda é a mesma coisa. E não estão a falar de nada que seja palpável, que seja concreto, estão a falar da Angola que existe na ideia deles, até angolanos. Há aí angolanos que não têm mais do que uns escassos meses de permanência em Angola na vida inteira e são angolanos escutados. Portanto, imagine, não dá muito. Não os vou citar porque alguns são até meus amigos, mas francamente é preciso muita coragem. E depois, portanto, falam como se a lucidez não só estão na posse dela como a determinam. Estão a falar de outra coisa qualquer, não estão a falar de uma coisa que possa ser reconhecida mas de uma coisa que se passa em sua cabeça e aquilo que convém para a sua própria carreira. Vamos lá ver, mas há casos destes aí bastantes. E por outro lado mesmo que você chegue a Luanda o desconhecimento dos intelectuais do […] em relação ao resto do país é equivalente, é total, mas também nunca saíram de Luanda e não fazem a mais pálida ideia do que se passa a 40 quilômetros.
A minha casa é em Luanda, não pode deixar de ser, mas…[…]
Estava programado para vir resolver algumas coisas minhas aqui, e estava a organizar os meus materiais para escrever uma coisa que se chamaria “Dizer da guerra em Angola”, mas “dizer da guerra vírgula em Angola” não é dizer da guerra que se passa em Angola é dizer da guerra “em” Angola. Se isto se encaminhar para uma paz, acho que vamos ter três anos… pronto, a dinâmica internacional como interna encaminha-se para esse ponto: teremos três anos de folga. Este ano ainda vai ser muito agitado, no outro começa a se situar, depois no outro preparam-se as eleições e depois ocorrem as eleições… Portanto acho que vou reconverter os meus materiais e ao invés de chamar “Dizer da guerra” chamarei “Dizer da paz”. Enfim, isso é que vai constituir a substância da coisa, mas não é a primeira vez que estamos a viver uma experiência de intervalo entre guerras, já iremos na 3.ª ou na 4.ª paz… Portanto, é altura de se extrair algum ensinamento das outras pazes, acho que é isso que eu vou fazer: eu vou agora, depois venho fazer uns exames, tenho que fazer uns exames lá no público, e vou tentar fazer isso até junho ou julho, depois volto outra vez para fazer mais um semestre, dou aulas aos arquitetos de antropologia, é engraçado também […]. (RDC, fev.2002)
O livro apresenta-se numa estrutura composicional de relato mas também de diário, uma vez que o autor fez imprimir anotações suas com letra cursiva, como forma de expressar o que pensava enquanto lia e refletia a respeito do que lia. Há, portanto, um diálogo consigo mesmo num contexto que poderia ser alienante – o da guerra –, que o próprio autor complementa com a ideia de que “escreve para melhor continuar calado”, ou seja, para se manter ativo numa situação em que se sentiu obrigado a abdicar da iniciativa.
O título do livro, em si, pode ser entendido como uma tarefa que o autor se impôs, na medida em que uma acta pode ser um qualquer texto de estilo narrativo, mas que também traz uma carga de documento em que se registram fatos, acontecimentos e resoluções saídas de uma sessão, assembleia ou convenção.
Actas da Maianga tem também os seus silêncios, que tinham tanta importância quanto o que ele dizia, e que muitas vezes habitavam as reticências. No índice do livro composto por três capítulos o primeiro intitula-se “Dizer ou não…” não parece ter sido mero acaso começar com a exposição daquilo que, à primeira vista, poderia ser tomado como uma indecisão, porque muito provavelmente não o era. O anúncio é de um aviso de que não se falará sobre todas as variáveis implicadas nos processos da guerra e da paz em Angola, seja pela complexidade do tema, ou simplesmente por vontade.
 Monumento ao soldado desconhecido, Luanda. foto Marta Lança
Monumento ao soldado desconhecido, Luanda. foto Marta Lança
Dizer ou não é a reflexão sobre o que se deve dizer, a quem e onde, pois dentro e fora de Angola não dizia as mesmas coisas. Fora de Angola, o repugnava a denúncia simples, carregada de avaliações críticas, que diminuía a trama dos acontecimentos e municia quem irá colocar-se em posição de inevitável superioridade.
Intercalam-se subcapítulos com registros e divagações de tom mais pessoal e introspectivo, por vezes poéticos, com outros mais académicos, que tratam de reflexões ligadas ao intelectual das ciências sociais e, mais particularmente, da antropologia – como o próprio autor refere “a condição de garimpeiro de sobrevivências culturais”, a quem está imposto procurar ângulos imediatos de observação, avaliação, interrogação e análise.
Na sequência, o subtítulo remete para uma expressão matemática, mas a vírgula faz todo o sentido, para marcar que se pode falar de guerra, sem Angola, embora em Angola, depois da vírgula, delimite de qual guerra se falará nos contextos de todas as guerras. Por último, nota-se o ponto de interrogação, entre parênteses, no final da frase, expressando a dúvida sobre o futuro, sobre se deve ou não dizer, ou mesmo se é em Angola, ou a respeito de Angola.
Ainda sobre a potencialidade da resolução da equação matemática do subtítulo, entendida a equação como uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas, poderíamos remontá-la na seguinte fórmula, substituindo a vírgula pela igualdade, e a incerteza do ponto de interrogação por x:
[dizer da(s) guerra(s) = em Angola.(x)]
|
dizer da(s) guerra(s) |
|
|
|
= x |
|
em Angola |
|
O dizer da guerra seria a totalidade do tema que, dividido pelo contexto específico da guerra em Angola, revelaria uma possível igualdade verdadeira. Assim, aquilo que o autor escreveu no livro também se apresenta como uma potencialidade de futuro, na medida em que x é a incógnita, o que está por ser desvendado, o porvir.
Porém, resolver uma equação é encontrar todos os valores possíveis para a incógnita que tornem a igualdade verdadeira, ou seja, há a possibilidade de múltiplos resultados. Pensamos que as verdades aqui equivalem às políticas do futuro, sobre as quais o Ruy Duarte avança hipóteses no capítulo 8, …Do meu programa, em que admite o seu “dever cívico” – enquanto intelectual orgânico que assume o seu papel como parte da sociedade, na concepção de Gramsci –,e adverte que seu pronunciamento versará sobre matéria política que seja passível de análise e de interpretação antropológica.
Para além de uma reflexão sobre o nacional e o local, Ruy Duarte de Carvalho apresenta uma Angola na sua relação com o global, com aquilo que há em comum entre os resultados produzidos pelas guerras de uma forma geral. Pensar sobre o que é global, e o que é local no global, foi tomado nas Actas como talhar a pedra seca para o encaixe, sem argamassa que pudesse ocupar o lugar de possíveis falhas – num jogo de lá e cá, do interno ao externo, e sempre de volta ao que é intestinal.
Estava preocupado, principalmente, em interpretar e compreender Angola num contexto africano, e disse-o na entrevista anteriormente mencionada:
Angola não constituiu uma configuração tão excepcional no contexto do resto da África. É uma expressão local de coisas que acontecem em toda a África. O que aconteceu em Angola, de acordo com as últimas coisas que eu estudei, e mesmo para dar aulas o ano passado em Coimbra, não é difícil verificar que mesmo em relação – nem é bem das políticas sociais – à atitude dos atores sociais em relação à questão cultural o que se passa em Angola não é muito diferente, não pode ser muito diferente do que se passa no resto da África.
No que RDC chamou de “delito de deambulação” buscava, como ele mesmo dizia, inserir cápsulas de mundo no contexto da cápsula nacional, para pensar Angola de fora e relativizada pela dimensão do mundo, de onde era possível ter diferentes eixos de direção do olhar:
A vantagem a extrair daí será a de aproveitar toda a informação, produção e agitação de ideias que aí vigora, para adaptar à nossa própria visão das coisas a percepção de uma Angola inscrita no Mundo, no Hemisfério Sul, numa África subsaariana, numa África Austral, ou na Angola fronteira entre esta e a África central, num movimento maior que não ignore as estratégias geopolíticas internacionais, e daí regresse aos problemas das viabilidades regionais, das especificidades encapsuladas, dos quotidianos concretos que definem as experiências apreensíveis através da observação e da análise. (2003, 108)
No entanto, de volta ao território, a construção teve que ser muitas vezes planejada, refletida e realizada no calor do momento, embora com todo o arsenal de conhecimento acumulado ao longo dos anos, o que lembra, guardadas as devidas proporções, a escrita de Marc Bloch em Apologia da história ou o ofício do historiador.
Bloch afirmou que “o objeto da história é, por natureza, o homem”. Ou os homens, já que o plural “convém a uma ciência da diversidade”, uma vez que “são os homens o que a história quer capturar”, e para não ser “um serviçal da erudição […] o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça”. (Bloch 2001, 54)
Assim, Ruy Duarte, em suas referências ao diário que havia feito do Huambo, em 1997, onde esteve bem qualificado como consultor nacional, se colocou no lugar do ogro da lenda, foi à caça de tudo o que era humano, e procurou capturar naquele lugar e naquele tempo o que havia de permanências, mudanças e transformações forçadas. Tinha consciência de que estava a formar memória sobre algo importante que se passava naquela paisagem, fronteira impermeável para a maioria, mas que buscava perscrutar e aferir o que a guerra havia ali produzido: as carestias, as caridades nem sempre bem fadadas, e os alinhamentos políticos efémeros. Observou como cientista social, mas a favor da reflexão sobre o que agora é passado e é história – produziu um documento e encaixou os resultados nas Actas.
Ao se colocar como narrador e personagem da própria história, nos conduziu a um universo que se mostrava para todos, mas que o autor teve coragem de enfrentar e analisar. Os consultores internacionais que ali agiam com ele, aparecem em seu livro como crianças que iniciam o aprendizado da matemática, somando dois e dois enquanto estavam frente à raiz quadrada. Ao fim e ao cabo, o que transparece é que não é que não haja fórmulas para auxiliar, mas que aquelas pré-prontas que vêm do chamado Ocidente não dão conta da realidade particularmente complexa.
Por isso recorre a Jean Copens, por exemplo, que diz na referida entrevista ter sido uma fonte de leitura, para defender uma ciência social que advenha de uma filosofia de matriz africana:
[…] a atitude dos atores sociais em relação à questão cultural que se passa em Angola nunca foi muito diferente, e não pode ser muito diferente do que se passa no resto da África. E aí eu aconselhava-lhe a ler coisas recentes publicadas em relação ao contexto da África que encontra indiretamente possibilidades numa revista francesa intitulada Politique Africaine, o número da Politique Africaine do ano passado, que é política e filosofia. Há lá dois ou três artigos, mas tem dois particularmente interessantes. Que é um do Copans […].
Enquanto cientista social, em Actas da Maianga, Ruy Duarte abandona a linguagem de gabinete, embora não se desprenda do fardo da erudição – e por isso os constantes diálogos com Braudel, Foucault, Clausewitz, Agamben, entre tantos outros –, para se aproximar de uma realidade intrinsecamente humana que possibilitasse fazer uma ciência social africana, mais do que africanista.
Quando Ruy Duarte de Carvalho se põe a pensar sobre o fazer ciência em África, em Angola, não o faz com a pretensão somente de dissecar o que já foi feito, mas também de se livrar de uma acomodante alienação que o convívio estreito com a filosofia ocidental poderia ter-lhe colocado. Escrever Actas da Maianga foi sair deste lugar para ocupar um outro: o de angolano, o do reconhecimento com aquilo que identifica como nacionalidade, como parte de uma comunidade de cultura (Anderson 1989) em contraponto ao que poderia ser um outro.
Ruy Duarte, não raras vezes e mais uma no Actas, mencionou o quanto o aborrecia ser tido, nas ruas de Luanda, como branco – categoria que considerava como minoria nacional –, ou estrangeiro, mas salientou que, quando contraposto no contexto da guerra às outras identidades, estas sim verdadeiramente estrangeiras, a questão da ambiguidade da sua nacionalidade era dissipada.
Mas, ser parte de uma minoria pode ter sido uma das razões que o levou a afirmar que algumas coisas são ditas somente quando bem assentes no próprio terreno com o qual ele mesmo se relacionava e onde se confrontava com o problema. Evitava discutir temas, independente das áreas, que pudessem estigmatizar Angola e os angolanos no exterior; cuidava para que suas reflexões não soassem como crítica banal e comezinha, que ainda acabariam dando munição para quem quisesse dali dizer mal, ou para tirar algum proveito, intelectual ou de promoção pessoal.
E aqui é possível traçar um paralelismo com aquilo que vêm pensando outros intelectuais, como M. Mamdani, T. Mkandawire, Wamba-dia-Wamba, e também Valentim Mudimbe, para quem o discurso africanista na ordem epistemológica ocidental teve como consequência uma certa deformação na apresentação das realidades sociais africanas.
A indigência imputável a esta ordem epistemológica ocidentalista se situa na ótica de querer tornar universalizável todo o saber produzido pelos diferentes epistemas ocidentais, uma vez que ela impõe cânones, paradigmas e conceitos, ocultando, de qualquer forma, a especificidade dos terrenos e a particularidade dos estudos reais.
Ainda sobre este tema, Ruy Duarte discorreu, na entrevista a mim concedida em 2002, sobre a leitura que havia feito da revista Présence Africaine, o número 1 do ano 2000, e mencionou, particularmente, os artigos de Jean Copans, que havia sido o seu diretor de tese em Paris, e já referida, assim como o de Achille Mbembe. As reflexões daí advindas aparecem nas Actas, na medida em que dizer ou não, ou o que e onde dizer, se inscreve nesta recusa de considerar como referenciais os fundamentos epistemológicos que sustentaram as construções teóricas produzidas no enclave dessa “biblioteca colonial”, ainda que a conhecesse e dominasse com profundidade. A sua crítica não recaía sobre o teor das obras, mas sobre a aplicabilidade irrestrita das categorias de análise ocidentais ao contexto africano:
[…] enquanto a própria inteligência ocidental se confronta com a constatação da falência do redencionismo iluminista, universalista, positivista, e põe em causa as próprias dinâmicas e a fundamentação da ocidentalização geral, a inteligência local adopta, adapta, assume alegremente os sinais da ocidentalização mais imediatamente redutíveis a benefícios possíveis e imediatos, mas sem ter no entanto nem tempo nem alcance para pôr seja o que for em causa. No meio de tanta ansiedade e arrogância identitárias, não há lugar para hipóteses “outras”, “africanas”, “endógenas”, passíveis de convocação para ajudar a resolver os nossos próprios problemas. […] podemos estar a fazer o jogo do outro sem mesmo nos darmos conta disso e de que poderíamos, já agora – e já que não há remédio uma vez que o único jogo é mesmo esse –, era tentar fazer o nosso. (Carvalho 2003, 160-161)
No fim de contas, essa é a base do seu programa: libertar-se do que chamou a “perpétua ofuscação”. Mantida desde muito tempo e presente na história de Angola, teve início pela bipolaridade do “nós e outros”, saída da luta pela independência; posteriormente, a da opção socialista e do modelo marxista-leninista adotado no pós-independência; e por último, a da liberalização, recorrendo à democratização como modalidade política para tentar ultrapassar o que era, e é ainda, entendido como um passado de atraso.
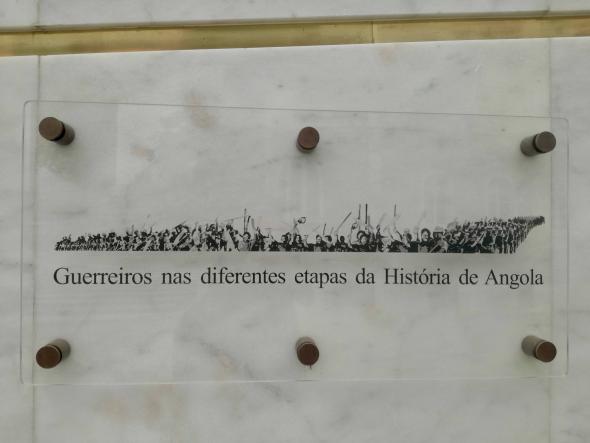 Monumento ao soldado desconhecido, Luanda. foto Marta Lança
Monumento ao soldado desconhecido, Luanda. foto Marta Lança
Compreender os percursos históricos de Angola como sendo responsáveis pelo atraso contemporâneo, bem como considerar as sociedades tradicionais como entraves ao desenvolvimento, pode acarretar uma prática política de reinvenção do país a partir de modelos experimentados com sucesso em contextos completamente distintos e que, por isso mesmo, não raras vezes chocam com as sociedades locais que mantêm seus modos de vida com poucas transformações em relação ao que foram num passado já muito distante.
Ruy Duarte contou em entrevista a sua preocupação com a salvaguarda do direito de existir das populações tradicionais e referia o embate que havia tido com as autoridades no imediato pós-independência:
[…] o que está a passar em Angola, é que havia expressões das duas posições à partida, que eram os nativistas e os nacionalistas. Logo desde o Senghor e esses sujeitos todos de Paris, da Présence Africaine, e a partir das zonas de influência que afetam Angola, e alguns dos fundadores do MPLA andaram por lá, não é? Estão lá as duas posições: uns que retornam a essa hipótese dum recurso às raízes, e que têm mais ou menos o discurso da negritude; e os nacionalistas, em que tudo é para ser traduzido em luta de classes, e que são estes que são os líderes das independências das ex-colônias portuguesas e que, portanto, até os 80, quando eu fazia filmes, se procurares os meus filmes vais encontrar filmes que tratavam de kimbandas, curandeiros, da medicina tradicional, e várias vezes fui avisado que estava a tratar matéria que não fomentava, que era fazer apologia de alguma forma, ou era dar lugar ao obscurantismo, e portanto o programa era acabar com qualquer obscurantismo. Portanto isso desenvolveu-se, era essa a linha programática que apontava, e o que se percebia que não correspondesse a isto, ou que correspondesse a alguma coisa, estava sempre sob observação por parte do poder, uma apreensão, portanto, o poder em relação às políticas culturais era a Secretaria de Estado da Cultura, teve lá o Antonio Jacinto durante um tempo, depois quem o substituiu foi o Boaventura Cardoso julgo. Portanto política cultural nunca existiu, mas tinham umas espontaneidades, assim, ideológicas, umas coisas dentro da hipótese da luta…
Na verdade, não tinha: se você visse a minha tese sobre os pescadores, Ana a Manda, tem lá uns parágrafos sobre políticas culturais e confirma a minha posição em relação a isso. Não lembro já o que escrevi, não tenho nem ideia, mas é capaz de vir isto também na A câmara, a escrita e a coisa dita, e depois quer dizer se não pudermos usar a espontaneidade e a criatividade não saímos desta coisa, realmente não há política cultural, isso sintetiza de alguma forma.
Ora bem, dentro desta perspectiva dos nativistas e dos nacionalistas o que é que isto determina? É uma boa pista aqui para o seu trabalho, para a sua orientação pessoal, sistematizar a coisa, que é sistematizar, e chega até hoje à expressão mais interessante deste momento que é o renascimento africano na África do Sul, acaba por situar-se nessa linha também, e depois portanto, o que acontece então com a liberalização, a partir de 88, etc., quando o regime, quando o poder se adapta às novas determinantes da conjuntura envolvente?
O poder em Angola, o MPLA tem tido sempre essa extrema habilidade, é que se adapta com facilidade às coisas. E como nunca teve […] do acesso ao poder, nem o MPLA nem os outros, nem em África de uma maneira geral: a luta política raramente visa além da acaparação do poder, mas desde o princípio. Não é de outra maneira, não vale a pena estarmos a dourar a pílula e pensar que tudo poderia ser de outra maneira porque não poderia. Portanto, é a partir desse momento ainda tudo quanto pudesse assemelhar-se a uma política cultural era uma improvisação permanente. Passa por outro lado que o Ministério da Cultura, a uma dada altura que a Secretaria de estado da Cultura passa a Ministério e passa a ser mais cobiçado o lugar. A primeira pessoa que foi Ministro da Cultura foi uma antropóloga, a Ana Maria de Oliveira, e dispenso-me de fazer comentários […], mas política nunca houve. O que é que acontece nessa altura? É uma recuperação para sepultar os recursos dos tais nativistas aos quais as elites recorriam antes, e portanto, quando o poder se liberaliza e a política do MPLA corresponde também a abertura para a reapropriação dos instrumentos, dos termos, dos materiais que os Africanos […]. E cabe aqui, quer dizer, aos tais atores sociais que desenvolvem certa atividade que se inscrevem nestes domínios da cultura, mas da cultura entendida à maneira ocidental […] não temos dúvidas também, não é? Quer dizer, porque esses tipos que pretendem massificar a cultura sabiam exatamente o que estavam a dizer. Porque é da cultura que devidamente é dali que faz e que se pode instrumentar também não é para ser tão determinada por aqueles que transitam diretamente de […] e desenvolvem a cultura […]. E que isso é enorme, sempre, não é? E portanto há uma recuperação de tudo isto, quer dizer: enquanto no tempo em que eu fazia filmes sobre curandeiros era acusado de obscurantista, a partir de determinada altura toda a gente passou a ter que ter os curandeiros em conta, não é? E sempre com a mesma – hoje não estou nos meus melhores dias de articulação da palavra – o mesmo totalitarismo anterior, não é?
E portanto com pessoas que tinham a sua formação que já não era muito boa, como também é muito comum e isto só lhes servia para fundamentar o acesso ao poder e a manutenção e a permanência no poder.
Não raro a integração dessas sociedades tradicionais nos novos modelos político-económicos levam à sua desorganização e até extinção. Assim, Ruy Duarte, como contraponto ao que chamou de “sacrifício de prosperidades parcelares”, propôs a “mudança original”, que consistiria em que os programas de desenvolvimento, nacionais e estrangeiros, passassem a depender dos critérios de homens saídos da mesma cultura daqueles sobre quem se pretendia incidir, auxiliando as populações locais a encontrar por si mesmas a direção de sua mudança original. Ocorreria, enfim, a passagem “do reconhecimento das diferenças ao reconhecimento das competências” (Carvalho 2003, 189).
Ruy Duarte, preocupava-se, assim como outros intelectuais africanos, como Achille Mbembe (2013), em admitir que havia cinco principais tendências que compreendiam o futuro no continente como um todo: a falta de um pensamento sobre a democracia que serviria de base a uma verdadeira alternativa ao modelo predador em vigor; o recuo de toda perspectiva de revolução social radical no continente; a senilidade crescente dos poderes; o enkystementde setores sociais inteiros e o desejo de viver em qualquer lugar do mundo que não seja o seu próprio – vontade de deserção; a institucionalização das práticas de extorsão e predação.
O que ocorreu em Angola, especificamente, foi que a democracia veio com o modelo liberal e legitimou táticas de predação, uma vez que inviabilizou o Estado-Providência quando não havia condições para o desenvolvimento do capital privado e consequente dinamização da economia; as populações dialogam com intermediários do poder que não as leva verdadeiramente em conta, como Ruy Duarte relata sobre o pouco caso que os líderes governamentais e de outras organizações fizeram da atuação dos sobas, as autoridades tradicionais; o afastamento crescente e constante das elites políticas em relação aos dirigidos, chamadas estas elites de minoria maioritária, enquanto “uma minoria que domina e logo assim se constitui, politicamente, como ‘maioritária’” (Carvalho 2003, 228).
Por fim, sobre o fenómeno da encapsulação em Angola, Ruy Duarte de Carvalho refere que há situações de encapsulação social e económica por todo o país, o que por muitas vezes produz uma “sociedade autista”, na medida em que há parcelas da população que só se vinculam a elas mesmas e entre os seus pares, que são também a sua única preocupação.
A elite dirigente somente se mobiliza por aquilo que esteja diretamente articulado à preservação e conquista do poder, alheando-se de tudo o que não passe pelos processos decisórios locais e internacionais. Decorre disto que a situação de crise promove um ambiente propício à manutenção dessa ordem de coisas, uma vez que justifica ações em que a população de uma forma geral não seja beneficiada e nem o alvo das preocupações dos dirigentes.
Ao fim, ocorreria uma espécie de afeição à crise, que se manifesta como um campo aberto a toda ordem de autismos, pois é preciso dizer que se por um lado a elite se encapsula para não enxergar a penúria popular diante das suas extravagâncias, por outro a multidão também acaba por ter uma legítima justificativa para não se organizar e reagir, colocando-se numa espécie de Síndrome de Estocolmo:
[…] a nível da direcção do país faz abstracção de tudo o que não se ligue directamente ou interfira não tanto no exercício do poder quanto na sua preservação ou conquista, alheada praticamente de todo o resto, e o resto é tudo quanto não passe obrigatoriamente pelos corredores da decisão, local e de quem, com mais poder e mando, a apoia, garantindo-lhes enquadramento nos mundos. A grande maioria da população nacional, e de uma maneira muito consequente as minorias e os numerosos contextos de especificidades locais ou grupais, vê-se assim evacuada da percepção global de que as instâncias do poder se declaram portadoras, “intérpretes e garantes”. […] tal alheamento é também, ou exactamente o das elites urbanas que aprovisionam o poder, por um lado, de agentes, de operadores, e pelo outro, quando se opõem a esse poder, é para constituir-se ainda em poder, nomeadamente aquele que pretende atribuir-se enquanto “sociedade civil”. Também para eles o espaço nacional e as remotas populações que o habitam constituem um terreno alheio, exótico e abstracto que só adquire algum sentido quando assinalados (e quantificados) pelas condições extremas da guerra e da catástrofe: escombros, terra queimada, seca, sinistrados, deslocados, refugiados, amputados ou desmobilizados. (Carvalho 2003, 106-107)
Diante desta reflexão é notável o diálogo que Ruy Duarte estabelece com a obra Império, de Antonio Negri e Michael Hardt, publicada dois anos antes da finalização das Actas. O próprio livro de Negri e Hardt se apresenta como “uma caixa de ferramentas de conceitos para teorizar e agir ao mesmo tempo no e contra o Império” (Hardt e Negri 2000, 21), sendo portanto também um programa de ação.
Nesse sentido, em Actas Ruy Duarte de Carvalho apresenta o seu próprio programa para Angola, inclusive propondo a escrita de uma nova gramática do político para o país, em referência direta à ideia de Negri sobre a adequação das categorias políticas modernas a uma pós-modernidade, ela própria categorizada pela interpenetração do económico, do político, do social e do cultural – tendo partido, portanto, da “biopolítica” de Foucault.
É sobre a potência das multidões que Ruy Duarte mais revela o seu diálogo com a obra de Negri e Hardt. O fato das multidões não serem categorizadas enquanto proletariado, como Marx o havia feito, se adaptaria melhor ao caso angolano, uma vez que a condição colonial impôs padrões que em muito excluiu os africanos do setor produtivo fabril, ao mesmo tempo que a longa duração das guerras desmantelou o pouco que havia desse mesmo setor. Assim, mostra-se importante poder categorizar a maioria dos angolanos como aqueles que trabalham, direta ou indiretamente, sob a tutela do capital, pois os inclui num movimento global de adequação e possibilidade de resistência.
A manutenção, até 2002, de uma situação que poderia parecer para muitos insustentável, justifica-se na mesma linha de pensamento de Negri e Hardt, observadas as variantes criadas por Ruy Duarte para pensar o caso angolano. O Império para se manter precisa estar em estado de exceção permanente, levando a que a política e a guerra se confundam na medida em que a guerra passa a ser o primeiro princípio de organização da sociedade.
Dizer da guerra, do seu programa, dizer da paz, deixar de dizer…
No caso angolano, Ruy Duarte aponta que a guerra instalou a crise, ou seja, um estado de exceção, e que, diferentemente do Império, em Angola a longa duração da guerra fez com que política e guerra atuassem em conjunto, criando um permanente estado de anormalidade funcional, sobre o qual se falará mais adiante.
Ruy Duarte expõe nas Actas a sua leitura sobre Clausewitz, que afirmou ser a guerra o produto de esgotamento da política, e a continuação desta por outros meios. No entanto, Ruy Duarte de Carvalho considera que esta guerra teria tido um fim menos propenso ao retorno após a morte de Jonas Savimbi, em 2 de fevereiro de 2002, uma vez que a política tinha alguma chance de dissociar-se da guerra devido ao caráter diferente das negociações que ocorriam: pela primeira vez na história independente de Angola um acordo de paz estava sendo construído somente por nacionais, e contemplando as partes angolanas envolvidas no conflito.
Clausewitz escreveu no fim do século xix, no mesmo contexto em que Napoleão preconizava a guerra até ao último homem, característica ainda existente e também vivida no caso de Angola, mas mais ainda, pós-guerras mundiais, do aniquilamento da última das forças do inimigo para colocar fim ao conflito.
Ruy Duarte certamente se deu conta da transformação da natureza da guerra desde Clausewitz, mas ele pensava a guerra em Angola como sendo, contemporaneamente, ainda fruto do esgarçamento de movimentos políticos anteriores e imediatamente posteriores à independência, das guerras anticoloniais todas, mesmo as que tiveram lugar antes de 1961. Para isto, se valeu do conceito da longa duração, enquanto concepção e não como periodização, para interpretar a guerra angolana num quadro que remonta aos primeiros conflitos do período colonial, e portanto é complexo porque tem múltiplas origens e consequências que se acumulam e recriam.
Fernand Braudel, em seu artigo “História e ciências sociais: a longa duração”, caracteriza o tempo breve como aquele “à medida dos indivíduos, da vida quotidiana, das nossas ilusões, das nossas rápidas tomadas de consciência”. Apresenta esta “massa de pequenos fatos” como constitutiva do passado, mas adverte que esta mesma massa “não constitui toda a realidade, toda a espessura da história”, e por esta razão o tempo breve apresenta-se “caprichoso e a mais enganadora das durações”. (Braudel 2011, 91)
Nesse sentido, Ruy Duarte estava em consonância com a concepção braudeliana, embora a história política tenha maior tendência a se constituir dessa massa de pequenos fatos, na medida em que a análise seria tanto mais profunda se a perspectiva não fosse episódica. Assim, o autor procurou remontar o cenário dos 27 anos de independência e conflito em Angola a partir da inscrição da guerra angolana num quadro temporal e espacial mais abrangente, conforme fica claro em sua afirmação:
[…] não estará a ver-se que a natureza profunda dos nossos problemas excede a erupção evenemencial dos períodos, das fases, dos virar de página que se sucedem, para se inscreverem antes numa continuidade e numa persistência de condições adversas à resolução desses mesmos problemas? (Carvalho 2003, 126)
Ruy Duarte de Carvalho escreveu em plena crise e chamou a atenção para o fato de que a guerra angolana não tinha vencidos, uma vez que a condenação dos responsáveis desvelava as relações entre a guerra e a política – escancarando a incompetência do alto comando e a fraqueza do corpo político. Ao fim e ao cabo, se não há vencidos igualmente não há vencedores.
Procurando analisar e compreender a guerra como um complexo político-militar, Ruy Duarte esteve no centro da vanguarda das ciências sociais, uma vez que tentava entender o funcionamento das relações entre a guerra e a vida das populações na grandeza do território. Assim, RDC buscou desfazer a confusão comum entre a ética e a política, tomando uma posição e colocando-se contra a verdade oficial e a razão do Estado ao narrar os sofrimentos impostos à população no contexto da crise.
A crise se instalou pela guerra, igualmente pelos diversos modelos ocidentalizantes que se tentaram aplicar, levando a uma permanente desestruturação, instabilidade e incerteza que forneciam argumentos aos dirigentes para manterem um estado de exceção que justificava a penúria dos angolanos.
Portanto, decorre do fim dos conflitos, um processo daquilo que foi chamado por Mbembe de lumpen-radicalismo, e que aparece nas Actasquando Ruy Duarte aborda a legitimação informal dos recursos a todos os meios, “praticada, assim, perante a inviabilidade formal do presente, […] a quem apenas importa assegurar a sua sobrevivência” (Carvalho 2003, 144).
Decorre daí igualmente o “pragmatismo bárbaro” inscrito numa lógica de guerra e de saque, de disputa de acessos, vantagens e privilégios e de apropriação pessoal de bens comuns, ou então de pura e simples sobrevivência, de adaptação e de criação de circuitos e de saídas, de resposta adequada e inventiva à incompetência, à inoperância, à arbitrariedade, e à deriva viciada do poder, dos poderes.
Num estado dito de normalidade, seria necessário abandonar a lógica do humanitarismo, da urgência e das necessidades imediatas que colonizam o debate sobre África. Da mesma forma que, enquanto a lógica da extração e da predação que caracteriza a economia política das matérias-primas em África não for quebrada, e com ela os modos existentes de exploração das riquezas do subsolo africano, registrar-se-ão poucos progressos.
A situação de anormalidade gera a cultura da sobrevivência para a maioria, mas apresenta-se como uma anormalidade funcional para uma minoria que se vale da crise para perpetuar vantagens e acumular sempre e mais, para ter o bastante e um dia faltar, ou construir-se um estado de normalidade que corte os lucros de quem se alimentava do estado de exceção.
A disputa política inaugurada a partir de março de 2002, finalmente parecia assumir contornos de condição nacional instaladas na sua própria historicidade.
No seu programa político, apresentado nas Actas, RDC reflete sobre o futuro potencial que esta nova situação poderia proporcionar. No entanto, o que era premente para o sucesso do por vir? Certamente, o preocupava a questão do Estado e da nação e, consequentemente, da identidade formada, que deveria ser levada em conta pelo Estado: da cultura, enquanto sentimento; da tradição, enquanto herança; e da história, enquanto memória; que estas fossem comuns ou ao menos articuláveis entre si, e que não dependessem tão imediatamente de estratégias pessoais ou políticas, de dominação e de hegemonias. Igualmente importante era a atenção à nação – “dado social que só se realiza na sucessão dos presentes de que se faz o curso de uma história comum que acabará por exprimir a dinâmica de uma comunidade de interesses” (Carvalho 2003, 222). Admitindo a existência de tempos históricos, tempos sociológicos, tempos culturais e tempos identitários, era necessário reconhecer os traços comuns e de diferenciação partilhados pelas populações angolanas, e a prerrogativa para o projeto de um futuro comum passava por instaurar um passado de integração que não fosse operado pela exclusão.
Portanto, era preciso “pôr a mexer”, e desta vez o futuro se mostrava como cenário potente.
A expressão “pôr a mexer”, que dá também início ao livro, era muito utilizada e praticada por Ruy Duarte. Ele próprio mexeu-se muito, e bateu-se, pela independência de Angola, por colocar no cenário as culturas do país, pelos Kuvale, na guerra e fora dela, pelo direito de falar, embora nem sempre fosse ouvido, como de resto muitos outros não o foram, não o são, ou só o foram posteriormente.
Dizia, em julho de 2001, numa conversa que teria ocorrido em Lisboa, que Angola ia mexer, embora ainda não tivesse ocorrido a grande viragem na guerra angolana, a morte de Jonas Savimbi, em fevereiro do ano seguinte. Ruy não era um visionário na acepção obscurantista do termo, mas excelente conhecedor da trajetória do país que era seu, e analista inveterado dos movimentos mundiais. Não por acaso ele menciona Galileu nas Actas.
Referia-se ao pensamento do estudioso que, na astronomia, provou, em 1604, a existência de uma nova estrela na constelação da Serpente, deferindo um enorme golpe ao sistema aristotélico, provando que podia haver mudança no céu. Na ciência do movimento, Galileu procurou explicar o movimento dos corpos na Terra móvel e estabelecer novos princípios para o movimento dos corpos em geral. Em seu trabalho De motu (Do movimento), discute as causas dos supostos atributos do movimento, como e porque o movimento natural cadente é mais rápido no final que no começo, enquanto o movimento violento ascensional é mais rápido no início. Em sua obra De mecaniche (Da mecânica), sugere que em um plano horizontal, sem atrito, um corpo conservaria seu movimento indefinidamente.
Esta digressão sobre a obra de Galileu não é sem motivo. Angola, tomada como um corpo celeste, poderia mudar, como mudou a constelação de Serpente, que se acreditava estar fixa no espaço. Depois, enquanto objeto, teve acelerações de queda e ascensão mais rápidas do que o restante de suas trajetórias, com velocidade proporcional a aderência do meio. Por consequência, num plano sem atrito, que claramente não se pode aplicar ao contexto histórico das guerras em Angola, o objeto manteria velocidade constante de movimento.
Tomada a guerra como o atrito, a partir de 2002 houve, juntamente com a perspectiva da paz, o que Ruy Duarte afirmava poder garantir e assegurar o exercício da cidadania, a possibilidade de pensar um projeto de futuro.
Frantz Fanon havia refletido, sobre o período das independências africanas, que a comunidade descolonizada se definia pela sua relação com o futuro, enquanto tempo da experiência de uma nova forma de vida e uma relação nova com a humanidade. (Fanon 1979) A pergunta que Ruy estava colocando para si mesmo, e também para quem o lê, remete à quem poderá definir outra vez o conteúdo pelo qual uma nova forma deve ser criada?
A colonização e a guerra que a seguiu justificaram a brutalidade das limitações económicas que os angolanos viveram ao longo do século xx – e que se aprofundou sob a égide do neoliberalismo –, contribuindo para a fabricação de uma enormidade de “gente sem lugar”. Para esta maior parte empobrecida, privada de qualquer certeza, não há objetivamente nada a perder, uma vez que são estruturalmente abandonados, portanto uma parcela da sociedade com a qual o Estado não sabe o que fazer.
Por outro lado, a guerra que retornou em Angola imediatamente após o primeiro processo eleitoral democrático, ocorrido em 1992, esvaziou o projeto de democracia, reduzindo-o a uma mera formalidade que sequer consolidou de fato uma eficácia simbólica, ou seja, que legitimasse o poder dos dirigentes em relação aos dirigidos.
Além desse quadro, era preciso prever que houvesse, com a paz, a capacidade de interromper o ciclo de extração e de predação, e aquilo que Mbembe posteriormente chamou de difração social (Mbembe 2013), mas que Ruy Duarte de Carvalho já notava dez anos antes: a informalização das relações sociais e económicas, a fragmentação no campo das regras e das normas, e o processo de desinstitucionalização que alcança inclusive o Estado.
Durante a guerra, com a crise instalada e o estado de exceção justificado, esta difração acabou transformando os atores sociais em tumulto – fragmentado, incoerente, anárquico; ou em massa – passiva e manipulável (Negri e Hardt 2004, 132). O que Ruy Duarte projetava é que a multidão fosse capaz de se auto-organizar, de resistir e de criar coletivamente em comum, com vias a fazer frente às privatizações.
Pela primeira vez, em 2002, os acordos para a paz seriam parte de um processo angolano. Muito antes da Guerra Fria, a descolonização já havia sido um assunto internacional, levando a que padecesse da falta de uma autonomia real. Por isso, era o momento de imaginar outras vias para um possível renascimento, e Ruy Duarte deu seu contributo, partilhou os seus projetos saídos das inúmeras vivências e leituras. O Actas é um livro vivo e atual, já que os temas que aborda e as dificuldades que aponta não foram ultrapassados ou resolvidos, e a despeito de todas as transformações permanecem as questões sobre como sair da alternativa perversa: fugir ou perecer.
A interdisciplinaridade, que foi ferramenta indispensável na leitura que Ruy Duarte fazia do seu entorno angolano e dos contextos globais, continua sendo válida para compreender o sistema em que Angola está envolvido, enquanto conjunto de elementos que se mantém pela interação e articulação. Por último, a reconstituição do sujeito a partir da libertação do assujeitamento para a construção de uma sociabilidade possível, continua sendo objeto de luta para uns e reflexão para outros. Reler os escritos de Ruy Duarte, em seu imenso anfiteatro da Maianga, é ainda uma forma de obter recursos de imaginação para um futuro não plenamente realizado fora da crise.
Busquei, como de resto Ruy Duarte de Carvalho o fazia, e atentava para o fato de que muitos não ligavam a isto, colocar-me no lugar do observado, com receio de parecer uma “meteórica visitante” que se valeu, mal, de “inconfidências reveladas em situações de hospitalidade”.
RDC anunciou, no fim do Actas da Maianga, que estava encerrando: sobre o término do livro e igualmente a interrupção de uma escrita que dizia ser de ordem programática e didática. De fato, Ruy Duarte não voltou a escrever livros com “notas de rodapé”, como ele dizia, mas as Actasficaram como um testemunho de sua recusa ao silêncio e à autocensura, que considerava como valor patriótico baseado na lógica da guerra, que camuflava a inércia confortável da anormalidade. Foi um homem do seu tempo, de itinerâncias internas e externas, partilhando, como admitiu, com o “universo inteiro a mesma história cósmica”.
Bibliografia
Anderson, Benedict. 1989. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Editora Ática.
Bloch, Marc. 1946. L’etrange défaite. Paris. Éd. Franc-Tireur.
———. 2001. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Editora Zahar.
Braudel, Fernand. 2011. “História e ciências sociais: a longa duração”. In Escritos sobre a História. 2.ª ed. São Paulo: Cosac & Naify.
Carvalho, Ruy Duarte. 2003. Actas da Maianga, Dizer da(s) guerra(s), em Angola(?). Lisboa: Cotovia.
Clausewitz, Karl von. 2010. Da Guerra. Rio de Janeiro: Martins Fontes.
Copans, Jean. 2000. “Les sciences sociales africaines ont-elles une âme de philosophe? Ou du fosterage de la philosophie”. Politique Africaine 77 . Disponível em http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2000-1-page-54.htm (acessado em 30 de novembro de 2016).
Fanon, Frantz. 1979. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
Gramsci, Antonio. 1989. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
Koselleck, Reinhart. 1999. Crítica e Crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: Editora UERJ.
Mamdani, Mahmood, T. Mkandawire e E. Wamba-dia-Wamba. 1992. “Movimentos sociais, mutações sociais e luta pela democracia em África”. In Ciências sociais em África: alguns projetos de investigação. Dakar: Codesria, pp. 63-90.
Mbembe, Achille. 2013. Sortir de la Grande Nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée. Paris: La Découverte.
Negri, Antonio e Michael Hardt. 2000. Empire. Paris: Exils.
———. 2004. Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire. Paris: La Découverte.
Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho
Marta Lança (org), Lisboa: BUALA - Associação Cultural I Centro de Estudos Comparatistas (FL-UL), 2019
ISBN: 978-989-20-8194-6
baixar o livro.