Alguns apontamentos a propósito de recentes polémicas sobre a identidade literária caboverdiana - 2
Arménio Vieira: uma fulgurante ilustração da mudança de paradigma na poesia caboverdiana
 Arménio Vieira, por Mito
Arménio Vieira, por Mito
Sublinhe-se que a mudança de paradigma no sentido de universalização e da extra-territorialização temáticas e de indagação existencial e metafísica referido por João Manuel Varela, na sua alocução de Paris, e o seu heterónimo T. T. Tiofe, nalgumas Epístolas ao meu irmão António, se tornou, no período pós-independência, opção consciente e deliberada de ruptura
i. quer com a mundividência telúrica enclausurada do homem insulado na sua resignação;
ii. quer com a palavra lapidar e rudemente imprecativa de alguma rebeldia cantalutista (tanto na acepção de poesia oficinalmente lapidada para a contestação social e anti-colonial cunhada por Osvaldo Osório no livro Caboverdeamadamente Construção, meu amor (Editora Nova Aurora, Lisboa 1977) como também na acepção mais restritiva e controversa que, na aocução acima proferida, lhe foi atribuída por João Manuel Varela como “artefactos poéticos” destituídos ou insuficientemente apetrechados da arte poética intrínseca à verdadeira poesia);
iii. quer ainda com a linguagem ínsita no chamado português literário caboverdiano, de invenção claridosa e muito usual na nossa literatura de feição telúrica (se bem que mais na prosa de ficção do que na poesia). Português literário caboverdiano, aliás, reconhecidamente muito propício, na sua pertinência identitária, à plena assunção de latas funções especificadoras da crã comunhão entre o homem e a terra islenha e, ademais, oficinalmente depurado na sua chã indumentária, no seu “vocabulário concreto”.
A opção poética de sentido universalizante acima explicitado representa um dos signos maiores da nossa contemporaneidade literária e tornou-se por demais visível não só na poesia de inúmeros vates caboverdianos dos nossos dias pós-independência, como também na prosa de ficção cultivada por alguns ficcionistas caboverdianos pós-coloniais, incluindo G. T. Didial, como já referido, um dos vários nomes literários de João Manuel Varela.
Cremos não laborar em erro se afirmarmos que, a par dos diferentes nomes literários de João Manuel Varela e de alguns poetas e prosadores deles contemporâneos e das novíssimas gerações, Arménio Vieira integra o restrito clube dos escritores caboverdianos vivos na primeira década do presente milénio que mais têm contribuído para a consolidação de novos paradigmas na literatura caboverdiana contemporânea.
 Arménio Vieira, foto de XanÉ o que comprovam o muito audível impacto e as muitas repercussões críticas que tiveram os seus dois romances O Eleito do Sol e No Inferno, tanto no que se refere à ousada reformulação das temáticas e das abordagens estéticas herdadas do telurismo claridoso e nova-largadista, como também da surpreendente dissecação das interrogações e da sagacidade do ser humano colocado ante a omnipotência e a arbitrariedade do poder, o absurdo e os paradoxos carcerários das insularidades e o suposto esgotamento da criatividade do escritor saturado tanto da cultura literária ocidental como da quotidiana omnipresença do telurismo e dos seres deambulantes desse inferno que se situa entre o “suão e a chuva”.
Arménio Vieira, foto de XanÉ o que comprovam o muito audível impacto e as muitas repercussões críticas que tiveram os seus dois romances O Eleito do Sol e No Inferno, tanto no que se refere à ousada reformulação das temáticas e das abordagens estéticas herdadas do telurismo claridoso e nova-largadista, como também da surpreendente dissecação das interrogações e da sagacidade do ser humano colocado ante a omnipotência e a arbitrariedade do poder, o absurdo e os paradoxos carcerários das insularidades e o suposto esgotamento da criatividade do escritor saturado tanto da cultura literária ocidental como da quotidiana omnipresença do telurismo e dos seres deambulantes desse inferno que se situa entre o “suão e a chuva”.
É o que também comprova a escrita poética desse “irreverente e indomável espadachim da sorte e da morte, poeta de vento sem tempo” que, na feliz caracterização de Jorge Carlos Fonseca, foi e continua a ser Arménio Vieira.
Cultor assíduo da revisitação da cultura greco-latina, a partir sobretudo da sua recusa em participar na nojenta gastronomia poética que seria a escrita de ortopoemas, necessariamente transitivos na sua degradação utilitária e na sua sempre precarizante instrumentalização político-ideológica, Arménio Vieira representa em Cabo Verde a figura do poeta - parente do gato, porque, “o espírito de um gato é como o canto de um poeta - não atende nem escuta a ordem de ninguém”. A imagem libertária do poeta e do seu ofício ressaltam não só dos poemas “um gato lá no alto” e “ser poeta”, mas de inúmeros outros poemas constantes sobretudo do caderno “poesia dois” do seu livro Poemas (ALAC, Lisboa, 1981). Não obstante a consciência de que setembro dói e sangra, isto é, de que a humanidade persiste em sofrer e em ser vítima, por vezes passiva e autocompassiva, das agruras sociais e da voracidade de quem tem ganhado e lucrado com as suas miséria e submissão, as opções estéticas de Arménio Viera decorrem da descoberta de que “ser poeta a sério implica uma espécie de suicídio” e que “é pela metaforização do discurso que se salva o pensamento”.
 Arménio Vieira, foto de XanA primeira poesia mais significativa dessa ruptura e tomada de consciência metacrítica (como a caracteriza José Vicente Lopes no estudo “Novas Estruturas Poéticas e Temáticas na Poesia Cabo-Verdiana”, in “Ponto e Vírgula”, nos 16 e 17, de 1986) consta sobretudo dos cadernos “A noite e a lira-1976”, “A musa breve de Silvenius-1971/1978” e “Poesia Dois-1971/1979” do seu livro Poemas (ALAC, Lisboa, 1981).
Arménio Vieira, foto de XanA primeira poesia mais significativa dessa ruptura e tomada de consciência metacrítica (como a caracteriza José Vicente Lopes no estudo “Novas Estruturas Poéticas e Temáticas na Poesia Cabo-Verdiana”, in “Ponto e Vírgula”, nos 16 e 17, de 1986) consta sobretudo dos cadernos “A noite e a lira-1976”, “A musa breve de Silvenius-1971/1978” e “Poesia Dois-1971/1979” do seu livro Poemas (ALAC, Lisboa, 1981).
A mesma poesia de ruptura e consciencialização metacrítica foi sendo retomada em poemas dispersos, dados posteriormente à estampa, em especial nas revistas “Ponto&Vírgula”, “Sopinha do Alfabeto”, “Fragmentos” e “Artiletra”, e, depois, integrados na segunda edição aumentada do livro Poemas com o título “Poesia Três”.
É nos cadernos “poesia dois” e “poesia três” que a indagação da liberdade existencial se torna mais premente, quer face aos “deuses terrenos” e às suas propensões tirânicas, quer em torno dos caminhos do natural impulso do homem à liberdade. É nesses cadernos (os últimos na segunda edição alargada do livro, abrangendo “poesia dois” o período de 1971 a 1978 e “poesia três” o período de 1982 a 1998 a sublinhar a intemporalidade da busca da liberdade e a sua libertação de conjunturas político-sociais, para o efeito irrelevantes) que é mais evidente o despojamento do poeta de eventuais e limitadoras gangas políticas e ideológicas.
Tal indagação começou a assumir nítidos contornos de ruptura estética e temática com o caderno “A noite e a lira-1976” (primeiro prémio dos “Jogos Florais 12 de Setembro de 1976”, cuja atribuição, aliás, foi assaz surpreendente para a época revolucionária que então se vivia em Cabo Verde). Ressaltam nesse caderno os poemas “didáctica inconseguida”, “momento”, “touro onírico”, “canto final ou agonia de uma noite inconseguida”, entre outros de teor existencialista ou de transposição de temas da mitologia greco-latina pelo perturbante olhar de um homem da segunda metade do século XX, e que tinha sofrido na carne, na alma, na reclusão política e na lonjura da incorporação forçada no exército colonial de ocupação dos territórios dos povos africanos sublevados, as consequências da sua incondicional opção pela irreverência existencial e pela liberdade da sua pátria africana do meio do mar (como se diz parcialmente num poema de Ovídio Martins), finalmente festejada a Cinco de Julho de 1975.
Essa poesia de indagação existencial e metafísica segue-se à poesia socialmente comprometida e de nítida opção anticolonial, também amplamente cultivada pelos seus colegas do grupo “Seló” (em particular por Mário Fonseca e Oswaldo Osório, camaradas das lides literárias e políticas com os quais constituiu um excelente trio de poetas combatentes da liberdade) e pelos seus companheiros da geração da Nova Largada, e constante sobretudo do caderno “Poesia Um” ou dispersa e anterior a 1971. Dessa última poesia, e da capacidade de ilustração desses sombrios tempos de todavia luminosa rebeldia anti-colonial, permanecem, lapidares e inesquecíveis, “Toti Cadabra”, “Isto é que fazem de nós…”, “nunca dobres a espinha”, “Lisboa-1971”, “Canta co alma sem ser magoado” (musicado por Pedro Rodrigues com arranjos de Paulino Vieira e popularizado pela majestosa voz do Bana).
Com “A musa breve de Silvenius-1971/1978” envereda Arménio Vieira pela levedação das incongruências do quotidiano e da condição humana numa temporalidade histórica que é tanto colonial, como pós-colonial, tanto caboverdiana, como de qualquer lugar. Perpassado de algum lirismo amoroso, como no poema “os amorosos”, o olhar inunda-se de sarcasmo e torna-se ferinamente corrosivo, a um tempo avassalador e penitente, e, por vezes, aridamente desesperante, como no poema “um dia em moscovo”.
Deste modo, essa poesia (a constante de ”Poesia 1” e de “A musa breve de Silvenius”) ergue-se, mesmo se (ou porque) fazendo uso de uma linguagem chã, por vezes erosiva e fulminadora dos mitos greco-latinos, como em “Fábula de Esopo” ou “Tuto é finito”, outras vezes rente a um indisfarçável, contestado e detestado quotidiano, como em “Homens-cães (e vice-versa)”, “Os mortos que somos”, outras vezes onírica e satírica, como em “Caviar, champanhe e fantasia”, de irónica homenagem ao plateau (parte alta e histórica) da sua cidade natal da Praia e à esplanada da sua praça grande.
A poesia de Arménio Vieira singulariza-se por também fugir ao usual cânone estético da poesia cabo-verdiana, quer pela forte presença da ironia e do sarcasmo, como meios estéticos de transgressão, quer pelo papel que nela desempenham a aliteração, a paródia, a linguagem coloquial, o desencanto metafísico e o jogo com o paradoxo e o absurdo, mesmo quando recorre a mitos greco-latinos, dessacralizando-os.
De interesse é também o parentesco linguístico, estético-formal e filosófico entre alguma poesia de interpretação e interpelação ontológicas de Arménio Vieira (por exemplo, “Canto do Crepúsculo” e “Homenagem a quem…”) e a poesia de João Vário. Referimo-nos àquela poesia, como a constante dos poemas “Que bela casuarina”, “Também os deuses”, “Isaías, profeta de Deus”, “Destruição pelo fogo” ou “A vida e a morte de Jaime de Figueiredo”, em que a linguagem se eleva na imagética e no léxico da indagação da transitoriedade de tudo.
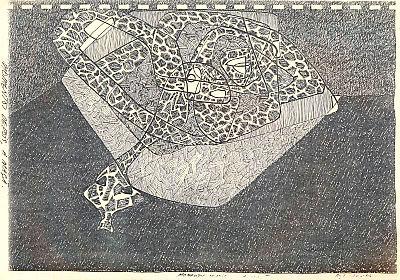 Mito Elias, 1994Igualmente digno de realce nalguns poemas de Arménio Vieira, em especial dos constantes do caderno “Poesia Dois”, é o enveredamento por um certo formalismo de teor experimentalista, como se pode comprovar nos poemas “Alfabeto e cotovia” e “Estrela. Pedra. Consoante. E cotovia”. Tal experimentalismo contribuiu sobremaneira para a construção da plurifacética substância do caderno “Poesia Dois”.
Mito Elias, 1994Igualmente digno de realce nalguns poemas de Arménio Vieira, em especial dos constantes do caderno “Poesia Dois”, é o enveredamento por um certo formalismo de teor experimentalista, como se pode comprovar nos poemas “Alfabeto e cotovia” e “Estrela. Pedra. Consoante. E cotovia”. Tal experimentalismo contribuiu sobremaneira para a construção da plurifacética substância do caderno “Poesia Dois”.
Nos seus mais recentes livros de poesia, designadamente MITOgrafias (Ilhéu-Editora, Mindelo, 2006) e O Poema, A Viagem, O Sonho (Editorial Caminho, Lisboa, 2009) Arménio Vieira retoma algumas das linhas mestras da sua poesia.
É nesta óptica que, depois de feita a devida louvação aos seus mestres no primeiro e no segundo cadernos do livro MITOgrafias (designadamente no “Canto das Graças” e em “Dez Poemas Mais Um, para João Cabral (…)”, essa poesia prossegue na senda corrosiva da dessacralização, quer das idiossincrasias mais tipicamente caboverdianas, designadamente das relacionadas com o infortúnio e a seca (como se pode ler no poema sem título “Quando a Chuva não chove…” ou nalgumas alusões à cabra, ao suão e à chuva ao longo do livro), quer ainda dos mitos da cultura ocidental e dos seus representantes mais icónicos, em cujas obras o autor erudita e literariamente se ancora, como se pode constatar no “Canto das Graças”, mas também literalmente se diverte e se inferniza, como se pode verificar nos poemas (e seus títulos por vezes sarcásticos tais como “Excentricidades gregas”, “Hegel era um Ilusionista de Feira”, etc.) do caderno três (“Mitografias”). Destaque-se neste último caderno, o conjunto de poemas reunidos sob o título A musa breve de Silvenius que vai sendo longa, uma das suas partes mais incisivas no desvendamento das vertentes mais sombrias, aterradoras e infernais da história da humanidade, em particular da civilização cristã europeia, e dos seus meandros carniceiros, sacrificiais, inquisitoriais, jacobinos e totalitários infestados das humanas “Crueldades” desses “Homens Terríveis”, como Atila, Ivan, Hitler, Estaline, os homens da Gestapo, isto é, os tais “flagelos de Deus”, esse Deus que, sendo também “o verbo”, é o “urdidor mor de metáforas”, esse Deus que, querendo ser “metáfora de si mesmo” “ na cruz (…), partido em dois, sucumbiu”.
De sublinhar no seu livro mais recente (O Poema, A Viagem, O Sonho) a opção de Arménio Vieira pela quase total rasura de qualquer referencialidade explícita à realidade caboverdiana, em contraponto a uma exaustiva e quase extenuante viagem à cultura literária ocidental, viagem essa aparentada com aqueloutra empreendida no romance No Inferno, também ela alicerçada numa erudição avassaladora, na desmesurada fantasia bem como nas potencialidades imprevisíveis de um imaginário fundado na constante reinvenção existencial do homem no seu confronto com o absurdo, quer o de suposta fonte divina, quer o de terrena criação civilizacional.
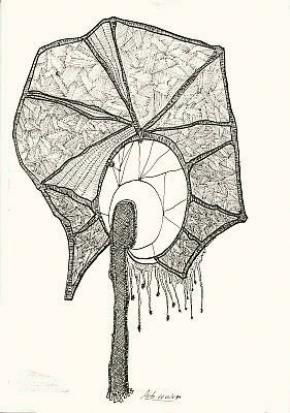 Mito Elias, 1994Livro de meditação, por vezes jocosa, sempre desassombrada, a mais das vezes surpreendente, sobre o Destino e o que ele (nome outro da Divindade, diz o vate) “oferta ao Tempo”, isto é “ à parte de si que já não ama”, os textos que perfazem O Poema, a Viagem, o Sonho têm como matéria primordial os labirintos nos quais se vem enredando a criatura humana na perscrutação do seu destino, do qual, aliás, procura libertar-se, desvendando-lhe os signos ou prosseguindo a sina que nele vem selada e lhe marca os passos todos, sejam os amorosos, os trágicos, os jubilosos, os inqualificáveis. Nessa meditação, a constância das referências greco-latinas, judaico-cristãs e outras fundamente ancoradas na cultura ocidental e nas suas expressões periféricas, como é o caso da afro-latinidade (ou crioulidade) caboverdiana, e delas marcantes, parece querer primacialmente significar a permanência e a imutabilidade de uma condição humana, sempre indagada, sempre perplexa perante si própria e perante a aparente insolubilidade das questões que o ser humano se vêm pondo ao longo dos tempos. Nesta óptica, os textos de O Poema (…) mais não representariam que as indagações de uma qualquer criatura humana nossa contemporânea, ciente de si própria e da teia (histórica, mítica e de outro teor) que a envolve, isto é, de uma criatura que, versada (neste caso, excepcionalmente versada) no saber erudito de matriz ocidental e vendo-se ao espelho, seu e da humanidade do seu semelhante, nele vê perfilar-se a cultura que consigo carrega, enquanto fardo, paraíso ou inferno, e a canga da civilização de que só se pode desenvencilhar, digerindo com a requerida sofreguidão as suas frutas, amargas e saborosas, mediante a viagem que se enceta pelo sonho ou pelo pesadelo, desde que seja uma via que seja aberta pela poesia e a ela conduza.
Mito Elias, 1994Livro de meditação, por vezes jocosa, sempre desassombrada, a mais das vezes surpreendente, sobre o Destino e o que ele (nome outro da Divindade, diz o vate) “oferta ao Tempo”, isto é “ à parte de si que já não ama”, os textos que perfazem O Poema, a Viagem, o Sonho têm como matéria primordial os labirintos nos quais se vem enredando a criatura humana na perscrutação do seu destino, do qual, aliás, procura libertar-se, desvendando-lhe os signos ou prosseguindo a sina que nele vem selada e lhe marca os passos todos, sejam os amorosos, os trágicos, os jubilosos, os inqualificáveis. Nessa meditação, a constância das referências greco-latinas, judaico-cristãs e outras fundamente ancoradas na cultura ocidental e nas suas expressões periféricas, como é o caso da afro-latinidade (ou crioulidade) caboverdiana, e delas marcantes, parece querer primacialmente significar a permanência e a imutabilidade de uma condição humana, sempre indagada, sempre perplexa perante si própria e perante a aparente insolubilidade das questões que o ser humano se vêm pondo ao longo dos tempos. Nesta óptica, os textos de O Poema (…) mais não representariam que as indagações de uma qualquer criatura humana nossa contemporânea, ciente de si própria e da teia (histórica, mítica e de outro teor) que a envolve, isto é, de uma criatura que, versada (neste caso, excepcionalmente versada) no saber erudito de matriz ocidental e vendo-se ao espelho, seu e da humanidade do seu semelhante, nele vê perfilar-se a cultura que consigo carrega, enquanto fardo, paraíso ou inferno, e a canga da civilização de que só se pode desenvencilhar, digerindo com a requerida sofreguidão as suas frutas, amargas e saborosas, mediante a viagem que se enceta pelo sonho ou pelo pesadelo, desde que seja uma via que seja aberta pela poesia e a ela conduza.
Igualmente digna de realce na mais recente poesia de Arménio Vieira é a opção pela prosa poética ou pelo poema em prosa, em nítido contraste com o regresso ao soneto e outras formas fixas herdadas bem assim, como em alguns dos poetas adiante nomeados, a uma linguagem literária de tom elevado, preciosista e/ou metrificado recentemente empreendido, aliás, com assinalável êxito, por alguns poetas caboverdianos, francófonos, como Mário Fonseca, crioulógrafos, como Kaká Barboza, ou lusógrafos, como Danny Spínola, José Luís Tavares ou Filinto Elísio Correia e Silva.
Por este modo, Arménio Vieira retoma a célebre consigna mallarmeana “a prosa não existe”.
Quanto à lição mallarmeana, ela é inteiramente assumida logo no segundo poema do caderno “Canto das Graças “ do livro MITOgrafias, no qual se dá graças por “Bento Spinoza e também por Malarmé, /já que ambos, em seu tempo/e seu lugar, viram o que jazia/oculto sob a máscara da Esfinge”, “esse ponto em que o texto/como um rio /se desdobra e, nítido, surge o poema,” e que “só se vê num mapa que Mallarmé doou/aos filhos que teve com a Musa”.
 Mito Elias, 1994Para além disso e à semelhança, aliás, do que tinha intentado no romance No Inferno e no poema “Epopeias” do livro MITOgrafias quanto à suposta impertinência, na actualidade, respectivamente do romance e da poesia épica/heróica como géneros narrativos pertinentes, a opção pelo poema em prosa e pela prosa poética narrativa parece constituir uma insofismável subversão (aliás, sempre esperada, porque congénita à praxis poética do vate praiense) e reflectir, se não uma condenação explícita, pelo menos um posicionamento crítico não só em relação ao poeta como artesão do verso (mormente daquele metrificado e sujeito à classicizante e disciplinadora (por isso, libertadora e criadora, segundo outros) “tirania” da rima e das formas fixas) como também em relação às práticas versilibristas, oportuna, tempestiva e irruptivamente introduzidas em Cabo Verde pelos claridosos e, depois, generalizadamente cultivada por poetas de diferenciado mérito e de diferentes opções estético-ideológicas (neles se incluindo o próprio Arménio Vieira e a sua respiração poética por vezes assaz coloquial, se bem que trespassada pela metáfora), assim como por versejadores de múltiplos calibres panfletários. Versejadores, diga-se, as mais das vezes enredados nas armadilhas do versilibrismo e da aparente simplicidade da poética caboverdiana anterior, sobretudo daquela legada por Jorge Barbosa, bem como na crença sustentada nas mesmas armadilhas e segundo a qual a factura da poesia, em especial da poesia moderna, derivaria, não da congruência das palavras utilizadas e do seu ordenamento com as exigências do ritmo, da imagética e da sua propensão e capacidade expressiva para a produção de emoção estética e/ou qualquer outra forma de sensação estética de estranheza e/ou de adesão, mas da mera versificação das palavras, quer mediante a sua submissão, ainda que em grau mínimo, às regras da rima e da métrica, quer ainda, e num sentido mais obtuso, mediante a sua mera e abstrusa colocação em escadinhas, sem mais e desnecessárias interferências quer da rima e da métrica, quer ainda do ritmo e da imagética.
Mito Elias, 1994Para além disso e à semelhança, aliás, do que tinha intentado no romance No Inferno e no poema “Epopeias” do livro MITOgrafias quanto à suposta impertinência, na actualidade, respectivamente do romance e da poesia épica/heróica como géneros narrativos pertinentes, a opção pelo poema em prosa e pela prosa poética narrativa parece constituir uma insofismável subversão (aliás, sempre esperada, porque congénita à praxis poética do vate praiense) e reflectir, se não uma condenação explícita, pelo menos um posicionamento crítico não só em relação ao poeta como artesão do verso (mormente daquele metrificado e sujeito à classicizante e disciplinadora (por isso, libertadora e criadora, segundo outros) “tirania” da rima e das formas fixas) como também em relação às práticas versilibristas, oportuna, tempestiva e irruptivamente introduzidas em Cabo Verde pelos claridosos e, depois, generalizadamente cultivada por poetas de diferenciado mérito e de diferentes opções estético-ideológicas (neles se incluindo o próprio Arménio Vieira e a sua respiração poética por vezes assaz coloquial, se bem que trespassada pela metáfora), assim como por versejadores de múltiplos calibres panfletários. Versejadores, diga-se, as mais das vezes enredados nas armadilhas do versilibrismo e da aparente simplicidade da poética caboverdiana anterior, sobretudo daquela legada por Jorge Barbosa, bem como na crença sustentada nas mesmas armadilhas e segundo a qual a factura da poesia, em especial da poesia moderna, derivaria, não da congruência das palavras utilizadas e do seu ordenamento com as exigências do ritmo, da imagética e da sua propensão e capacidade expressiva para a produção de emoção estética e/ou qualquer outra forma de sensação estética de estranheza e/ou de adesão, mas da mera versificação das palavras, quer mediante a sua submissão, ainda que em grau mínimo, às regras da rima e da métrica, quer ainda, e num sentido mais obtuso, mediante a sua mera e abstrusa colocação em escadinhas, sem mais e desnecessárias interferências quer da rima e da métrica, quer ainda do ritmo e da imagética.
É o que perscrutamos no 25º texto de O Poema, a Viagem, o Sonho (sem título como a esmagada maioria dos textos desse livro):
“De repente um pobre homem, sem apoio de mágica ou de alquimia, que também é magia, converte-se num aparelho de espremer poemas. Ele então que os faça, pois assim quis a sina. Se for soneto, isto é, um monte deles, que eles saiam mais ou menos bem rimados. Atenção: quem rima choro com cachorro, jamais apanha a chave de ouro, e no fim é o cão que fica a rir-se. Por que não uma ode, semi-Píndaro, semi-pimba, ou então uma epopeia, já que em democracia a cópia de Homero é cópia de direito? Em cada beco um Pai Natal, o que se vê é mais barbas que brinquedos, meu Deus, a crise que aí vai! Nos acuda Sto António, ubíquo e forte em sortilégios de que os peixes deram fiel testemunho. Já que o santo era padre e a poesia é o tema, encerre-se o texto com Vieira, também padre e António, tanto mais que os sermões, a mor das vezes chatos, em Vieira eram poemas. Entendeu-o Pessoa e, a dobrar, também eu. Por me chamar Vieira?”.
Deste modo, a aparente similitude entre a rasura temática da caboverdianidade mais típica, designadamente no que respeita à nomeação explícita de lugares, ambiências, espaços, cheiros, odores, cores, pessoas, tragédias, estórias, ou à sua mera alusão, e a “obsessão greco-latina” e ocidentalizante de Arménio Vieira e idênticas rasura e obsessão europeia classicizante dos pré-claridosos é destroçada não só por um diferente enquadramento histórico-epocal das respectivas poéticas e gerações literárias como pela antonímia das técnicas e do formalismo estético presentes nas respectivas oficinas.
Decididamente, Arménio Vieira - tanto o celebrado poeta versilibrista como o nosso mais recente cultor do poema em prosa- situa-se nas antípodas das convicções estéticas mais profundas e sinceras de Pedro Cardoso e seria certamente amaldiçoado pelo venerando poeta neo-clássico, hesperitano, nativista e pan-africanista e pela sua visão que, tendo excomungado o versilibrismo e havendo-o remetido à ciclotímica comiseração da piedade divina, não seria certamente menos áspera (ou, sequer, mais condescendente) em relação ao poema em prosa, mesmo que se se tratasse de um poema em prosa que deambulasse pelas mais sábias e controversas cogitações dos mestres da antiguidade greco-latina.
Relembremo-nos, pois, do que escreveu o mestre foguense na sua “Profissão de Fé”: “Todo o artista pressupõe uma técnica, o poeta tem de ser um técnico da métrica, porque o verso é a vestimenta mais própria e condigna da poesia (…) Impetrando ao bom Deus da misericórdia que deles se amacie e lhes remita a veleidade da extravagância de chamarem verso à prosa, que, em última análise, não é nem uma coisa, nem outra”.
O mesmo raciocínio antinómico, acima dissecado, pode igualmente ser aplicado às aparentes similitudes entre as oficinas dos actuais cultores das formas fixas e a compreensão do poeta como um técnico da métrica e das formas fixas clássicas por parte dos antigos.
Cremos deverem essas similitudes serem antes interpretadas como indícios de recentes tendências tanto de reabilitação/cultivo de um português literário elevado e de há muito arredado da nossa literatura como também de revalorização quer da intertextualidade com a grande poesia do mundo quer de uma parte importante da nossa herança e história literárias. Tais tendências vêm-se desenvolvendo no quadro das contemporâneas interrogações dos poetas caboverdianos num contexto de assumido cosmopolitismo e de plena e multifacetada identificação com os múltiplos rostos, matrizes culturais e raízes identitárias da nação diaspórica caboverdiana.
A propósito das peculiaridades poéticas da prosa poética e do poema em prosa, que, aliás, perfazem a totalidade do seu último livro, escreve Arménio Vieira precisamente no poema “Prosa e Poesia”: “Troco as voltas à metáfora, / fazendo de conta que Aristóteles/ e o seu alfarrábio de tropos/valem tanto como esse velho/ Mar Morto onde os peixes, / de tanta secura, já nem sabem /se são peixes ou pedras de sal./Assim, embarco e sigo/sem que eu saiba em que ponto no rio ou no mar/bifurca a prosa e, nítido, se vê o poema”, retomando, aliás, a tal consigna malarmeana a que acima se fez referência.
Consigna mallarmeana que, aliás, foi incorporada e vem sendo igualmente prosseguida, é certo que com diferentes níveis de conseguimento estético, por poetas caboverdianos tão díspares entre si, como, por exemplo, Ovídio Martins (designadamente no poema “Ilha a Ilha”), Mário Fonseca, Dina Salústio, José Luís Tavares, Vera Duarte, Valentinous Velhinho, Danny Spínola, António da Névada ou Filinto Elísio Correia e Silva, cultores pós-coloniais da prosa poética e do poema em prosa, mesmo que não necessariamente na extensão e com a identidade própria dos longos poemas de louvação da cidade, como em Jorge Carlos Fonseca, e de virulenta causticação das incongruências do quotidiano pós-colonial, como em Osvaldo Azevedo ou Erasmo Cabral de Almada, ou dos longos poemas narrativos, de teor epicizante, cultivados por T. T. Tiofe, Nzé di Sant’ y Águ, Mário Lúcio Sousa ou António da Névada (relevando-se os momentos deliberadamente prosaicos que, por vezes, salpicam e entranham alguma dessa poesia, designadamente a de T. T. Tiofe), ou, até, em seu sarcástico contraponto como assinalado no poema “Epopeias”, de Arménio Vieira:
“EPOPEIAS
Arma virumque cano… Deixemo-nos/de tretas! Versos destes escreviam-se/ antigamente, quando Eneias e Ulisses,/em barquinhos de papel, arrancavam/olhos aos ciclopes, rindo nas barbas/ de Neptuno, um rei de óculos e bengala/ a precisar de viagra. Ezra Pound,/ cowboy e poeta, quis ressuscitá-los./ Pensando em quem? Mussolini via-se/ que não. Era um anão gorduchinho,/ parecido aos que andam nos circos/ a divertir a garotada. Entre um bicho/ assim e um homem chamado Aquiles/ a distância é de uma légua.// Canto l´arme pietose e´l capitano…/Deixemo-nos de tretas! Nós, a mor/ das vezes, somos tigres a fazer figura/ de urso. As armas e os barões…/Isso era antigamente, quando os Lusos/ se riam a custa de Baco, rei sem/ préstimo, bebedor de vinho”.
Sarcástico contraponto que, por representar um dos muitos e contraditórios olhares do poeta sobre a herança poética ocidental, da qual se sustenta, todavia não impede Arménio Vieira de beber reverentemente da taça onde rescende ainda o inebriante odor dos versos tanto de Homero e Dante como de Walt Whitman e Álvaro de Campos.
 ilustração de Margarida Girão
ilustração de Margarida Girão
Com os seus últimos livros, Arménio Vieira coloca mais pedras – aliás, maioritariamente rutilantes - no edifício do espanto e da perplexidade que vem construindo para deleite dos seus admiradores e benefício do alargamento do pluralismo estético-formal e temático na literatura produzida pelos filhos das nossas ilhas e diásporas, e para alguma raiva e contestação dos (in)habituais detractores da sua poesia (ou, pelo menos, daquela mais recentemente dada à estampa), talvez demasiado ciosos de uma mais estrita observância de um determinado formalismo técnico mais conforme com o cânone dominante e/ou de caminhos mais irrepreensível e exclusivamente telúricos na poesia caboverdiana, independentemente do nível e do tipo de linguagem eleitos, desde que compenetradamente apegada ao chão mátrio das ilhas ou a ele alusivo, ainda que de forma um pouco remota.
Diz o poeta num dos textos mais emblemáticos da sua ancoragem numa pátria, nua e sua, irredutivelmente inominada porque tão-somente aspergida de palavras e do seu desejo de liberdade, o qual, aliás, se expande em todos os sentidos e perpassa todo o seu último livro:
“Apaga as escrituras todas. Se a missa ou o sino de qualquer igreja chegarem aos teus ouvidos, o que ouves é apenas o vento a sacudir os ramos, é um velho boi ruminando sempre a mesma palha. Em ti há um marinheiro demandando uma ilha onde ninguém ainda esteve. Também em ti encontrarás o mapa, a bússola e o navio. Há coisas a que não deves atribuir nomes”. E conclui peremptório: “ A tua ilha não tem nome”, para que, embevecidos, possamos rematar - pois que inomináveis são os trilhos da poesia da liberdade (incluindo da liberdade de construir o poema desta ou daquela forma) que habitam o wanderlust, ou, se se quiser, o evasionismo e o sonho da viagem, lavra consabidamente de muita fértil imagética. Viagem essa, aliás, sempre de novo encetada em especial pelos poetas islenhos, da beira-mar e da beira-sonho, pelos poetas badios aparentados com os gatos, sejam eles brancos, pretos, pardos ou de cores zebradas; sejam eles de inspiração greco-latina ou uma sua mera ilusão, magicação ou desconstrução, mas certamente crioulos caboverdianos firmemente ancorados na sua dupla herança matricial, na sua ambivalência (no sentido próprio de bivalência), também identitária, e na sua inesgotável demanda de entrelaçamento com tudo que lhes foi legado e com o todo de que foram diversamente gerados ou de que livre, sabida e soberanamente se apropriaram.
Terá sido pela polivalência da sua obra poética e ficcional que, a despeito das legítimas expectativas criadas em torno de outros abalizados postulantes caboverdianos, e não só, que Arménio Vieira teve o privilégio de nos dar a incomensurável alegria de ser o primeiro galardoado caboverdiano com o Prémio Camões?
Foi certamente também pelo seu imperial domínio da língua de labor literário e da linguagem da poesia bem como pela sagaz pertinência das suas indagações existenciais na sua congruência com as preocupações do viajante e náufrago do mundo, que também é o ilhéu caboverdiano, esse ser permanentemente expectante porque habitante, a um tempo, sedentário e nómada, de um algures sempre se abrindo a esse mundo que até ele chegou com as sementes iniciais, nele doridamente renovadas pelas contingências da história, nele sempre se renovando pela inteligente apreensão da por demais trágica saga do seu nascimento e da sua maturação como povo crioulo soberano e da sua consciente incorporação nas deambulações do escriba e no labor do poeta.
Afinal, embora diversos na cana que se utiliza para a pesca da palavra sensível, ela própria peixe e anzol, presa e predadora, e na substância concreta ou onírica do pão-nosso-de-cada-dia que se almeja, parecem ser idênticos os sonhos do cais-de-ver-partir de “O poema de quem ficou” de Manuel Lopes” (paradigmático do que se convencionou chamar evasionismo psicológico e anti-terralongista, também omnipresente no poeta dantes considerado sacro-santo e sumo-pontífice desse mesmo evasionismo psicológico) e os sonhos do viajeiro sedentário que é o poeta Arménio Vieira, aquele que, (anti-)máscara contemporânea de Ulisses, pede que, vindo a desgraça, que venha de avião, e prefere o voo que só pela imaginação se enceta:
“Quem jamais viaja, e, viajando nunca, poupa-se ao enjoo, a que se junta a chatice de juntar papéis de que a pauta é o avesso. O viajante que jamais viaja é quem deveras viaja, pois que, viajando nunca, ele sabe dos múltiplos dons com que o Destino distingue o sonhador. Sendo assim (por arbítrio alheio, é certo), o navegante, que jamais teve navios e nunca os desejou, mesmo assim, ele é o detentor das rotas que levam aos portos por nomear. Diga-se então que o azul de tantos céus, que Ulisses viu, como ninguém houvera visto, mais não é que os sonhos de quem, em terra, os sonhou no mar”. Eternos insulares, viajantes inveterados com as âncoras presas à inominada solidão da ilha, evasionistas anti-evasionistas, Ulisses sempre em demanda da casa, daquela casa que também se constrói pela capacidade de sonhar e, estando lá, segura e indefectível, alimenta todos os sonhos de viagem por todos os mundos, deste e de outro mundo, conhecidos ou simplesmente vaticinados…
Diríamos, concluindo, que a sagração de Arménio Vieira, o poeta praiense das altas escarpas marginais da vida e das suas praias esparramadas em sonho e fantasia, ocorreu quase que em conformidade com as expectativas todas, de quase toda a gente, tanto da nação literária como também daquela, que de forma quase inexplicável, se vem deslumbrando com os demiurgos, os cultores e os semeadores dessa lavra misteriosa que é a palavra poética, incluindo as do poeta eruditíssimo (sapientíssimo, diriam outras sombras) retratado no poema “Megalomania” do livro O Poema, A Viagem, O Sonho:
“Eu, que de Homero recebi o poema no instante em que o poema nasce, e vi o Inferno pela mão de Dante, tal-qual Leopardi mais tarde o viu, e, após me afundar no rio onde Hamlet e Lear beberam o vinho que enlouquece, comecei a ter visões que Rimbaud, De Quincey e Poe registaram em negros textos; eu, que no eterno transportei a bandeira que era peso nas mãos de Elliot, e renovei a charrua com que Pound lavrava os versos, e de Whitman furtei-me ao licor, que em Álvaro, digo Campos, porque dorido e menos doce, sabia melhor; então que falta em mim para de Camões herdar a estrela, que Pessoa deixou fugir?”.
Premonição de um estatuto camoniano (ainda que travestido na pouco fugaz honraria do prémio homónimo), apesar de, na vida e na obra, o poeta se posicionar, a mais das vezes, como nitidamente avesso a um qualquer mimetismo grandiloquente e neo-camoniano e indiferente a outras fulgurações neo-clássicas e neo-nativistas da palavra poética. Palavra poética que em Arménio Vieira é quase sempre entendida e posta em riste como radicalmente vocacionada para a transgressão na sua evidência contra as correntes hodiernamente hegemónicas, tal como, aliás, vazada no livro O Poema, A Viagem, O Sonho. Indiferença que, todavia, não o impede de também revisitar a obra de D. Dinis, o Camões lírico, entre outros autores marcantes da tradição poética lusógrafa.
 Arménio Vieira, foto de XanLivro que, escrito um tanto antes da atribuição ao seu autor do prestigiado prémio (porque a maior distinção respeitante a uma carreira literária em língua portuguesa) na rotina solitária e automatizada do teclado do telemóvel (também ele merecedor de louvação com ressonâncias necessariamente greco-latinas chuviscando sobre um qualquer banco de praça ou mesa de café do plateau praiense), foi todavia publicado depois da mesma atribuição. Atribuição que ao povo das ilhas e diásporas e a todos os seus poetas, escritores e outros letrados e criaturas de cultura, cumulou de auto-estima e de auto-confiança, de muita empáfia e fundada basofaria (essa bazófia especifica e vistosamente caboverdiana) pela merecida consagração da maturidade da sua literatura, neste caso representada por um dos seus maiores poetas e prosadores de sempre que foi, é e certamente continuará a ser o literato Arménio Vieira, o super-vate das ilhas com nome, digo o super-felino do arquipélago bafejado com um nome miraculado porque incrustado na verde ficção de uma terra, e de um mar, e de um céu, em suma, de um povo, merecedor ele todo de todas as rogações e rezas, porque habitante e construtor de uma “pátria tão pequena que cabe inteira no coração”, como assinalado num dos textos de O Poema, A Viagem, O Sonho.
Arménio Vieira, foto de XanLivro que, escrito um tanto antes da atribuição ao seu autor do prestigiado prémio (porque a maior distinção respeitante a uma carreira literária em língua portuguesa) na rotina solitária e automatizada do teclado do telemóvel (também ele merecedor de louvação com ressonâncias necessariamente greco-latinas chuviscando sobre um qualquer banco de praça ou mesa de café do plateau praiense), foi todavia publicado depois da mesma atribuição. Atribuição que ao povo das ilhas e diásporas e a todos os seus poetas, escritores e outros letrados e criaturas de cultura, cumulou de auto-estima e de auto-confiança, de muita empáfia e fundada basofaria (essa bazófia especifica e vistosamente caboverdiana) pela merecida consagração da maturidade da sua literatura, neste caso representada por um dos seus maiores poetas e prosadores de sempre que foi, é e certamente continuará a ser o literato Arménio Vieira, o super-vate das ilhas com nome, digo o super-felino do arquipélago bafejado com um nome miraculado porque incrustado na verde ficção de uma terra, e de um mar, e de um céu, em suma, de um povo, merecedor ele todo de todas as rogações e rezas, porque habitante e construtor de uma “pátria tão pequena que cabe inteira no coração”, como assinalado num dos textos de O Poema, A Viagem, O Sonho.
Notas finais e conclusivas
Felizmente, a literatura caboverdiana logrou superar, e com inegável sucesso, as reais e supostas crises de identidade que marcaram o processo da sua emergência, da sua autonomização e da sua consolidação como sistema literário, aliás concomitantes com a constituição histórica do povo que lhe vem servindo de esteio e com o processo, ainda em curso, se bem que acelerado, da sua plena consolidação como nação crioula soberana, sendo notáveis a pluralidade de estéticas e de estilos que caracterizam a nossa contemporaneidade literária e o pleno e descomplexado exercício da liberdade de criação que esse estado plural das coisas estéticas vem propiciando ao labor dos escritores caboverdianos.
A contemporânea pluralidade de estirpes e de tendências poéticas, resultante da já relativamente longa história literária caboverdiana e absorvida como um dos principais legados dos tempos primevos do pós-independência (porque, na nossa opinião, mais prenhes de consequências no que respeita à diversidade do nosso panorama literário actual), afere, de forma assaz assertiva, da plena maturidade da poesia caboverdiana.
Assim, construída e plenamente consolidada a identidade literária caboverdiana, graças fundamentalmente ao labor dos ultra-românticos, dos neo-simbolistas, dos hesperitanos e dos demais escritores oitocentistas e letrados nativistas, dos claridosos das várias vagas e dos émulos da nova largada – fautores, em tempos históricos diferentes e com linguagens e estéticas diferenciadas, da independência e da diversidade literárias cabo-verdianas -, a questão da caboverdianidade explícita ou assumida nos textos literários, quer nas suas vertentes telúrica e combativa, quer nas suas facetas existencialista, de indagação metafísica e lírica, de pura deambulação lírica ou, até (e porque não?) de “puro exibicionismo cultista” tem-se tornado, para um número crescente de escritores e, especialmente, de poetas das ilhas e das diásporas caboverdianas, cada vez menos um problema ontológico enquanto factor eventualmente indutor ou ilustrativo de crises identitárias.
Pelo contrário: a existência de um sistema literário caboverdiano consolidado tem servido de esteio aos novos poetas e ficcionistas para trilharem caminhos diferenciados, por vezes díspares, e intentarem proceder às seguintes experiências de escrita:
i) ao alargamento temático, pan-insular e pan-diaspórico, do campo de jurisdição da nossa tradição literária e dos cânones literários caboverdianos, arduamente edificados em língua portuguesa e em acelerado e seguro processo de construção em língua caboverdiana;
ii) ao enriquecimento estético-formal da literatura das ilhas e diásporas caboverdianas mediante a incorporação de novos estilos, tendências, técnicas e metodologias literários, como, por exemplo, o realismo mágico de extracção sul-americana, o nouveau roman, os hai-kais japoneses, as técnicas de incorporação numa linguagem poética contemporânea de formas clássicas e de formas elevadas da língua ou ainda as técnicas de moderna elaboração de longos poemas narrativos de teor epicizante;
iii) à potenciação de experiências de subversão, de transgresssão, de ocultação e de sabotagem da herança literária, tanto nos planos temático e dos motivos, como a nível estético-formal e linguístico.
São disso elucidativas as experiências ficcionais dos claridosos de segunda vaga Maria Helena Spencer, Teixeira de Sousa, Nuno Miranda, Virgílio Pires e Pedro Duarte, dos novo-largadistas Luís Romano, Gabriel Mariano e Onésimo Silveira, dos escritores neo-claridosos pós-coloniais Orlanda Amarilis, Germano Almeida, Carlos Araújo, Fátima Bettencourt, Ondina Ferreira, Leopoldina Barreto, Evel Rocha, António Ludgero Correia, entre outros, por um lado, bem como, por outro lado, dos contistas e romancistas pós-claridosos ( em alguns casos, parcial ou totalmente anti-claridosos) G. T. Didial, Arménio Vieira, Fernando Monteiro, Dina Salústio, Danny Spínola, Mário Lúcio Sousa, Joaquim Arena, José Vicente Lopes, Eilleen Barbosa, Vasco Martins e Tchalé Figueira. Experiências elucidativas porque fautoras tanto de continuidade como de amplas rupturas em relação ao telurismo claridoso, pesem embora as notórias deficiências quanto à melhor revisão do texto dado à estampa bem como ao domínio da língua de labor literário detectáveis na escrita lusógrafa de alguns poucos dos seus protagonistas, aliás, em regra detentores de fértil imaginação ficcional. Deficiências que mais não são do que eloquentíssimas ilustrações do estado calamitoso em que, a vários níveis, se encontra o português em Cabo Verde, dirão alguns e com toda a razão! Coisas da diglossia, agora transposta para o plano do manejamento da escrita e da lusografia do labor literário, corroborarão outros, ainda com mais razão.
À escrita literária lusógrafa supra-referida, acrescem as recentes experiências de ficção em língua caboverdiana protagonizadas por Manuel Veiga, T. V. da Silva, Eutrópio Lima da Cruz, Danny Spínola, Ely Bakar, Zizim Figueira, entre outros.
Ilações idênticas às respeitantes à prosa de ficção podem ser extraídas em relação à poesia caboverdiana pós-colonial, designadamente no que respeita à inequívoca sedimentação do pluralismo estético-ideológico, à renovação temática e às inovações formais introduzidas por várias correntes contemporâneas, designadamente as representadas:
i. Pela poesia épico-telúrica de rememoração dos tempos e da saudade da história de T. T. Tiofe, Corsino Fortes, Kaká Barboza, Mário Lúcio Sousa, Nzé di Sant´y Águ, Danny Spínola e José Luís Tavares, e os respectivos exercícios de reconstrução, mediante a palavra lapidada e meditada, do sopro genesíaco das ilhas e das ruínas de uma história trágica ainda mal ou insuficientemente narrada. Tentativa que, bastas vezes, se vem concretizando mediante a comovente re-encenação da memória perscrutadora dos trilhos islenhos da infância e da nostalgia do perdido paraíso das águas, assiduamente fustigadas pela inclemência das as-secas e das intempéries históricas.
ii. Pela poesia da plena maturidade ética e estética, do desencanto existencial, da eventual decadência da idade e da buscada regeneração das utopias revolucionárias da liberdade de Oswaldo Osório, Mário Fonseca e Arménio Vieira;
iii. Pela poesia de indagação ontológica e metafísica de João Vário, Arménio Vieira, Valentinous Velhinho, José Luís Tavares, Filinto Elísio Correia e Silva, Alma Dofer Catarino, José Vicente Lopes, entre outros.
iv. Pela poesia de reinvenção caboverdiana da subversão surrealista de Jorge Carlos Fonseca;
v. Pela poesia de fundas ressonâncias arquipélágicas dos tormentosos caminhos da busca poética da felicidade e da liberdade pessoais trilhados por Danny Spínola, Filinto Elísio Correia e Silva e outros poetas da nova geração;
vi. Pela poesia de contundente crítica social, sátira dos costumes e muita virulência verbal (também delineada em apurado crioulo) de Kaká Barboza, Danny Spínola, Oswaldo Azevedo, Erasmo Cabral de Almada, Ano Nobo e algum T. V. da Silva.
vii. Pela poesia de lirismo amoroso, muito afagada pela consagradíssima lira crioula de Eugénio Tavares, magistralmente reinventada, nos tempos pós-coloniais, por Oswaldo Osório e actualmente muito cultivada pela generalidade dos poetas caboverdianos, neles se incluindo a malograda Yolanda Morrazo (a matriaca das poetas caboverdianas do período modernista e autora de uma multifacética obra poética dada à estampa pela Imprensa Nacional/Casa da Moeda de Portugal em 2006), Carlota de Barros e Vera Duarte, entre outras raríssimas poetisas e demais amantes do verso no activo.
viii. Pela poesia do saudosismo pátrio exalado do além-mar diaspórico da terra-longe por cultores do verso de diferente mesura e quilate estéticos, com destaque para Nuno Miranda, Teobaldo Virgínio e Artur Vieira, relevando-se o bilinguismo literário deste último escritor, desde há muito radicado no Brasil.
Anote-se que, nas actuais circunstâncias de nítida, plena e definitiva sedimentação nacional da literatura caboverdiana, aliás, correlativa com o crescente cosmopolitismo dos seus sujeitos, actores e respectivas temáticas, uma franja representativa de escritores, em especial de poetas, das ilhas e das diásporas caboverdianas quer ser primacialmente compreendida na sua infungível condição de criadores, no sentido de artífices da linguagem, cuja única missão – se, porventura, alguma missão lhes coubesse – teria como essencial fundamento ético e inexpurgável escopo estético a liberdade plena de criação e, no plano da factura da obra, consistiria essencialmente na disseminação de máscaras da condição humana, quer ela se situe em Cabo Verde, na Diáspora, na “Macaronésia”, no Antigo Egipto ou nenhures no mundo ou na morte, desde que seja um algures da resplandecência do verbo.
Tal desiderato levou à plena potenciação da arte da linguagem literária bem como das línguas de labor literário (em especial do português, do crioulo e, de forma mais marginal, do francês), não só como meios estéticos de expressão e instrumentos de radicação telúrica e existencial e universalização literárias das criaturas caboverdianas como também da livre expressão daqueles que, afirmando-se e assumindo-se tão-somente como artesãos da palavra exacta e livre, todavia carregam consigo a sensibilidade caboverdiana que, inusitada ou deliberadamente, consciente ou inconscientemente, lhes impregna, e da forma mais indelével, a alma de criaturas e criadores insulares e/ou o seu híbrido rosto de seres da diáspora.
Nos casos de João Vário, de um certo Arménio Vieira (designadamente o de “Poesia II”, “A Musa Breve de Silvenius”, “A Noite e A Lira” e “Poesia III” do livro Poemas, do primeiro e terceiro cadernos (“Canto das Graças” e “Mitografias”) do livro Mitografias bem como da totalidade do seu mais recente livro de poemas em prosa O Poema, A Viagem, O Sonho), de Valentinous Velhinho dos inúmeros “labirintos metafísicos” que perpassam a sua já vasta obra publicada, do José Luís Tavares de Agreste Matéria Mundo (especialmente do caderno A Deserção das Musas), do Danny Spínola de alguns cadernos de Infinito Delírio e do livro-poema Na nha Sol Xintadu, de Alma Dofer Catarino de Sonhos à Sombra e outros poemas de Elegia de Sombras (parcialmente inédito), a sintonia com as tendências dominantes do cânone ocidental da poesia metafísica, destelurizada ou místico-existencial, em cujo chão pátrio e em cujos meandros de linguagem e atribulações de alma cresceram ou amadureceram como poetas, torna quase imperceptível ou assaz residual qualquer réstia textual de referencialidade caboverdiana explícita ou meramente alusiva, especialmente a de natureza telúrica.
A esses poetas podem ser acrescidos, sem maiores pruridos, e para somente nomear autores de livros que nos parecem esteticamente mais depurados:
i. O Mário Fonseca de momentos significativos da sua poesia em língua francesa, especialmente daquela inserta nos livros L’ Odiferante Evidence de Soleil qu’est une Orange, La Mer à tous les Coups e nalguns cadernos de Mon Pays est une Musique, e da sua poesia lusógrafa “contra a idade” e outra ilustrativa da germinação dos tempos do “morrer devagar”.
O Oswaldo Osório dos poemas de meditação sobre o tempo, o amor e a condição do homem angustiado e dilacerado em face da irreversibilidade e da finitude das suas “estações inacabadas”.
iii. O Jorge Carlos Fonseca do cosmopolita deflagrar da palavra indomesticada.
iv. O António da Névada da incessante busca de um caminho próprio e de um canto suficientemente audível entre os luminosos escombros das indagações metafísicas de João Vário e telúricas de T. T. Tiofe e Corsino Fortes.
Com ressalva do exemplo de T. T. Tiofe e G. T. Didial em relação a João Vário e de um ou outro caso eventualmente de menor pregnância (e entre os quais se inclui o autor das presentes linhas), é notória a ausência na esmagadora maioria dos poetas supra-referenciados da nomeação baptismal ou da crisma, de forma autónoma, de uma heteronímia, de uma pseudonímia ou de uma qualquer outra alteridade poética ou, tão só, de uma obra poética engendrada para uma referencialidade explícita e assumidamente caboverdiana, neles, aliás, predominante ou co-existente com uma outra de teor destelurizado, des-insularizado ou de intenção universalista.
Na esmagadora maioria dos poetas caboverdianos já referidos coexistem escritas poéticas de várias facturas temáticas e estético-formais numa mesma obra ou na cronologia diversa das obras, por vezes bilingues. É o que se pode constatar em Arménio Vieira, Oswaldo Osório, Mário Fonseca, Jorge Carlos Fonseca, Danny Spínola, Mário Lúcio Sousa, Filinto Elísio Correia e Silva, José Luís Tavares ou António da Névada ou, de forma ainda mais singular, na obra literariamente binacional ou identitariamente híbrida dos luso-caboverdianos António Pedro Costa e Daniel Filipe.
Um caso excepcional na poesia caboverdiana contemporânea parece ocorrer com a poesia de Valentinous Velhinho, poeta quase exclusivamente metafísico e absolutamente avesso a qualquer referencialidade à terra que, impávida e solenemente muda, conquanto inteiramente cúmplice, assiste às suas deambulações noctívagas e divagações oníricas.
Excepções a essa linha estética geral do autor de O Túmulo de Fénix parecem constituir os raros poemas evocativos de Calheta, a terra natal do poeta, e outras construções poéticas indiciadoras de um suicidário mal-estar que se acotovela no quarto suburbano onde o vate se abriga e (res)guarda as suas quatro estações místicas.
Assinalável na poesia do autor de Relâmpagos em Terra, Adeus Loucura Adeus, O Túmulo da Fénix e Tenho o Infinito Guardado em Casa é igualmente a omnipresença de uma ambiência marcada pelo mar e pelo monte e de uma cultura impregnada e saturada de referências judaico-cristãs, de fundas e remotas ressonâncias na cultura caboverdiana, enquanto suas co-matrizes, e que e por sua vez, a par das referências nietzcheanas, pessoanas e neo-simbolistas, envolvem toda a poética deste autor e eventualmente contaminam o seu rosto quase exclusivamente universalizante e “contra-enraizador”.
Parecem-nos pois cada vez mais acrescidos os desafios aos poetas e demais escritores caboverdianos, inseridos que estão numa ambiência complexa em que são extremamente pregnantes e tendencialmente esmagadoras as solicitações identitárias veiculadas e corporizadas pelo telurismo, de invenção claridosa e recriação nova-largadista, neo-claridosa ou outra de outro teor mais contemporâneo, a par e/ou em contraponto das experimentações, também no domínio literário, de (auto)recriação diaspórica e cosmopolita da sua matriz insular bem como da tentação, sempre livremente assumida, de diluição e dispersão nas águas (des)identitárias e supostamente universalizantes que banham as nossas almas e as suas diferentes máscaras, desde sempre insuladas, e, por isso mesmo, muito propensas ao sonho das evasão para além, e a despeito, da ilha-prisão, dos seus muros reais e imaginados, e da sua ininterrupta sublimação em trilhos de liberdade.
Por isso, esses poetas e outros escritores caboverdianos (incluindo os hifenizados) são, amiúde, obrigados a traduzir-se e a traduzir a sua condição de criaturas modernas e pós-modernas, inteiramente pós-coloniais e pós-claridosas, iniludivelmente confrontadas com os seus abismos, angústias e labirintos existenciais, a par da continuada dissecação da humanidade inerente ao caboverdiano das ilhas e diásporas, tornando-se, assim, de um ou outro modo, heterónimos de si próprios.