Antropologia e literatura: a propósito e por causa de Ruy Duarte de Carvalho
O tema “antropologia e literatura” suscita sempre algum nervosismo sobretudo, ou talvez só, entre os antropólogos. Se se colocar à discussão o tema “escultura e antropologia”, por exemplo, a reacção será da mais tranquila neutralidade. Porque ao contrário deste, aquele não suscita apenas um inquérito sobre a velha questão das representações e das fontes; coloca, isso sim, o dedo na ferida da produção.
A questão relevante torna-se então nesta: em que consiste e por que há uma ferida? A explicação mais usual prende-se com o estatuto social relativo de diferentes práticas. De um lado, entre a arte e a ciência; do outro, entre ciências “duras” e ciências… “moles”. A arte, segundo o senso comum ainda largamente vigente, daria conta de visões subjectivas pouco preocupadas com a representação do real; a ciência daria conta do real, procurando escapar metodologicamente às armadilhas da subjectividade. Neste quadro, as ciências “duras” deteriam o estatuto mais elevado, e as “moles” – as ciências sociais e as humanidades – padeceriam do problema da excessiva proximidade entre o observador enquanto também actor social, e o objecto, precisamente o mundo social.
Uma explicação de segundo grau, menos usual mas que causou furor na antropologia dos anos oitenta do século XX com a influência da obra Writing Culture (e subsequentes) de James Clifford, prende-se com o facto de a antropologia ocupar um lugar ainda mais ambíguo no quadro das ciências sociais, em virtude de pelo menos dois aspectos: a metodologia propriamente antropológica, e as formas de representação do saber. 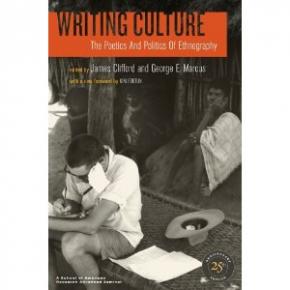 O belíssimo oxímoro “observação participante” remete para uma forma de conhecimento marcadamente experiencial e intersubjectiva; e o produto tradicional do conhecimento antropológico tem sido (apesar de desenvolvimentos experimentais noutras direcções, como a visualidade, a materialidade, a performance ou as novas tecnologias) escrito – e não apenas “escrito”, no sentido em que um relatório técnico também o é, mas escrito com a intencionalidade de mostrar, de fazer sentir os significados culturais alheios ao leitor. A ferida acima referida pode, pois, ser resumida, mesmo que abusivamente, na pergunta terrível: quem mostra melhor a vivência cultural de um local, comunidade ou rede – um romance consagrado como fresco insuperável daquela vivência, ou uma monografia etnográfica sobre o mesmo contexto? A pergunta padece, obviamente de ingenuidade, já que muitos contraporiam que o objectivo último do trabalho antropológico não é a (de)monstração duma vivência cultural, mas o contributo para uma análise propriamente sociológica das propriedades da vivência cultural – uma demonstração.
O belíssimo oxímoro “observação participante” remete para uma forma de conhecimento marcadamente experiencial e intersubjectiva; e o produto tradicional do conhecimento antropológico tem sido (apesar de desenvolvimentos experimentais noutras direcções, como a visualidade, a materialidade, a performance ou as novas tecnologias) escrito – e não apenas “escrito”, no sentido em que um relatório técnico também o é, mas escrito com a intencionalidade de mostrar, de fazer sentir os significados culturais alheios ao leitor. A ferida acima referida pode, pois, ser resumida, mesmo que abusivamente, na pergunta terrível: quem mostra melhor a vivência cultural de um local, comunidade ou rede – um romance consagrado como fresco insuperável daquela vivência, ou uma monografia etnográfica sobre o mesmo contexto? A pergunta padece, obviamente de ingenuidade, já que muitos contraporiam que o objectivo último do trabalho antropológico não é a (de)monstração duma vivência cultural, mas o contributo para uma análise propriamente sociológica das propriedades da vivência cultural – uma demonstração.
Onde os antropólogos, sobretudo a partir dos anos oitenta, se concentraram, foi antes na questão da relação entre autoria e autoridade. Afinal de contas, o texto etnográfico e/ou antropológico, dá ou não conta da pluralidade de vozes no terreno, dos conflitos entre elas, reproduz ou não estruturas de autoridade e precedência não só do terreno mas também das relações entre o Ocidente e o Resto, entre a Ciência e os seus “objectos”?
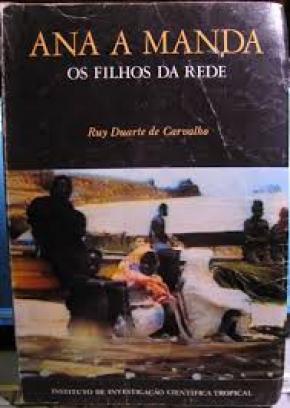 Na página 27 do seu livro mais marcadamente antropológico, Ana a Manda – Os Filhos da rede (sua tese de doutoramento, defendida em 1986 e publicada em 1989), Ruy Duarte de Carvalho escreve: «Nós estamos, do ponto de vista de uma ética profissional e intelectual, do lado daqueles para quem, em relação a um trabalho como este, a noção de autor se torna ambígua desde que o texto integre a participação de outrem.» Ruy Duarte de Carvalho escreveu esta passagem no mesmo ano da publicação de Writing Culture. Clifford procurou demonstrar os mecanismos através dos quais os antropólogos haviam construído textualmente um papel autorial para si mesmos. Entre estes encontrava-se a separação entre o antropólogo enquanto homem ou mulher do terreno e o antropólogo de sofá, através da ênfase colocada na dimensão experiencial do trabalho de campo; seguido da supressão, no texto, do aspecto dialógico da construção do conhecimento antropológico.
Na página 27 do seu livro mais marcadamente antropológico, Ana a Manda – Os Filhos da rede (sua tese de doutoramento, defendida em 1986 e publicada em 1989), Ruy Duarte de Carvalho escreve: «Nós estamos, do ponto de vista de uma ética profissional e intelectual, do lado daqueles para quem, em relação a um trabalho como este, a noção de autor se torna ambígua desde que o texto integre a participação de outrem.» Ruy Duarte de Carvalho escreveu esta passagem no mesmo ano da publicação de Writing Culture. Clifford procurou demonstrar os mecanismos através dos quais os antropólogos haviam construído textualmente um papel autorial para si mesmos. Entre estes encontrava-se a separação entre o antropólogo enquanto homem ou mulher do terreno e o antropólogo de sofá, através da ênfase colocada na dimensão experiencial do trabalho de campo; seguido da supressão, no texto, do aspecto dialógico da construção do conhecimento antropológico.
Tal era possível recorrendo, nomeadamente, a uma teoria reificadora da “Cultura”. A resolução deste “problema” tem sido o alvo de muitas e variadas receitas e textos confessionais de impotência. Mas todos parecem apontar no sentido de uma consideração das dimensões estético-formais, epistemológicas, éticas e políticas – como referiu Paul Rabinow. Assim, a etnografia enveredaria pelos caminhos de experimentações textuais assentes na premissa de que o que se representa não são formas completas e distintas de modos de vida, mas sim séries de diálogos, imposições e invenções. Esta estratégia daria ainda conta de um contexto simultaneamente propício e determinante nestas transformações: o contexto do mundo subsequente ao fim oficial do colonialismo moderno. O mundo em que a obra de Ruy Duarte se viria a desenvolver.
“Coisas dos eighties e do pós-modernismo”, diriam os cotemporâneos. Talvez. Já ultrapassadas e incorporadas. Talvez. Mas depois do debate introduzido por Clifford não mais se falou nas relações entre Literatura e Antropologia como antes. A antropologia passou a não poder deixar de considerar a problemática cliffordiana e outras áreas, como os estudos literários e culturais, iniciaram uma análise dos textos e contextos antropológicos como forma de entender os posicionamentos e perspectivismos do que se convencionou chamar a pós-colonialidade – nas ex-colónias ou nas ex-“metrópoles”.
Poderíamos dizer que Ruy Duarte de Carvalho descobriu e praticou uma antropologia pós-moderna e pós-colonial sem pagar o preço da etiqueta ou as quotas do partido. Antes de Ana a Manda, tese de doutoramento sobre o contexto muxiluanda, a sua produção literária fora da antropologia no sentido estrito já estava encaminhada e já revelava as possibilidades da multiplicação dos géneros e da sua hibridação – justamente uma característica da pós-colonialidade e uma das receitas agora tão repetidas para a invenção de novas textualidades e autorias. Em Ondula Savana Branca, livro de poesia de 1982, ele traduzira e apropriara-se da tradição oral africana. Bem mais tarde, vamos ter a ficção (e será esta a classificação acertada ou definitiva?) de Os Papéis do Inglês (2000), claramente informado pela antropologia; vamos ter Vou Lá Visitar Pastores, em 1999, autêntica hiperetnografia kuvale; vamos ter Actas da Maianga em 2003, onde o comentário político é assumido; vamos ter Desmedida (2006), onde o ensaio literário e histórico-antropológico se mescla com a literatura de viagem. Tudo isto e muito mais – já que aqui não entrarei no cinema ou na ilustração – além do continuado trabalho poético iniciado em 1972 com Chão de Oferta, e de que Lavra (reunindo a poesia de 1970 a 2000) é autêntico tomo de consagração.
 Bernardo Carvalho, ele próprio ficcionista de formação antropológica, diz de Os Papéis do Inglês, e citando Ruy Duarte, tratar-se de uma «narrativa em “permanente suspeita perante si mesma”, a questionar-se, interrompendo-se para revelar, por um processo análogo ao relativismo antropológico:
Bernardo Carvalho, ele próprio ficcionista de formação antropológica, diz de Os Papéis do Inglês, e citando Ruy Duarte, tratar-se de uma «narrativa em “permanente suspeita perante si mesma”, a questionar-se, interrompendo-se para revelar, por um processo análogo ao relativismo antropológico:
“E quem narra não há de ter, ele também, que dar-se a contar?”». Se em Vou Lá Visitar Pastores (1999), as cassetes – instrumento do trabalho de campo – são a muleta narrativa, em Os Papéis sãono, segundo Mega Ferreira, os e-mails – instrumento da globalização. Também aqui, é Ruy quem diz «Cada um de nós, aqui ao fim destes anos de perplexidade constante, transporta para onde vai as marcas do exercício pessoal da sua sobrevivência», numa auto-ficção que já havia sido ensaiada em 1975 com Como se o mundo não tivesse leste (1975), três narrativas situadas no fim do período colonial. Seria banal e repetitivo dizer que a obra de Ruy Duarte se caracteriza pela pluralidade: cineasta, antropólogo, desenhador, ficcionista, poeta, ensaísta. Explorador. Sê-lo-ia também referir de novo a pluralidade – mas sobretudo a mistura – de géneros. Mas seria mesmo? As estratégias literárias de Ruy são justamente as que mais se adequam ao desafio contemporâneo, em que já não se trata de renegar a autoria, mas de expô-la assumindo-a ou assumi-la expondo-a e, no processo, multiplicá-la nas vozes, nas personas, nos géneros, na invenção de novos patamares de diálogo entre os textos produzidos e as condições da sua produção. Em suma: ora hibridizando, ora deslocando. O resultado é que por vezes o texto poético é mais antropológico que o etnográfico, este mais político que o político, este mais ficcional que o ficcional… Aprendo sobre os Kuvale lendo sobre o rio brasileiro São Francisco em Desmedida, aprendo sobre o colonialismo e o ocidente lendo Vou Lá Visitar Pastores, e assim sucessivamente. Como disse Luís Quintais, Ruy perturba «os nossos bem comportados modelos ou sistemas de leitura (…)[no] modo como enuncia esta tensão entre imaginação e realidade», ao referir-se a Observação Directa (2000) – título antropológico (et pour cause…) por excelência para um livro de poesia. Como refere Rita Chaves, o antropólogo funde-se com o poeta (aqui entendido no sentido lato da expressão), e a «Antropologia integra-se à Literatura, formando uma espécie de cadeia multidisciplinar mais apta a melhor flagrar alguns dos movimentos da dinâmica cultural encenada nesse cenário particular que segue semeando perplexidades e impondo a necessidade de novas formas de abordagem».
 Se a relação entre “Antropologia e Literatura” é como cutucar uma ferida (pessoal até, no caso
Se a relação entre “Antropologia e Literatura” é como cutucar uma ferida (pessoal até, no caso
presente, já que me vejo como amador dos contos e da ficção científica, blogger, cronista político, ensaísta popularizador e, claro, antropólogo), a verdade é que não existe Betadine epistemológico, metodológico, ético ou político que a sare. James Clifford usa como epígrafe de um dos seus textos em The Predicament of Culture versos de William Carlos Williams que aludem a como «os produtos puros enlouqueceram». É justamente a “impureza” da obra de Ruy Duarte, o seu não privilegiar de uma autoidentificação enquanto antropólogo, a sua fidelidade à autoria literária, que nos permite – a leitores vindos da antropologia como eu – reencontrar a sanidade e assim ver com caleidoscópica clareza a complexidade dos trânsitos culturais em que vivemos. Da obra de Ruy Duarte não transparece a ferida a que aludi. Quem se assume na multiplicidade de géneros e vozes, na hibridez, e no tráfico e trânsito, transcende os próprios termos em que a questão é colocada. A autoria – despida da autoridade da hiperdefinição literária ou antropológica – é, afinal de contas, o que evita a ferida.