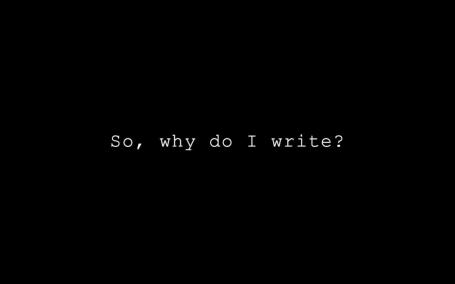Negócio forçado: um roteiro em expansão pelo império português
Em tempos recentes e em vários espaços, diversas obras de arte contemporânea têm vindo a reflectir, de diferentes modos, sobre a memória imagética que se construiu na relação entre o poder colonizador e as suas colónias, continuidades com o presente e nas suas repercussões no futuro. Ao entenderem-se como um discurso a múltiplas vozes e de diferenciados lugares da fala, as obras apresentadas neste projecto propõem uma visão ampla, mesmo que tendenciosa, porque se trata de uma escolha afinada e precisa. Contudo, será prudente nomear outras formas de cultura – cinema, literatura e teatro – que tenham vindo a reflectir sobre a mesma problemática pós-colonial.
O ESTADO
Na efeméride dos 45 anos do 25 de abril de 1974, a metrópole Lisboa, assim era denominada, celebrará oficialmente a revolução militar que pôs termo à guerra colonial e à ditadura que perdurava desde 1926, pela mão de António de Oliveira Salazar (Santa Comba Dão, 1889 - Lisboa, 1970). Nesta ocasião terminava o império português e as últimas colónias africanas conquistavam a sua independência: Guiné-Bissau (oficialmente em 1975, tendo-a já auto-proclamado em 1973), Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Este período pouco claro da nossa história recente, nomeadamente as estórias das colónias, os traumas da Guerra do Ultramar (1961-1974) e o êxodo dos retornados (1974-1975), tem encontrado dificuldades, razões ainda por apurar, em ser expresso pela cultura portuguesa. No cinema nomei-se os filmes de Pedro Costa (Lisboa, Portugal, 1959) Casa da Lava (1994), Ossos (1997), No Quarto da Vanda (2000), Juventude em Marcha (2006) e Cavalo Dinheiro (2014); de Margarida Cardoso (Tomar, Portugal, 1963) A Costa dos Murmúrios (2004); e de Miguel Gomes (Lisboa, Portugal, 1972) Tabu (2012). Na literatura, mais extensa, destacam-se Dulce Maria Cardoso (Fonte Longa, Portugal, 1964) com O Retorno (2011); António Lobo Antunes (Lisboa, Portugal, 1942) com O Esplendor de Portugal (2007); e Isabela Figueiredo (Maputo, Moçambique, 1963) com Cadernos de Memórias Coloniais (2009). De salientar no campo audiovisual as duas séries de ficção para televisão, respectivamente, sobre a história contemporânea portuguesa e sobre os retornados, produzidas pela RTP: Conta-me como Foi (2007/11) e Depois do Adeus (2013/15). A SIC Notícias produziu a série documental Era uma vez em África (2015). No teatro dá-se destaque: ao trabalho de Joana Craveiro (Lisboa, Portugal, 1974) com Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas (2014); ao espectáculo Zululuzu (2016) do Teatro Praga; e à peça Amazónia (2017) da Mala Voadora. Por fim, salientam-se as plataformas digitais: www.artafrica.info, iniciada por José António Fernandes Dias pela Fundação Calouste Gulbenkian actualmente coordenada pelo CEC — Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (até 2015 por Manuela Ribeiro Sanches); e o BUALA, desde 2010 com edição de Marta Lança. O projecto Africa.cont dirigido por José António Fernandes Dias desenvolveu uma actividade programática, de 2007 a 2017, na área das exposições, música, cinema, conferências e literatura, ainda que sem nunca ter tido um espaço físico atribuído. Nas artes plásticas a escassez crítica relevante retardou a discussão sobre o colonialismo e o pós-colonialismo.
Em diversos momentos e de formas diferentes, os artistas deste projecto têm aflorado a problemática mas, de modo mais abrangente, numa relação entre Arte e Política.
BATAILLE E AGAMBEN
Para se entender em que medida a Arte está relacionada com Política, será necessário recuar até a definição de arte proposta por Bataille em O Nascimento da Arte. Considerando as pinturas pré-históricas da gruta de Lascaux, o autor inicialmente nega a interpretação de que as pinturas se enquadravam na lógica da Arte pela Arte, muito em voga nos anos 50, negando ainda a função mágica ou compensatória das pinturas. Distinguindo utensílio de arte, Bataille revela que esta última tem um valor de oposição ao mundo que existia e que determina, em algum momento indeterminado, a origem do homem. Assim, propõe que a consciência humana se dá na compreensão da morte, do fim, algo que os homens pré-históricos não compreendiam. É nesta tomada de consciência da morte do outro, e consequentemente do eu, que surgem as primeiras manifestações artísticas – dolmens, antas e menires. Valorizando os despojos mortais, o homem pré-histórico põe de parte e vê o que lhe é proibido ou interdito. Para além da morte, o corpo e a sexualidade são também definidos como interditos como forma de criar vida. A transgressão dos interditos torna-se assim fulcral para a teoria de Bataille, que não reside apenas no desconhecimento, nem ignorância das regras do jogo, mas sim na deliberada suspensão temporal da realidade, ou seja, na festa. Bataille termina: “Se eu for compreendido, uma obra de arte, um sacrifício, participam de um espírito de festa que transborda do mundo do trabalho e constituem, senão a letra, pelo menos o espírito dos interditos necessários à protecção deste mundo.”
Com a proposta de Bataille, pressupõe-se que a Arte não precisa de uma linguagem definida nem de uma função utilitária para se constituir enquanto tal. Antes pelo contrário, o princípio da transgressão é, em si, um modo de disfuncionalidade revelada por algo novo, sem negar o conhecimento que tem da realidade presente e do seu passado. Neste sentido, não é forçado referir que, caso a Arte fosse parte de uma linguagem normativa, ou não transgressora, estaria ligada a uma propaganda do poder instituído, porque dela se esperava uma função reguladora e promotora do dogma social e político vigente, ao comunicar as façanhas de uma dada nação ou ideologia e que usa o passado como forma de legitimar o seu presente e promover o seu futuro. Sem este propósito, a Arte torna-se não-comunicação e, sem mensagem para veicular, pode livre e aleatoriamente partilhar o impraticável ou, como em Bataille, o interdito: a vida e a morte.
Assim, as obras aqui apresentadas não se colocam nem na esteira da esquerda radical nem da direita liberal. Estas obras não fazem parte de um programa político específico destinado à propaganda de determinado dogma. Antes pelo contrário, as questões e os problemas que levantam ficam em suspense, sem nenhuma resposta previsível. As suas estratégias ou dispositivos, apesar de diferentes, retrabalham a visualidade do passado e do presente sem que estejam inseridas num contexto institucional do poder político vigente nem, mesmo que aparentemente, dos seus opositores.
O conceito de dispositivo será útil para analisar as obras de arte ao confirmar a pertinência das estratégias utilizadas no seio do legado do colonialismo e pós-colonialismo. No texto “O que é um dispositivo?”, Agamben explica que Foucault procura “um conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, instituições, estruturas arquitectónicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas, em resumo: tanto o dito como o não dito, eis os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece entre estes elementos.” E acrescenta que, surgindo para responder a uma urgência histórica, o “dispositivo tem, portanto, uma função eminentemente estratégica” que se inscreve numa relação de poder. A partir desta premissa foucaultiana, Agamben propõe uma leitura mais ampla na qual o gesto, a acção ou o discurso dos seres viventes são controlados por tal dispositivo. Contudo, não se trata de destruí-lo, mas sim de subverter as formas de poder instituídas pelos dispositivos vigentes. Neste sentido o autor defende que este gesto é um acto de profanação, “isto é, da restituição ao uso comum daquilo que foi capturado e separado nesses” e um acto ingovernável, que funciona como oposição e contradição. Estes contra-dispositivos são definidos pelo jogo, poesia, amizade e o tempo. Estas características permitirão que as obras de arte, aqui apresentadas, questionem os dispositivos veiculados pelo senso-comum, pela comunicação social e pela história dominante, em prol de uma discussão prolífera a várias vozes.
DAS COISAS
Os artistas contemporâneos portugueses ou em diáspora em Portugal, presentes neste projecto, têm aflorado as questões de alteridade em diversos pontos de vista, que implicam uma visão crítica e pertinente do mundo contemporâneo. Pode-se reflectir sobre o modo como estes artistas forçam o negócio ou são impelidos por um negócio forçado, na medida em que se relacionam com a história recente, nomeadamente, a forma intencional ou casual como entendem e revelam as imagens que ainda persistem da expansão do antigo império colonial português. A origem latina da palavra negotium significa ausência de folga – nec é o advérbio de negação conjugado como otium, que significa ócio. Por um lado, pode-se referir que as coisas artísticas produzidas são sempre um modo forçado de negar o lazer e um modo trabalho no sentido de produção de valor no mercado capitalista. Mas, por outro lado, ao forçar o sinónimo de negócio com diálogo, pode-se afirmar que os objectos artísticos produzidos são um produto cultural de valor simbólico que revela mais uma relação, amistosa ou hostil, entre os diversos participantes de todos os lados da barricada.
RIGO 23 (1966, PT)
A instalação MUZOOS: 1968-2008 Quatro Séculos de Era Comum (2008) foi apresentada na Galeria 111, em Lisboa. Aliando na palavra MUZZOS museu e jardim zoológico, o artista questiona como os modos de visibilidade cultural são de igual modo apreendidos e utilizados pelos diferentes produtores, considerando que quer o museu como o zoológico são ferramentas científicas e didácticas que estruturam taxonomicamente o mundo e as coisas. A obra consistia em três jaulas com a dimensão de contentores marítimos com chão de terra batida e de pedra da calçada portuguesa. Dentro destas jaulas, encontramos diversos animais de madeira que são vendidos por vendedores ambulantes, geralmente de origem africana, em zonas turísticas, como se de artesanato cultural se tratasse. Ao organizar os animais segundo a sua espécie e as suas características semelhantes, o artista parece evocar uma certa segregação em guetos que, por questões sociais, económicas e culturais, estratificam e hierarquizam as sociedades actuais. Desde modo, estamos perante uma certa exclusão e discriminação social. Contudo, a ironia da instalação MUZZOS parece residir no facto de os animais estarem todos alinhados e dirigirem-se a uma abertura da jaula, em tudo semelhante às que podemos encontrar em jaulas de circo. Assim, apesar dos animais poderem escapar, estão sempre à mercê dos desejos e dos espectáculos dos homens dominantes e do seu poder infligido.
GABRIEL ABRANTES (1984, US) & DANIEL SCHMIDT
O filme A History of Mutual Respect (2010), como noutros trabalhos do artista Gabriel Abrantes – aqui em colaboração com Daniel Schmidt –, destabiliza, delirantemente, as relações pré-estabelecidas entre o poder colonial e as colónias autóctones. O trabalho do artista tem vindo a problematizar, muitas vezes cinicamente, as discussões relevantes da sociedade contemporânea, nomeadamente questões de género, sexual, colonial, racial, social, cultural e classe. Desta feita, dois amigos – os próprios realizadores – investem numa viagem “filosófica” à Amazónia brasileira para se encontrarem a si próprios. Na realidade, o propósito da viagem é o de perseguir e possuir mulheres indígenas a fim de geraram descendência mestiça. Contudo, a traição de um deles faz com que o outro regresse à sua vida burguesa em Lisboa. Sem colocar de fora a ironia e o imprevisível – por vezes pouco perceptível –, o filme deambula entre uma moral e bons costumes commumente com a sociedade ocidental e uma perversidade e insanidade desajustadas às boas práticas interculturais. Neste último sentido, podemos antever que os poderes políticos, sociais, económicos ou religiosos, ainda que imutáveis, são sempre proveitosos para um estilo de vida específico. Isto quer dizer que o poder dominante determina de um modo pretensioso e arrogante o que é o bem e o mal. Ao parodiar, confundir e denegrir as regras que devem reger o mundo, o filme questiona e abala a visão maniqueísta da sociedade, transformando-a uma narrativa obsoleta e conversadora.
VASCO ARAÚJO (1975, PT)
As obras de Vasco Araújo têm intervindo nas lides domésticas como modo de expôr a vida privada dos colonos e dos colonizados num contexto alargado de relações e direitos humanos: escravatura, violência, dominação. Ao recorrer a imagens de diferentes origens – fotografias de arquivo, gravuras, objectos domésticos do século XIX, esculturas africanas – o artista resgata o modo como a figura do outro foi representada na memória colectiva. Assim, Araújo questiona mais a autoridade e a legitimidade do poder colonial do que a verdade cultural sobre esse outro. As obras Botânica (2014) foram apresentadas numa exposição no Museu do Chiado, com curadoria de Emília Tavares. Neste caso, a confrontação torna-se mais violenta, apesar de camuflada pelas inebriantes folhagens tropicais. No conjunto de doze mesas de madeira com fotografias de plantas tropicais encravadas, este trabalho contesta e critica abertamente a interligação intrínseca de relações institucionais e relações sexuais, do poder exercido pelas nações ocidentais nas suas colónias. Esta interrelação é notória noutras imagens de arquivo também presentes nas peças, mas diferenciadas pela sua moldura prateada: de soldados tocando nos seios de mulheres africanas; de exploradores fotografados com pigmeus; a fotografia do molde do corpo de Saartjie Baartman (1789-1816), a jovem khoisan tornada célebre como “Vénus de Hotentote”; as fotografias de exposições etnográficas ou Village Nègre que se realizavam por toda a Europa no final do século XIX e início do século XX, nomeadas de Zoo Humains. Estas exposições, inseridas em exposições mundiais, pretendiam mostrar as espécies autóctones dos países colonizados: Zoologia, Botânica e Humanos. Deste modo, as populações colonizadas não eram consideradas humanas como as populações ocidentais. Estas Feiras serviriam para que o poder dominante subjugasse e humilhasse os seus colonizados e tudo o que representavam. Através da conjugação do objecto-mesa visto como dispositivo activo, entre quem vê e quem é visto, de encenação da realidade e das plantas exóticas que se encontram em cidades da ex-metrópole, nomeadamente nos jardins tropicais e botânicos de Lisboa e Coimbra, Botânica torna-se uma desconfortável visão da actualidade contemporânea. As plantas (exóticas) que penetram e se enraízam nas mesas (ocidentais), como se de um acto sexual se tratasse, invertem os poderes de outrora e incomodam os mais distraídos. De facto, o que identifica grande parte da cultura dita ocidental foi resgatado de outras culturas consideradas inferiores num passado recente. Esta desmedida, mas omitida e até negada, transformação ou nacionalização da figura do outro, reflecte sobre o cinismo e falsidade que ainda paira na nossa identidade. Esta projecção só se torna possível porque as histórias sobre a construção dos estereótipos que foram propagandeadas deixaram pequenos vestígios na memória colectiva dos que viveram essa realidade e dos demais que, através de documentos e ficções, perpetuaram o modo de ver e de sentir veiculado por esse poder: político, religioso e dos media.
PEDRO BARATEIRO (1979, PT)
As obras de Pedro Barateiro frequentemente realizadas através de recortes de jornais, fotografias de arquivo e pequenos artefactos, numa estratégia de trocas comerciais e culturais que tem amplamente discutido no seu trabalho. Ao reutilizar imagens de arquivo, o artista dá-lhes uma nova roupagem ao inseri-las no contexto sobre a situação social, política e económica da actualidade. Esta deslocação resgata a história recente para o cerne do problema das sociedades ocidentais, ou seja, o poder económico sobrepõe-se ao poder político e, consequentemente, à vontade popular. A obra Curfew/Cobrir o fogo (2013/14), revela-se uma interrogação sobre a relação entre o que se apresenta – a escultura em si – e entre o que é visto pelos seus espectadores – a envolvência. A figura bestial, metade humana metade animal, toscamente feita em terracota, apresenta-se numa industrial mesa contemporânea de vidro e ferro, é baseada numa outra escultura original realizada pelas tribos Luena, do Nordeste de Angola, e que actualmente se encontra no Museu do Dundo, construído pela Diamang - Companhia de Diamantes da Angola, em 1936. Nessa altura, foi desejo do poder colonizador guardar, preservar e apresentar os objectos de uma cultura que se encontrava sob o poder administrativo da metrópole, Portugal, como se se tratasse de uma cultura extinta e como forma de educar e civilizar a população indígena. Na obra de Pedro Barateiro, deslocada duplamente do seu espaço original, do original indígena e do museu, Curfew/Cobrir o Fogo apresenta-se estática e imóvel como que aproximando o passado para o presente. Esta reencenação coloca o espectador a ser vigiado pela história, pela sua história, de forma a questionar a sua posição e, também, o seu papel na relação com as ex-colónias e com o exercício de poder. Ou seja, como vê a história oficial e como pode contar a sua história pessoal. Curfew, significa toque de recolher, é um anglicismo para a palavra francesa couvre-feu, ou seja, cobrir o fogo. O artista reencarna dois papéis essenciais da sua identidade: como artista ao resgatar um objecto cultural de outra sociedade; e de comentador da história colonial e da situação política, social e económica recente. É nesta encruzilhada que se manifesta uma relação directa entra arte e vida. Por um lado, um sentido humano aparece na medida em que se trata da posição individual do artista perante a sua comunidade, por outro, um sentido político uma vez que questiona colectivamente o papel das instituições de poder nessa mesma comunidade.
FILIPA CÉSAR (1975, PT)
O filme-ensaio Mined Soil (2014) promove uma relação inquietante entre a história de Amílcar Cabral, como combatente e líder anti-colonial do Movimento de Libertação Africano e como agrónomo e investigador da erosão do solo na região do Alentejo, no final da década de 40. A montagem do filme resgata documentos da época, mas também apresenta elementos contemporâneos sobre a exploração experimental mineira de ouro que uma empresa canadiana está a efectuar na mesma região. Aliando estas duas tipologias de materiais documentais, este trabalho explora não apenas as subjectividades da memória de um passado recente, mas também a activação e a re-leitura na actualidade. Por um lado, ao apresentar o solo como um reportório de memórias e vestígios de uma história colonial, o filme revela uma profunda intimidade com a identidade construída através do estudo de vozes externas. Mas, por outro lado, o solo também é visto como um possível tesouro de exploração dos seus recursos por uma empresa estrangeira, que ao inverter a história colonial neocoloniza o solo nacional. Tal como o solo, o filme revela diversas camadas na relação entre mina de exploração de minério e mina terrestre bélica. Ambas requerem a utilização de um mapeamento que definem a sua topografia e a sua localização. Neste duplo sentido o “solo minado”, revela uma história de esperança na riqueza e na vida e de horror na pobreza e na morte.
ÂNGELA FERREIRA (1958, MZ)
As instalações de Ângela Ferreira, acompanhadas por notícias, imagens e outros documentos de arquivo, bem como de trabalho de campo — textos e fotografias —, têm levantado pertinentes questões sobre o legado dos impérios europeus: inadequação da arquitectura modernista ao continente africano; modos de propagação dos meios de comunicacão social; e métodos científicos de estudos antropológicos e sociológicos e os seus significados. O projecto Indépendance Cha Cha (2014) foi apresentado na Lumiar Cité, Lisboa, com curadoria de Jürgen Böck. A escultura de grandes dimensões constituída por uma estrutura em madeira, evoca a arquitectura colonial dos anos 50, presente na antiga capital do Congo Belga, e serve de ecrã para a projecção de dois vídeos. Um dos quais, documenta a performance que a artista apresentou na Bienal de Lubumbashi (2013), onde dois cantores, um rapaz e uma rapariga, cantam a canção “Je vais entrer dans la mine”, na língua predominante da região, o Kibemba, que narra a sua despedida aquando a sua descida às profundezas da mina. No outro vídeo, a banda do Park Hotel de Lubumbashi interpreta o hino “Indépendance Cha Cha”, composto em Bruxelas pelo músico congolês Joseph Kabasele, por ocasião do acordo de independência do país africano. Como noutros trabalhos da artista, documentos, fotografias e livros são apresentados numa vitrina à entrada da exposição e a música espalha-se pela via pública, como que interferindo com o quotidiano deste bairro social de Lisboa. Esta interferência torna-se mais pertinente se recorrermos à memória daquele espaço físico. Outrora foi um dos muitos bairros de lata que circundavam a cidade, sobretudo construídos no pós-25 Abril, com o regresso dos retornados e de imigrantes, muito ilegais oriundos das antigas colónias africanas.
KILUANJI KIA HENDA (1979, AO)
As fotografias e os vídeos realizados anteriormente pelo artista têm vindo a reflectir sobre os processos de edificação que o poder dominante tem inflectido nos povos dominados. Através da re-leitura de obras literárias ou de arquitectura modernista, as obras deste artista questionam veementemente o modo como as histórias são elaboradas e veiculadas no tempo. A fotografia Segundo Regicídio (The Black Square) (2018) fez parte de uma acção que o artista realizou no âmbito do projecto de intervenção em estátuas públicas Demythologize That History and Put it to Rest de Márcio Carvalho. Nesta ocasião, o artista interveio na estátua de D. Carlos I (1964), de Teixeira Lopes, no Largo da Ajuda em Lisboa. O rei português, conjuntamente com o alemão Otto von Bismarck, foram duas personalidades influentes durante a Conferência de Berlim (1884-85), responsável pela partilha do continente africano e pela regulamentação do comércio. Ao colocar um cubo preto na cabeça do rei, o projecto de Kiluanji Kia Henda parece criar um lugar de não conhecimento, uma espécie de não ouve, não vê e não fala, sobre a situação social e cultural do continente africano. Fruto de uma tradição ocidental, que culmina no dogma museológico do “cubo branco”, o cubo negro, neste caso, revela-se uma metáfora muito potente para criticar a continuada produção de estátuas e, através delas, das narrativas coloniais. Tal como nos museus, será necessário contextualizar as práticas de intervenção público para que se possa contar com uma discussão frutífera sobre as narrativas histórias num mundo contemporâneo desejavelmente promissor para todos.
DÉLIO JASSE (1980, AO)
As fotografias da série Desencontros (2011) são fruto do regresso, após 15 anos em diáspora, por Portugal, Bélgica e Itália, a Luanda, Angola, cidade natal do artista, onde residiu até aos 18 anos. Este regresso pressupõe dois lados opostos e conflituosos: intrínseco (o artista que regressa) e extrínseco (as pessoas que se estabeleceram na cidade). Será nesta penosa negociação que as obras do artista indagam sobre a sustentabilidade do mundo em que vivemos, marcando com especial atenção para as políticas angolanas sobre a exploração das riquezas naturais dos seus solos, nomeadamente: petróleo e diamantes. Por um lado, as expectativas emocionais do regresso são determinadas pela informação veiculada pelos estudos pós-coloniais que se fazem ouvir no ocidente, pelas notícias dos meios de comunicação ocidentais e por uma nova acuidade visual, social, política e histórica que a prolongada ausência pode provocar. Este novo discurso revela-se muito pertinente na avaliação – pode-se dizer, até, julgamento – de uma nova realidade balizada por outros pontos de vista, certamente críticos, mas também, envoltos de ideias, muitas vezes pré-estabelecidas – pode-se dizer preconceitos – que determinam uma visão exterior sobre uma realidade particularmente fechada e obscura. Nestes novos limites adquiridos, o artista, armado de novas informações que alteram a sua forma de ver, confronta-se com as suas memórias de infância e adolescência na revisitação de locais e pessoas que, também, se modificaram ao longo do tempo. Por outro lado, as pessoas locais, família e amigos, e outros novos intervenientes sociais da cidade, que têm uma visão política determinada sobre a terra onde vivem, decepcionam-se com a nova posição crítica defendida pelo artista. Este desencontro é a matéria com a qual as fotografias se constroem. Munido com uma máquina fotográfica, o artista desenvolve uma série de fotografias entre o documental e a figura do flâneur, deambulando por locais outrora do seu quotidiano. Contudo, as imagens finais apresentadas desenvolvem-se a partir de dípticos que destabilizam o mero olhar fotográfico, através da técnica de impressão que o artista tem desenvolvido e com a introdução de imagens oriundas de diversos locais do mundo. Deste modo, o artista coloca-se numa realidade indefinida, entre a verdade e a falsidade, estabelecendo uma atenda e acutilante visão sobre as suas memórias e sobre o presente que se estabelece perante si. Através de uma edificada memória idílica questionada por um injusto presente incerto, as políticas sociais e económicas que o estado angolano sustenta pressupõem uma discussão mais alargada e livre do que aquela que tem surgido a público. O artista não determina dogmaticamente a sua posição, apenas aponta múltiplos caminhos, desmultiplica pontos de vista para que se possa reflectir de um diferente modo sobre a sustentabilidade de uma terra particularmente sua.
GRADA KILOMBA (1968, PT)
Escritora, teórica e artista multidisciplinar, Grada Kilomba tem produzido obras que relacionam conceitos mais abrangentes, como género, raça e classe. Em diversos meios artísticos – performance, vídeo-instalações, textos, conferências – a artista desconstrói o conhecimento colonial e pós-colonial num espaço híbrido entre o conhecimento científico e académico e a prática artística e cultural. A vídeo-instalação The Desire Project (2015-16), apresentada originalmente na 32.ª Bienal de São Paulo e posteriormente no MAAT – Museu de Arte, Aquitectura e Tecnologia, divide-se em três partes: While I Speak, While I Write e While I Walk. Trata-se de três vídeos distintos em que a palavra escrita a branco sobre um fundo negro é o único elemento visual. O discurso veiculado revela um sujeito que foi silenciado pelas narrativas coloniais e pós-coloniais. As frases e as palavras em sequência vão, por vezes, questionando, outras afirmando, os modos como se interroga ou como se escreve sobre as memórias coloniais e como ecoam na contemporaneidade. Comprometida com uma linguagem subversiva e alinhada com as problemáticas identitárias da diáspora, a vídeo-instalação revela-se num momento crucial para a reavaliação história e a criação de novas narrativas que promovam a imagem e a cultura das comunidades colonizadas. Neste sentido, a voz e a palavra ganham um novo lugar da fala, mais inclusivo e justo.
MANUEL SANTOS MAIA (1970, MZ)
Desde 1999 até 2014, o artista desenvolve o projecto Alheava que, através de diversas práticas artísticas – som, vídeo, fotografia, performance, instalação, intervenção no espaço público, pintura e escultura –, tem sido apresentado em diferentes espaços expositivos. A partir de 2014, o projecto inicia uma outra fase, no momento em que o artista retorna à sua terra natal, Nampula em Moçambique, depois de 40 anos de ausência e após mais de uma década, para redescobrir e reflectir sobre o lugar, as estórias e as memórias criadas. No início do projecto o artista, partindo da memória individual e familiar, indagava sobre os mecanismos sociais e políticos que levavam ao alheamento nacional à sua história recente colonial e pós-colonial, nomeadamente, sobre a guerra e ao processo de descolonização em 1974. No segundo momento, o artista ao confrontar-se com os locais físicos e emocionais das suas memórias, reflectia sobre as ligações possíveis entre Portugal e África, dando continuidade à construção de uma identidade multicultural complexa e híbrida. A pintura de mural Alheava_Moçambique Branco e Portugal Negro (2003-2009) critica laconicamente a forma como se propagandeou a histórias do poder colonial. O desenho do mapa de Portugal a negro dentro do mapa de Moçambique a branco opera em duas dimensões. Por um lado, influenciado no mapa “Portugal não é um país pequeno”, de 1934, organizado por Henrique Galvão, numa edição da Câmara Municipal de Penafiel, foi amplamente difundido no Estado Novo por diversas ocasiões para demonstrar a grandeza do país em comparação à Europa, porque se adicionava à dimensão continental a dimensão das suas colónias. Neste sentido, ironicamente, o mapa de Manuel Santos Maia, mostra um país pequeno que cabe dentro da sua grandiosa ex-colónia. Por outro lado, a parede em que a pintura está realizada foi totalmente pintada de preto e o mapa de Moçambique foi delineado a branco, mais concretamente do estuque em ruínas que está debaixo da tinta. Deste modo, ao escavar a tinta que se foi acumulando nas paredes, parece que se resgata a história que se foi enterrando, trazendo uma nova luz e uma nova visão.
MÓNICA DE MIRANDA (1976, PT)
O vídeo intitulado Beauty (2018) foi apresentado na exposição Tomorrow is another day, que a artista realizou na Galeria Carlos Carvalho, com curadoria de Cristiana Tejo. Nessa ocasião o vídeo foi projectado numa estrutura de madeira forrada com uma cortina preta e com uma parede, oposta à projecção, em espelho. Este dispositivo faz com que o espectador se sinta dentro do próprio vídeo, como fazendo parte da sua narrativa. A música, autoria de Soundslikenuno (Chullage) vai embalado o espectador nesta narrativa inebriante. No início do vídeo, uma mulher negra deambula por um atelier de esculturas académicas e clássicas e por uma sala de aula em que a anatomia dos exacta corpos ressalta do quadro de ardósia. Os monumentos têm a capacidade de fixar momentos e histórias que se querem enaltecer. Contudo, ao riscar e apagar o quadro de ardósia e nas ruínas de algumas esculturas apresentadas parece existir uma vontade de questionar o modelo e recontar essas mesmas narrativas. Esta mesma mulher aparece à frente da Tour de l’Échanger, projectada pelo arquiteco franco-tunisino Olivier-Clément Cacoub, em Kinshasa, República Democrática do Congo, entre 1970-74. Este monumento foi mandado erigir a pedido do ditador Mobutu Sese Seko, como homenagem a Patrice Émery Lumumba, um dos principais líderes contra o domínio colonial belga. Ao confrontar a beleza e a fragilidade desta mulher negra com um vestido branco com a dureza das formas cilíndricas e em betão deste arranha-céus, bem como o confronto com outros edifícios da cidade, a artista pertinentemente questiona a imutabilidade dos corpos livres perante as ideologias totalitárias e dominantes.
JOTA MOMBAÇA (1991, BR)
Ao autonomear-se como “bicha não binária guerrilheira” e/ou Monstrox e/ou K-trina Erratik, Jota Mombaça centra em si mesma, no seu corpo e na sua forma de estar e de reflectir o mundo, a ferramenta ideal para os seus trabalhos como escritorx, investigadorx e performer. Através das teorias queer, feministas, pós-coloniais, aliadas às questões de luta de classe social e, sobretudo, económica Jota Mombaça tem vindo a confrontar a hegemonia cultural do poder instituído e, deste modo, desconstruir conceitos racistas, homófobicos e classistas. Parafraseando o ensaio da filósofa indiana Gayatri Spivak “Can the Subalttern Speak?” (1988), o texto Pode um cu mestiço falar? (2015) questiona veementemente a voz e o discurso do “lugar da fala” na medida em que qual é a posição e a origem de quem o dirige e para quem é dirigido. O texto sugere que os discursos veiculados pelo poder dominante servem para dominar e apagar a voz dos dominados. A interdição da fala por parte de uma certa academia desenvolve um conhecimento “sobre os povos africanos sem que o saber dos povos africanos, ele mesmo jamais seja levado em conta.” Esta exclusão também é válida para os discursos cisnormativos em relação a pessoas trans*. Jota Mombaça refere que a inclusão de teóricos negros na academia brasileira veio permitir alargar as pesquisas em torno destas problemáticas. Contudo, apesar desta abertura e da sua capacidade, trata-se de questionar que espaço ou posição lhe é dada para falar ou responder. A pergunta ecoa, porque o subalterno não tem um lugar para ser ouvido e tem sempre que se posicionar para que possa ocupar o seu “lugar da fala”. A estratégia passará por forçar esse lugar com o intuito de garantir legitimidade aos discursos realizados desde a subalternidade. Neste sentido, o fazer-se ouvir é em si mesmo uma acção politizada que instiga ao ruído para a destabilização ou descolonização da hegemonia existente. Será nesta cacofonia artística, sem dúvida, díspar da metodologia académica que se reivindica e conquista uma possibilidade de o discurso ser ouvido. Assim, Jota Mombaça propõe que através do daquilo que não tem prenuncia de conhecimento, o cu, se possa articular um discurso disruptivo que mine os pensamentos ocidentais e heterossexuais. A disruptividade torna-se ainda me premente se associada à mestiçagem, nomeadamente, da língua que se fala. A autora termina afirmando qua ao contrário da resposta negativa de Spivak, só é possível a fala subalterna se for a voz de um cu mestiço.
JOÃO PEDRO VALE (1976, PT)
A obra Barco Negro (2004) de João Pedro Vale, realizada com materiais pobres, subverte a tradição da Nazaré para decorar as suas embarcações típicas. Neste caso o artista relaciona a expressão “Deus, Pátria e Família” que mais tarde se revela na expressão “Fado, Fátima e Futebol”, como crítica à forma como se usa e se usou a cultura popular como veículo para a promoção dos valores do poder dominante. Numa clara alusão à tradição enraizada na cultura portuguesa pela fauna marítima – presente como sustento económico durante séculos, mas também como saudosismo na glória época dos descobrimentos – o barco fantasma parece emergir das trevas e traz consigo a terrível constatação do naufrágio que a sociedade de encontra. Contudo, a emersão não se revelando o D. Sebastião no nevoeiro, constata sim um sentimento negativo e sem esperança de futuros dias melhores. Os objectos negros que revestem todo o barco – pão, flores, velas, santos, fitas – testemunham simbolicamente rituais de muitas comunidades piscatórias que acreditam num efeito religioso e mágico na salvação das almas ou no bom retorno do mar. A ruína que se eleva numa jangada precária e à deriva é, talvez, uma das imagens mais certeiras e pertinentes que questionam afinal o que é ser português.
FRANCISCO VIDAL (1978, PT)
A performance a decorrer durante a exposição intitulada Utopia Luanda Experience (2016) que o artista realizou na Galeria Baginski, activa a escultura/instalação Utopia Luanda Machine (2012-15). Este dispositivo trata-se de uma máquina de produção próxima do industrial, que reflecte sobre as produtividades fabris na construção de uma cidade ou sociedade utópica. De facto, o artista, nascido em Lisboa, mas com ambos os pais de origem africana – Cabo Verde e Angola – tem vindo a reflectir sobre a edificação da sua identidade em comparação e relação directa com os seus antepassados. Através da criação de um estúdio serigráfico, que permite a produção massificada de imagens, o artista cria um duplo gesto que promove a aculturação entre os seus intervenientes. Por um lado, a utilização da escultura/instalação como um espaço social em que é possível colaborar num projecto comum, permite a discussão sobre o estatuto das obras de arte e a sua pertinência nas sociedades. E, por outro lado, a activação desta máquina, quase industrial, questiona o papel da classe operária na produção artística e critica a produção capitalista da arte e o seu papel no desenvolvimento e na gentrificação das cidades. Ao longo do projecto o artista realizou as obras in loco e preencheu quase na totalidade as paredes da galeria, numa lógica de ocupação em contraponto com institucional parede branca.
YONAMINE (1975, AO)
A obra de Yonamine Pão nosso de cada dia (2016) foi apresentada na exposição individual Não Sou Santo que o artista realizou naCristina Guerra Contemporary Art, em Lisboa. A instalação consiste num mural, semelhante a uma parede de azulejos, realizado com torradas de pão de forma, em que se conseguem ler números zero, um e oito e identificar o retrato do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Este código parece revelar, cinicamente, a necessidade ou a obrigação da veneração do poder vigente como forma de sobrevivência. O artista, pessoalmente, problematiza a questão das identidades plurais e de como estas se relacionam com a história social, política, económica e cultural do mundo globalizado em que vivemos. A discussão não passa pela crítica da figura do outro, mas sim a forma como se critica a posição interiorizada sobre as diversas problemáticas vigentes. Neste sentido, a identidade de um povo, cultura, nação ou país é mais o modo em como esta se relaciona (mimetizando ou diferenciando) com o que lhe é externo e menos com a forma como se apresenta isolada com as suas características próprias e únicas.
RANCIÉRE
Assumindo-se que a Arte tem um conceito em si estável e inerente à sua própria condição, independentemente da época em que é produzida, que reside exactamente na forma de transgressão ao instituído, podemos afirmar que, nas sociedades contemporâneas, este escape ou fenda no poder tem carácter político. Em Dos regimes da arte e da inconsistência da noção de modernidade, Ranciére propõe um regime específico de identificação das artes: o ético como a arte como imagem e objectivo; o poético ou representativo identifica o fazer das artes; e o estético como um “modo de ser específico daquilo que pertence à arte” e, acrescenta o autor, um “momento de pura suspensão, durante o qual a forma é apreendida em si mesma, mas também é o momento da criação de uma humanidade específica.” É neste sentido estético que se encontra a autonomia da arte como linguagem desvinculada da comunicação. O autor identifica também a vanguarda que conecta secretamente estética e política. Por um lado, existe subjectividade política em certas formas, por outro, uma antecipação estética por vir. Nesta relação sensível, é possível re-interpretar as obras de arte analisadas neste texto. Em certa medida, os artistas interessam-se por formas estéticas que carregam consigo memórias históricas recentes que tentam antecipar uma discussão política pertinente na sociedade em que estão inseridas ou visualizadas.
Analisar, questionar e discutir, em vez de responder e dogmatizar, foi o fio condutor, que, sem constrangimentos ideológicos ou políticos, permitiu problematizar criticamente a posição da Arte no seu meio social, cultural e histórico. Por intermédio da obra destes artistas, tentou-se desvelar o modo, ou os modos, como a Arte Contemporânea intervém nos contextos políticos, nas suas práticas e nas relações de poder e, ainda, como essas relações de poder minam as imagens e as ideias que temos pré-concebidas de determinado acontecimento histórico. A revisitação da história pressupõe, à partida, um estabelecimento conceptual entre o presente e o passado. No entanto, não serviu aqui como forma de julgar ou condenar obscuramente os acontecimentos anteriores, mas sim para reflectir sob uma nova luz que os conceptualize num contexto mais abrangente e multidisciplinar. Neste sentido, pretendeu-se entender em que medida e de que modo a produção artística se relaciona com a comunidade em que se insere, de forma a percepcionar a sua importância e o seu poder em desbravar novos caminhos, re-encenando constantemente o passado e reavivando as nossas memórias, intervenientes em dado momento e espaço nos quais se apresentam e, consequentemente, no seu gesto transgressor num futuro próximo ou, como Ranciére projetou, numa comunidade por vir.
Abril, 2019
BIBLIOGRAFIA
- AGAMBEN, Giorgio, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma, 2006 (Trad. Vinicius Nicastro Honesko, “O que é um dispositivo?”, O que é contemporâneo? e outros ensaios, Editora Argos, Brasil, 2009)
- BATAILLE, Georges, Lascaux ou la Naissance de l’Art, Skira, Genève, 1955. (Trad. Aníbal Fernandes, O Nascimento da Arte, Sistema Solar, Lisboa, 2015)
- FOUCAULT, Michel, Dits et écrits 1954-1988, Vol.III, Éditions Galimmard, Paris, 1994.
- RANCIÉRE, Jacques, Le Partage du Sensible, La Fabrique-éditions, Paris, 2000 (Trad. Vanessa Brito, A Partilha do Sensível, Dafne Editora, Porto, 2010)