A desocultação da arma ou Éter de António Cabrita
Uma escavação é uma forma de escrita e a escrita é uma forma de escavação. A diferença está na densidade de ambos os pontos de partida. Na escrita avança-se do espaço em branco, ou seja do vazio aparente, para a selecção e inscrição de formas. Na escavação avança-se do espaço negro, ou seja de uma realidade aparentemente saturada, para a selecção e decifração de formas. Na escrita inscreve-se, na escavação decifra-se. Num e noutro caso, há sempre um continente novo que se desbrava e que se descobre. Assim, pelo menos, se deseja que possa ser.
E só há uma solução para o escritor: continuar sempre a escavar, remando na escuridão e contra a escuridão. Remar sobretudo contra o néon branco e ilusório que persiste em querer oferecer-nos uma atmosfera que repete insoluvelmente o mesmo tom. Um tom (por vezes disfarçado de literatura de bilros) que cansa, que reduplica e que não nos reinventa. Um tom que não é abismado.Mas há mais: além de arqueólogo do insondável, aplaude-se ainda o escritor que avance contra o atrito do território dado e adquirido, sem ter a montante uma tutela ou um mentor, nem que seja o mais afamado dos epicuristas, o mais impiedoso dos sonhadores solitários ou o mais docemente infame dos poetas malditos.
Mais ainda, dir-se-ia: um escritor (como os que encontramos na Abysmo) sabe vencer a barreira da arqueologia negra e também a escarpa da inscrição autónoma e livre, mas irá certamente mais longe, pois aprenderá a respirar a literatura, não como uma redenção inflamada, mas antes como um fole que se abre através de um fôlego de afectos, de cimento imaterial, por outras palavras: de uma família em que o “y” vale pela própria forma da descoberta que não cessa.~
Tudo isto encontramos concentrado em Éter de António Cabrita: prospecção às camadas profundas dos achados expostos e às vezes feridos pelo tempo, afirmação independente e muito singularizada dos materiais e, por fim, a assunção de que o território enunciado é um esteio de partilhas seguras, densas e amiúde moldadas pelo desejo. Comecemos pela culpa, esse ‘big bang’ sem data que amarra a voragem do cosmos (ou a fúria do sentido) a um pudor feito de nada.
Prometeu roubou o fogo aos deuses e recusou a culpa, mesmo sujeito aos maiores tormentos. Nos antípodas do pecado original e da queda livre que ele implica, desacorrentou os desejos e impô-los ao mundo baralhando a saga do bem e do mal. Dácio, em Coração quase branco, a história de um alfarrabista que matou a família suicidando-se depois, incorporou, ainda que na iminência de um único instante, o desígnio de Prometeu, mas fê-lo para, cito, mostrar a si mesmo que não era “cobarde, acreditando que aquele gesto se repercutiria na marcha do mundo”. Num outro dos oito contos de Éter, Kamasutra para rouxinóis, António surge num diálogo entrecortado com a mulher e o seu neto, Toninho, e confessa a certa altura: “Só depois de navegarmos nos meridianos do mal é que nos tornamos capazes de escolher” (…) “A única forma de ultrapassar um abismo é mergulhar no seu fundo. Foi o que sempre nos separou, a tua incapacidade para aceitares em ti o indesculpável”.
O indesculpável ou o sacrilégio que Nietzsche diria ser a qualidade mais elevada que a humanidade poderia adquirir. É por isso que o narrador de Coração quase branco, um ornitólogo, cujo ofício permitiria tornar-se no Héracles que matou a águia que ameaçava Prometeu, repete várias vezes a mesma pergunta ao longo da narrativa: “E se eu tivesse uma arma?”. Sim, a possibilidade paira, ilesa e capaz de passar de potência ao acto, sem que qualquer predomínio o impedisse. Pergunta o narrador: “Que predomínio impede o cão de mijar? Não há nuvem, anjo, cometa, ramela de Deus que impeça o canídeo de expelir num espasmo os líquidos que retinha, se tal lhe for necessário. Do mesmo modo que nenhuma árvore se inclina para oriente, se um cão mija na sua caldeira. Que te podia impedir, naquela noite, de dobrares a caçadeira ao meio para a aviares de chumbo?”. Como se segredará em Kamasutra para rouxinóis, “A literatura não tem moral”.
Dir-se-ia mesmo que a realidade da literatura é como um espelho deformado que dá corpo e depura as imagens que muitas vezes nem conseguimos situar ou interrogar. Elas impõem-se, por si, tal como acontece no segundo conto da colectânea, Chinas e matraquilhos / um réquiem para três gerações, a história de uma família que tenta reatar uma espécie de eldorado perdido. Pai e dois filhos viajam pela Catalunha, na – cito – “única (viagem) que em muitas décadas fizéramos em comunhão” e, de um momento para o outro, no banco de trás, o pai morre e fica com aquele “fácies repousado de quem aguarda sobremesa e fecha momentaneamente os olhos, no antegozo do leite-creme”.
A figuração está lançada e o destino imediato também: regressam a Portugal à margem das leis e das burocracias e esperam que um médico amigo solucione a sempre caudalosa logística. Mas surge um inesperado ponto de viragem: o carro é roubado. A partir daí, é o pai, acompanhado no porta-bagagens por um outro cadáver de olhos em bico, que narra a bússola dos acontecimentos que se vão expandindo. Fala-nos desse outro lado do espelho deformado que, ao jeito de um oráculo críptico, nos interpela: “O meu espírito alçava-se, leve, uma penugem aliviada de escória ou de limalha magnetizada, e deu duas voltas à viatura, adejando em redor do tejadilho. Desfrutava a sensação de me sentir fora do corpo, de ver o meu filho a fumar ao lado da minha carcaça, e a minha filha, à frente, muito crispada, com todos os poros a latejar de forma imperceptível para um olhar comum, não subtil como o do espírito”. No final, é a velada recuperação de uma harmonia possível, que se augura: “O mistério que seria a descoberta dos nossos cadáveres, juntos. Que grande oportunidade para os meus filhos voltarem à fala, debaterem, amenizarem arestas”. Grandes males que vêm por bem.
O beijo no arame e o já aqui aludido Kamasutra para rouxinóis enunciam percursos do desejo. Por outras palavras, nesses dois contos o homem eleva-se e “inclina-se” para se saciar ou, em alternativa, agarra no leme que ainda lhe reste para “morrer junto” com a amada, como se dizia nas canções de gesta medievais. No primeiro conto, o itinerário é histórico e visa a consumação de um beijo (essa “criatura ínfima, invisível, que vive em metades separadas”). Com Carla foi adiado, com Iva nem de reanimação, com Lúcia foi a maçã que se lhe “antolhou na garganta”, com Vera terá sido o cromatismo da pele, com Eduarda o peso do “Je t´aime, moi non plus”, com Rosário o alarde dos gnósticos egípcios e só com Cândida, nos simbólicos idos de 25 de Novembro de 1975, é que o protagonista consuma finalmente o desejado beijo ao jeito de um “tufão luminoso”.
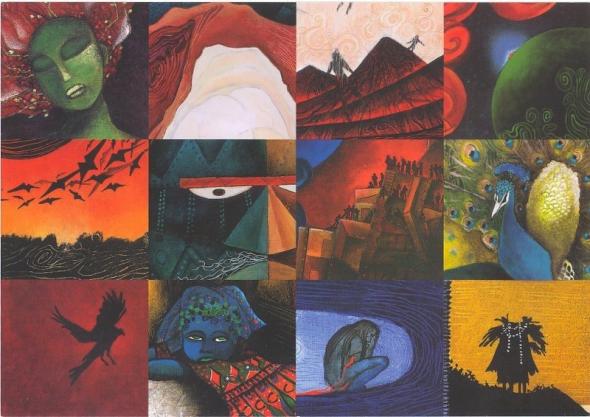 ilustração de Ivone Ralha
ilustração de Ivone Ralha
Este percurso faz lembrar um filme da época, Genou de Claire de Eri Rhomer, em que o fruto perseguido é um joelho e não um beijo. Para diagnosticar a era em que “Helga, segredo de Maternidade”, a história de um simples parto, transformou o cinzentismo marcelista numa strip indecorosa de vagina escancarada, O Beijo no arame torna-se particularmente eficaz, na medida em que articula a ironia cáustica às pegadas do tempo que a amnésia colectiva promete elidir. No segundo conto, o itinerário é enunciado em contracampo cinematográfico e, a par de Amélia Beat, a cantora cortejada na calçada portuguesa, e dos casamentos encalhados (e ainda da transumância entre a página em branco do escritor desalentado e a levitação adormecida do professor), a desejada chama-se Helena, a mulher da “vaporosa capulana” que tinha tranças “compridas, volumosas, mescladas”, dando a certeza de que, afinal, “a Medusa era africana”.
Talvez porque quem vê a cabeça de Medusa fica petrificado, António, o protagonista, ameaçado pelo cancro e por uma amálgama de perdições “vazias e açoitadas pelas dúvidas”, trocou o caralho por um pássaro de nome Cardeal (que comprara na rua, depois de perguntar ao vendedor se não crescia mais) e foi assim que amou a Medusa Helena. Leiamos compassadamente o delicioso epílogo do conto: “Inclinou-se para o sexo dela e começou a lambê-lo, um insuflado entre rápidos. Mal se sentia a sua penugem rala, macia. Chupou-lhe o clitóris e ela escancarou as coxas, antes de voltar a contraí-las à volta da cabeça dele. Esfregou, suavemente, o seu rosto na vagina, lavando-o. Estava escorregadia, dilatada, suculenta./ Pegou no pássaro e enfiou-o nela. Deslizou, à medida. De rabo, o bico para fora. O expansivo coração do pássaro, a sua penugem e as suas asas, começaram a pulsar. Ela arregalou os olhos, ao sentir aquele corpo vivo, frágil, a latejar no miolo das suas paredes húmidas. Ovo que antecipa a vida. E então o cardeal desatou a cantar.”.
A literatura sacia, de facto, aquelas imagens que muitas vezes nem conseguimos interrogar. A ave tutelar que surge no conto, com as suas “bandas vermelhas e amarelas”, é quase a mesma que, em A Sangue Frio de Truman Capote, faz levantar no ar o ‘serial killer’ Perry, podendo assim, mais leve do que ratinho, ver de cima a praça da cidade, o xerife e todos os habitantes furiosos por vê-lo livre, poderoso, tal como o Prometeu reconstruído, refeito. No fundo, a cena permitiria a António de Kamasutra para rouxinóis responder ao ornitólogo de Coração quase branco como se lhe dissesse: ‘Sim, eu tinha mesmo uma arma e usei-a para saciar o sacrilégio, o abismo ou a imagem de um “Jacinto ferido mortalmente pelo disco de Apolo”. Ter uma arma nem sempre é ter um móbil para o crime. Pode o móbil estar ausente e a força da arma ser então uma bênção ou uma assombração, como acontece com o vento forte do Tejo no conto Os canários de Chernobil.
Em Cemitério de navios / uma curta-metragem para Walter Matthau, a história coloca em cena um cão que subitamente morre: “Há um contorno, um arco que se desfaz noutro, a curva do dorso e a cauda, inerte. Pontapeia-o, meigamente, num aceno. O cão não desmancha a simetria. Está morto.”. No final, o protagonista – um cooperante francês chamado Raoul - caminha solitariamente pelas ruas de Maputo com um saco onde guarda o cadáver do cão e uma samarra coçada. Sem que nada o fizesse prever, um “homem de rosto bondoso”, um “antigo combatente que caíra na indigência” rouba o saco. O homem é o violador da “zimbabuiana”, uma estudante de arte que partilha memórias e proximidades com Raoul. O roubo transforma-se numa captura de identidade e Raoul acaba por regressar a casa, imitando o cão e mijando como ele de perna alçada. Um xamamismo que parece desocultar “um pretérito de todo apagado”: sigamo-lo por momentos: “Raoul, de pénis desfraldado, rindo como o rato Félix, passou à moita seguinte, ergueu de novo a perna num ângulo de 25º e emitiu o seu jacto. Tinha os olhos franzidos de riso mas divisou uma dúzia de arbustos e moitas até chegar a casa. Havia muito trabalho a fazer. Hercule estava de volta”.Antes de Etér ser rematado com uma apoteose da imortalidade, Aleluia: os dias da raiva dá-nos a ler um golpe de estado em que são usados centenas de “cães raivosos” que se “desdobravam num vaivém, em todas as direcções”, tornando o congresso partidário da Zanu num caos. Uma mulher chamada Vanessa salta para as ramagens de um canhoeiro e vê aí nascer o seu filho, troca o pai pelo tenente que a salva e antes hesita entre dar ou não a mão à figura pouco venturosa de Mugabe. O argumento tem o alento de um final feliz, apesar de tudo o que se passa corresponder a um face a face entre situações, personagens, exclusões, acasos e contingências que convivem com o atrito de um mesmo tempo. Com o inventivo sopro de um mesmo putch.
É, no entanto, bem verdade que a comunicação mais produtiva da espécie humana tem sido sobretudo diacrónica e não tanto sincrónica. Continuamos ainda hoje a dialogar com Platão, com Chaucer, com os estóicos ou com Monteverdi e é possível que uma mensagem, um dia, nos chegue oriunda de outro tempo-espaço ou de outra galáxia. Ser contemporâneo é um aceno episódico, ainda que denso, e, no entanto, é nesse arco do possível e do impossível que o sentido se apõe aos nossos gestos vitais. É por isso que o protagonista de A vã memória póstuma de AC, conto que encerra Éter como um contragolpe que permeabiliza a lucidez, exclama, ao sentir que a sua vida se teria perdido: “…foda-se, nunca irei a Veneza, não vou ter dois meses para ler exclusivamente e de cabo a rabo Os Cantos, de Pound, nem para reler a Divina Comédia, não vou conhecer os próximos livros de Christian Bobin, não irei ao Japão seguir as pistas do Dogen, o meu segundo sonho mais renhido, porra, lá se me vai a oportunidade de voltar ao Prado e às salas do Goya, e ainda nem cumpri a promessa de passar uma semana a ouvir, e somente, as sinfonias do Mahler…”.
AC estava no elevador e, de repente, o mundo diluiu-se e, num ápice, ou seja, “quatrocentos anos depois”, vê “decomposto (…) aos pés do laptop” o seu próprio esqueleto. E então confessa: “Não compreendi de imediato, parecia-me um daqueles artifícios que só o cinema executa habilmente, um efeito especial que afundara as carnes no cálcio exposto. O laptop, entretanto, estava oxidado, mas quase incólume…”. A descoberta do laptop foi considerada um verdadeiro achado na posteridade. Um cyborg assexuado desencriptou os PDF, os ebooks e o Word. E o mais sensível desta ficção (tão sagaz quanto realista) ressalta das traduções com que um dado mundo acaba por nunca se transpor num outro (até porque uma tradução não é nunca uma operação linguística, mas tão-só uma dupla conversão em que o escuro e o claro coabitam numa gramática de incertezas).
E com a devida dose de comédia, ou, se se preferir, com aquilo que levou Derrida, no seu Glass, a identificar a tragédia com uma “guerra que relevaria a uniteralidade da consciência individual”, uma sequência original escrita pelo mais do que suspeito A.C. como – “Litos penetra-a e entrança-lhe o corpo nos braços e Argentina ouve a bola de basquete no piso de cimento do campo de treinos, nas traseiras da casa. Argentina agarra-se ao sincopado ritmo da corrida dos miúdos, aos seus gritos…” – é, singularmente, traduzida por – “Ao invés de tomar o cavalo imediatamente, Litos segura o cavalo com o rei a fim de dar ao seu rei uma casa em d8. Apesar de o rei preto usar duas jogadas para alcançar d8 depois de 8… fxe6, 9.Bg6 (…)”.
 ilustração de Ivone Ralha
ilustração de Ivone Ralha
A colectânea Éter termina com fôlego questionador, tal como se iniciara. Como se a pergunta mais seminal – de que serve, afinal, a arma que nos faz armados (armados de cultura, armados de sentido, armados de morte, armados de merda ou armados de sexo)? – se pressentisse nas palavras quase finais de AC que aqui transcrevo: “Nas mãos deste bárbaro não passo de uma quimera, do fantasma do centauro que após séculos em fuga é capturado pelo zelo do intérprete que o quer converter em castrato. De que me serve o reconhecimento dos vindouros, se, sem as pitadas de sexo, ninguém desenjoar das baboseiras que lhes servi?”. Talvez aqui resida o segredo do Éter que António Cabrita manufacturou. Entre o éter, a eternidade, o além e o vórtice do ‘agora-aqui’ (onde sussurramos como Mugabe a subir, atrapalhado, por entre os galhos de uma árvore, diríamos, um pessegueiro) existe apenas uma fracção. Uma minúscula fracção. Ou melhor: uma bruma que só não nos domina por completo, porque aprendemos, desde Delfos, desde Homero e desde os versos do ficcional primeiro Isaías a lidar com o mistério.
O pai de António, em Chinas e matraquilhos / um réquiem para três gerações, disse-o com clarividência: “A minha morte repentina arrefeceu um pouco o reencontro – mas fica o insólito da situação, o mistério, e, onde se aloja, o mistério instaura uma necessidade de compreensão, que terá de ser partilhada, de abrir-se ao diálogo”. E é isso que continuaremos a fazer com Éter de António Cabrita nas nossas mãos: a dialogar com as sementes de um livro que já foi e que está todo ainda por escrever. Até porque a parte principal que o diz permanece tão oculta e desarmada, quanto a arma imaginária do ornitólogo que nos revelou o seu Coração quase branco. O seu próprio Éter. “Até porque/ o tempo tem por si a funda de David”, como escreveu em Bagagem não reclamada (2013) o próprio António Cabrita.
 António CabritaVivemos num tempo em que as simulações de instantaneidade sugerem o domínio de tudo e em que o nada – ou o vácuo – se converteu num conjunto de episódios, cujo denominador comum é aquilo que, apesar de tudo, nos escapa, seja o anátema da reciclagem, seja a ordem do imprevisível que condiciona a propagação da vida em fluxos, seja o ruído que se intromete no feixe global dos sinais. O nada equivale ao segno do mundo pré-moderno ou ao éter do mundo de António Cabrita, isto é, àquilo que ‘escaparia ou resistiria à ordem natural ou possível das coisas’, do mesmo modo que o uso feérico da instantaneidade na actualidade equivale, de certa forma, ao simulacro de uma redenção (ou àquilo que era a salvação num patamar pré-moderno). O éter surge na equação literária de António Cabrita como a matéria informe de onde se desprendem os laivos da memória que insistem em dar sentido à nossa subjectividade. À nossa própria inscrição.De facto, a memória é sempre uma promessa. Ela caminha na nossa direcção e diz-nos que é nossa, insinua-se. Pede que a agarremos e, por vezes, de tanto prometer quase que goza connosco. Como acontece na parte final de kamasutra para rouxinóis, em pleno contracampo entre Amélia Beat e António, quando a promessa surge como uma “mentira consentida” ou como uma “despedida digna”. Os dois personagens prometem passar a ver-se uma vez por ano: “– Prometes? / – Prometo. E digo-te mais” (…) “se tu conseguires chocar um ovo de pata… Pensas em mim, em nós, e todos os dias dedicas uma hora a aquecer o ovo entre as pernas, nua, o ovo cingido ao teu sexo, húmido e quente… se o conseguires chocar e enviar-me o patinho… eu abandono tudo e vou ter contigo.”. É evidente que o patinho chegou morto pelo correio e que a substância do prometido ressoou em vão. Mas de tudo isso sobrará a certeza de que não vale a pena dizer directamente que vamos morrer uns para os outros, mais vale criar um ritual – ou um éter – que o substitua e que impeça o vácuo ou o nada que, há sessenta anos, em El hombre Y lo divino (1955), Maria Zambrano, descreveu como a “última aparição do sagrado”. Porventura é este, também, o papel da literatura: ser um éter que consiga reciclar a morte.
António CabritaVivemos num tempo em que as simulações de instantaneidade sugerem o domínio de tudo e em que o nada – ou o vácuo – se converteu num conjunto de episódios, cujo denominador comum é aquilo que, apesar de tudo, nos escapa, seja o anátema da reciclagem, seja a ordem do imprevisível que condiciona a propagação da vida em fluxos, seja o ruído que se intromete no feixe global dos sinais. O nada equivale ao segno do mundo pré-moderno ou ao éter do mundo de António Cabrita, isto é, àquilo que ‘escaparia ou resistiria à ordem natural ou possível das coisas’, do mesmo modo que o uso feérico da instantaneidade na actualidade equivale, de certa forma, ao simulacro de uma redenção (ou àquilo que era a salvação num patamar pré-moderno). O éter surge na equação literária de António Cabrita como a matéria informe de onde se desprendem os laivos da memória que insistem em dar sentido à nossa subjectividade. À nossa própria inscrição.De facto, a memória é sempre uma promessa. Ela caminha na nossa direcção e diz-nos que é nossa, insinua-se. Pede que a agarremos e, por vezes, de tanto prometer quase que goza connosco. Como acontece na parte final de kamasutra para rouxinóis, em pleno contracampo entre Amélia Beat e António, quando a promessa surge como uma “mentira consentida” ou como uma “despedida digna”. Os dois personagens prometem passar a ver-se uma vez por ano: “– Prometes? / – Prometo. E digo-te mais” (…) “se tu conseguires chocar um ovo de pata… Pensas em mim, em nós, e todos os dias dedicas uma hora a aquecer o ovo entre as pernas, nua, o ovo cingido ao teu sexo, húmido e quente… se o conseguires chocar e enviar-me o patinho… eu abandono tudo e vou ter contigo.”. É evidente que o patinho chegou morto pelo correio e que a substância do prometido ressoou em vão. Mas de tudo isso sobrará a certeza de que não vale a pena dizer directamente que vamos morrer uns para os outros, mais vale criar um ritual – ou um éter – que o substitua e que impeça o vácuo ou o nada que, há sessenta anos, em El hombre Y lo divino (1955), Maria Zambrano, descreveu como a “última aparição do sagrado”. Porventura é este, também, o papel da literatura: ser um éter que consiga reciclar a morte.
António Cabrita, Éter. Sete Narrativas Seguidas de Contragolpe, Abysmo, Fevereiro de 2015, pp. 189.
retirado de Raposa Azul.