A Morte em tempos de negação ou a condição humana da morte (o que nos desperta a Covid-19)
O poeta Álvaro Moreyra, em seu livro As amargas, não… (1954), já anunciava: “Uma coisa acorda os vivos, é a morte”. Sim. Parece que precisamos de mortes em grande escala para lembrarmos da nossa fugacidade e fragilidade da condição humana. Parece que precisamos de pandemias para lembrarmos que não estamos sozinhos ou que dependemos, de alguma forma (na verdade, de muitas formas), do outro. Em tempos de pandemia, damos conta que vivemos por muito tempo anestesiados. E pior do que viver na insensibilidade é perceber que estivemos longos períodos nesse torpor. É “a morte da alma” de que nos fala Miriam Panighel Carvalho, a “vista cansada” que nos embaça a vida e que nos alerta Otto Lara Resende, é a “angústia” que nos gela a leitura em Tchekhov, é o incrível horror de perceber que se pode morrer estando vivo no Primo Levi. Vivemos ilhados em caminhos coletivos, e isso não se relaciona com o tempo. A questão não é de tempo, mas de humanidade ou da falência humana perante a morte.
No livro A Peste, de 1947, Albert Camus coloca-nos diante de Oran, uma pequena cidade na costa argelina. Oran, no espaço temporal indefinido da década de 40, olha e vive uma epidemia avassaladora: a peste bubônica. O interessante dessa obra é a proximidade entre a ficção e a Covid-19. Inicialmente os concidadãos de Oran estão incrédulos com os acontecimentos e deixam o tempo fazer o seu caminho. Já sabemos, ou imaginamos, o caminho desse tempo. Enquanto não se acreditava (na força) na doença, autoridades tentavam desvencilhar-se das evidências, atribuindo pouca importância aos fatos e às mortes. O prefeito decide, ainda muito desorientado e encarando a morte de significativa parte da população de Oran, isolar a cidade. Imaginamos o tipo de isolamento e que esfera estava protegida (uma significativa lembrança da Necropolítica de Achille Mbembe). Enquanto uns morriam de maneira isolada, distante de seus parentes, a esfera protegida aguardava o momento de sair de suas tocas. A cidade fechada e as pessoas isoladas constroem cenários doentes e contextos inusitados. Mas eis que o mal espreita pelas frestas e novas ondas da epidemia atingem todas as esferas. Mesmo que agora, na realidade da pandemia da Covid-19, o isolamento se distinga da ficção de Camus, uma vez que o isolamento não se faz como privilégio mas necessidade vital, há muito de Oran espalhado pelo mundo. Estamos com muitas dificuldades em diferenciar se estamos na dimensão fictícia ou real.
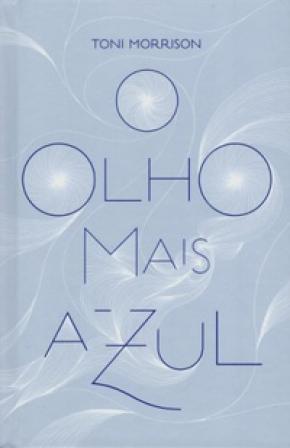
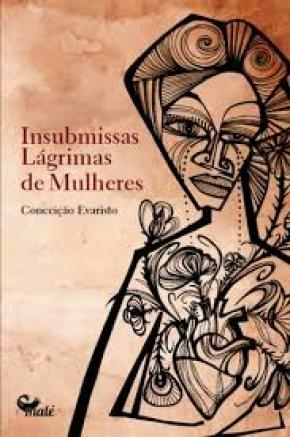
A morte do outro (próximo ou não) gera, em muitos casos, uma dor profunda que é inexplicável. Mesmo conscientes de que a morte vive em nós, que ela nos torna humanos, que nos alerta para o sensível, Bauman, quando fala no “Medo líquido” (aquele que se infiltra, invade num fluxo contínuo e afoga os sentidos), lembra que a morte é vigilante e vigiada em cada movimento humano. Ela é presença invisível que não dorme. Heidegger diria que o homem quando nasce já realiza um duplo movimento no sentido da morte, colocando-se, então, como “ser-para-a-morte”. Essa lembrança, essa simples constatação, provoca-nos dor. Falo da dor no estômago que desfaz a unidade do corpo e da alma em A insustentável leveza do ser (1984), de Milan Kundera. Ou aquela dor que Aramides Florença, no Insubmissas lágrimas de mulheres (2016), de Conceição Evaristo, sentiu nas sucessivas agressões sexuais que recebeu do marido no instante que amamentava o filho recém-nascido. Talvez aquela dor, não dita (apenas através dos olhos que continham todo um céu de fúria), de Minosse ao sufocar e matar seu filho no colo, porque ele chorava assustado com a guerra que acontecia lá fora, em Mata que amanhã faremos outro do livro de Paulina Chiziane, Ventos do Apocalipse (1995). Sim, ainda falamos da dor alheia. Da dor que reflete em nós. Da dor ao perceber que nós, mesmo distantes, matamos a infância de alguma criança estuprada pelo pai, como aconteceu com Pecola Breedlove em O olho mais azul (1965), de Toni Morrison. Nas várias mortes físicas e sociais que Svetlana Aleksiévitch relata em As últimas testemunhas (1985). Na dor que abraça o ser humano, igual crepúsculo, de mansinho. Como a dor de Manoel de Barros, invadido pelo deserto à tarde, quando deixa Bernardo em sua sepultura de manhã, em Escritos em verbal de aves (2011). Ou a dor da súplica que Noémia de Sousa faz a toda irmandade negra em Sangue negro (2001). São tantas dores e tantas condições da morte na literatura que esse texto não dá conta. No fundo, as linhas que conduzem essa escrita estão em algo mais recente, mas que me fizeram percorrer essas dores que me marcaram.
A imagem de caminhões carregados de caixões, e seus corpos, em fileiras que se assemelhava ao cortejo fúnebre provocou em mim todas as dores. Não tanto pelos tanques, ou pela quantidade deles. Mas o que rasgou o dia, fissurou a linha da minha (pseudo) tranquilidade, retirou a paz da minha distância espacial, e me jogou diante da condição da morte, foi a negação do rito. Não sou antropóloga (e acho que não precisamos ser) para entender profundamente a importância dos ritos. Pensei nas famílias daqueles corpos pequeninos, grandes, novos, velhos, a meio da vida, no antes do beijo secreto, no subjuntivo e imperfeito das ações, no meio do pentear o cabelo da filha, no planejamento das férinterrompidas, no entre-lugar do entender sua mãe ou seu pai, depois da briga e sem tempo de pedir desculpas. Pensei no velório e nesse momento em que nos preparamos (sem aceitar direito) para a finitude desse ciclo, momento em que olhamos incrédulos para o que aconteceu, no momento em que prometemos seguir a vida (mesmo com o buraco na alma gritando que não), que levemente beijamos a testa dos nossos amores e depois abraçamos a tampa do caixão dizendo palavras tropeçadas. Penso na importância desse ritual que antecede a cremação ou o sepultamento. Sem ele o que fazemos? Quando fechamos a porta? Quando vamos dizer ao corpo que dorme que em breve nos veremos? Que não conseguimos entender a vida e que ela nunca mais será a mesma? Quando poderemos simplesmente olhar, silenciosa e longamente, aquele corpo que dorme e fotografar aquela dor?

Esse cortejo fúnebre atravessou pela madrugada. Na calada e sombria noite de recolhimento compulsório, Bérgamo, na Itália, acompanhava chorosa o desfile. Essa condição do ser humano de constatar sua finitude é, em tempos de pandemia, angustiante. Deixa-nos com os sentidos abertos e com a sensação de que algo nos espreita. A morte desfilou nas ruas de Bérgamo e mostrou toda a sua grandeza e nos colocou diante da nossa nulidade. Não estamos preparados, muitos de nós, para constatar nossa insignificância diante dela e do mundo. Ela, encarnada em algo tão minúsculo como um vírus, nos priva do adeus, nos priva da sociabilidade real, nos priva do convívio e da alegria plena (porque sentimos aquela dor no estômago). Ela nos vigia de soslaio. Essa angústia, na verdade, é uma morte silenciosa e diária. Sartre, já no título de sua obra filosófica mais conhecida, diria que é o ser e o nada.
Estamos vivendo o que o fotógrafo Cartier-Bresson chamava de “instante decisivo”. A imagem dos caminhões em cortejo registra, ou provoca, uma dor comum e sintetiza esse sentimento coletivo de impotência. Lembremos de instantes decisivos em imagens que são ícones dos tempos de falência humana: em 1972 Nick Ut registrou a dor de uma criança que corria nua, com seu corpo queimado e chorando, na Guerra do Vietnã. Kevin Carter, em 1993, chocou o mundo com a foto de um abutre aguardando a morte de uma criança no sul do Sudão. Em 2015, Nilüfer Demir revelou a crise dos refugiados que tentavam fugir dos horrores das guerras, com a imagem de um menino sírio morto em uma praia da Turquia. Pode ser que a cena dos tanques não seja esse instante decisivo de Cartier-Bresson. Mas nos coloca diante da fragilidade do ser que somos — por mais que não acreditemos nisso. Talvez a face humana da morte (e precisamos dessa inversão para pensarmos que conduzimos algo) é justamente a de nos fazer sentir aquelas dores pelo/com o outro. Sua condição humana, e que nos desloca os sentidos, é de nos despertar da anestesia. É de nos colocarmos no jogo da empatia (termo tão cotidiano e banalizado, mas pouco praticado verdadeiramente).
Assistimos à China correr com suas tecnologias contra o avanço inexorável do Covid-19. Vemos a Europa correr contra o rápido avanço da doença e seus mortos. Assistimos ao Brasil com um prefeito de Oran, desorientado, incrédulo, tropeçando em egos e ignorâncias. Ou, o que seria crível também, pensando numa reformulação do projeto de higienização humana (isso nos lembra um período de 1939 a 1954). Tenta-se controlar a besta-fera para que pessoas doentes e idosos, também chamados de “grupo de risco”, pesem menos no sistema. Como se eles fossem a camada menos importante para a economia de mercado. A morte, nesse contexto, é pornográfica e indecente, como nos lembra Geoffrey Gorer. Mas limpa. Não há sangue nas mãos. Só fantasmas que se somam aos números. O que essas lideranças não acreditam é que não se domina a besta-fera sem que haja perda da alma. É só voltarmos os olhos para a gravura da “dança macabra” (1424), de Hans Holbien, para perceber que ela, a morte, dança e brinca de mãos dadas com clérigos, poderosos, jovens (atletas ou não), leigos, humildes – uma força impessoal que tudo abraça em ciranda.

Sim, a morte acorda os vivos da anestesia. Ela nos desperta, revela nossa porção humana, realoja sentimentos, provoca solidariedade, desperta a empatia. Sempre que o ser humano se depara com a instabilidade da sua existência, ou com a inerência de sua condição inconstante, o sentimento de medo (ou angústia) impulsiona uma mudança de paradigma individual. Precisamos lembrar do nosso “direito de sonhar” (ou delirar), como sinaliza Eduardo Galeano (1998) ou que a Terra e a humanidade podem se “curar”, como poetizou Kathleen O’Meara (quem diria?) em 1839. Somos capazes de nos refazermos diferentes e mais humanos?
É uma pena que tudo isso se desperta com a dor no estômago, com a morte e suas leituras da condição humana.