Apresentação de “O cemitério do elefante branco: Retornados e Ficções do Império português”
Prefácio
O Cemitério do elefante branco: Retornados e Ficções do Império português, da autoria de João Pedro George (ed. 70, 2024), funcionou para mim como um gatilho. Gatilho de memórias, e de informação. Voltei a ter presente episódios que estavam há muito tempo no arquivo morto, enquanto outros, espontaneamente, se soltavam dos fundos onde se encontravam ancorados e apareciam à tona. À medida que ia lendo alguns desses factos para os quais foi necessário olhar novamente, reparei que a perspetiva já não era a mesma. Passaram-se cinquenta anos. O mundo mudou, nós mudámos. Muitos aspetos culturais alteraram-se para melhor, mas como sempre, também se faz de contas com intrujices, impostura, enganos, maquilhagem e elegância, contornando dessa forma caminhos que nos poderiam, de facto, levar à igualdade.
Como diz Carlos Graça no Ensaio sobre a condição humana, “a explicação do racismo não é clínica, tem base político-económica. O racismo foi fundado e assenta na injustiça. (…) Nos outros animais o código genético impede que a violência degenere com gravidade no seio do próprio grupo. Isso faz com que os lobos não sejam lobos para os lobos, enquanto que no caso do Homem, ele é o lobo do próprio Homem”.
O tema não me surpreendeu, mas o título era intrigante. A forma como os assuntos são abordados e o prefácio, da autoria do professor Ramada Curto, impeliram-me logo para uma leitura entusiasmada. Com surpresa, dei comigo a ler que George, que era um académico que não se concretizou por não ter uma rede clientelar capaz de o apoiar e que, por isso, teve de socorrer-se de outros ofícios para sobreviver. Fala sobre a quantidade de inimigos que tem, de modos de discriminação, e de portas que se lhe fecham, desprezo e indiferença a que o votam. Que quando é apresentado como escritor a corporação foge dele como o diabo da cruz, que os considerados ‘importantíssimos’ gostavam de o poderem calar. Sendo que na opinião deles, João Pedro George devia mostrar mais respeitinho pelas instituições, acatando com docilidade os seus rituais de bom comportamento, afetando também uma certa gravitas. Enfim. A ironia é que, até parecia haver aqui algum equívoco e que o texto, dado o seu conteúdo, se referia a problemas no mercado de trabalho, não de um caucasiano, mas antes de um afrodescendente.
Apropriando-me de palavras de João Pedro, para dar a minha opinião, julgo que esta obra não é padronizada para o grande público, nem vai satisfazer nostalgias, apaziguar remorsos ou anestesiar ressaibos. Toca em assuntos incómodos que causam desconforto.
O passado deveria servir para compreendermos e refletirmos sobre o presente e projetarmos o futuro. Penso que é isso mesmo que propõe O Cemitério do Elefante Branco Retornados e Ficções do Império Português.
Autobiografia prévia
João Pedro nasceu em Lourenço Marques em 1972, veio para Portugal em 1975 e viveu com a sua família na Tapada do Mocho, o seu pai já nascera em Moçambique e o seu avô fora militar em Moçambique onde participou nas campanhas que levaram à prisão do Imperardor Gungunhana.
Quanto a mim, as circunstâncias da minha vinda para Portugal (que na altura já não se designava metrópole, porque era errado, era desadequado quase um pecado) tinha sido por questões educacionais, embora a razão basilar de origem tivesse sido a mesma: a mudança de regime, a guerra, a insegurança e as carências a todos os níveis. Vim sem a minha família e fui viver com cinco pessoas que não conhecia de todo. O tio era de São Tomé, a mulher era portuguesa e os seus três filhos que não conheciam, e pouco ou nada sabiam sobre o ultramar, era a forma usada para designarem o império e o ex-império.
O meu pai poderia ter vindo no âmbito dos Quadros Geral de Adidos, mas a minha mãe só viria se a minha avó também viesse e a minha avó não queria morrer nos “Mwene Puto”, em várias línguas de angola sinónimo de senhor branco/ Rei de Portugal/ Portugal país/ Portugal autoridade.
Ser mandada para Portugal sozinha para casa de familiares, aconteceu-me a mim e a muitas outras crianças. Só quem passou por isso está em condições de avaliar a sensação de desamparo, a angústia, a solidão, a saudade e o constante choro solitário na casa de banho, além da necessidade de ainda conseguir encontrar energias para construir e cuidar da máscara de normalidade, pois mesmo no início da adolescência, já quase todos sabemos que sem isso sobreviver torna-se ainda mais difícil.
A mudança de país causava grande alteração nas nossas vidas. Eu cheguei a Portugal em agosto de 1979, estava no início da adolescência e foi duro. Lembro-me da diretora de turma ter chamado os meus tios e ter-lhes pedido que me apoiassem muito e se mantivessem atentos, porque a agressão verbal e a descriminação racial eram terríveis e ela era testemunha.
Eu vou, eu vou morrer em Angola, com armas, com armas de guerra na mão, granada, granada será meu caixão, enterro, enterro será na patrulha.
[Palavras de ordem cantadas, da autoria de Adolfo Maria, um histórico, branco, do MPLA, que os pioneiros cantavam (criado no tempo do EPLA-Exército Popular de Libertação de Angola, entre 1961 e 1974, antes das FAPLA e das FAA)]
Estava em Portugal há um ou dois dias quando aconteceu uma situação caricata. Era segunda-feira ao fim do dia, tínhamos passado imenso tempo na praia, as minhas primas tinham ido ter com amigas, eu estava em casa com a minha tia que veio à sala trazer um pires com uma sandes. De repente, aparece o Lucas Pires (eu não sabia quem era) a criticar o marxismo-leninismo. Eu pensei, meu deus, mas que país é este? Para onde é que o pai me trouxe!? Este tipo é um contra-revolucionário! Tia, ó tia, vocês aqui deixam este tipo de gente falar na televisão? Este tipo é um contra revolucionário, e eu apontava para a televisão a preto e branco, este tipo tem que ser imediatamente preso! A minha tia abriu muito os olhos, olhou para mim completamente banzada, começou a sair da sala às arrecuas, pasmada e espantada, fugiu para a cozinha. Não sabia nada de mim. Não podia saber que eu me tinha tornado marxista-leninista convicta e determinada aos dez anos, por reação a tudo o que tinha vivido sobretudo no colégio e assustou-se. Eu pensei: “país de Macau”. Em Angola quando as coisas não prestavam nós dizíamos que eram de Macau.
Nesses tempos, chamavam-nos nomes feios e gritavam-nos das janelas dos prédios:
“Vão para a vossa terra!” Chegavam a jogar-nos, lá de cima, lixo e se tivessem oportunidade, água suja, ou limpa.
No meu caso havia ainda os mais específicos como:
“Barrote queimado”
“Vai a passar uma nuvem preta”
“Preta da Guiné lava a cara com chulé”.
“Escarumba”
“Boa noite”
“Macacos” e por aí a fora.
Comum entre eles, era o sentimento de desamparo e o isolamento, no meio de uma sociedade que não só não os compreendia como os hostilizava. “O Cemitério do elefante branco Retornados e Ficções do Império português”
Não morei na Tapada do Mocho, fui morar para casa de uns tios para o bairro de S. José em Cascais. O meu tio era de São Tomé e Príncipe e vivia cá desde os anos cinquenta, a mulher era portuguesa. Por ali, até os adultos nos insultavam cheios de ressentimento e amargura. Acontecia nas camionetas, na praia, no comércio e na rua. Mas era comigo e com os outros miúdos pretos e/ou retornados. O grupo de miúdos era enorme e montávamos praça na praia da duquesa, na zona das escadas. Esses miúdos encontravam-se todos alojados em sítios a cargo do IARN moravam por toda a zona da linha de Cascais em pensões, etc. O grupo maior morava no Pai do Vento. Às tantas os insultos anestesiaram-nos e por norma simplesmente ignorávamos. Esses petizes evitavam estar em casa porque os pais andavam sempre tão mal dispostos e zangados que o melhor mesmo era estar na praia e na rua.
Os retornados sofreram os dissabores típicos dos movimentos migratórios: desconfiança, animosidade, estereotipagem, estigmatização, luta pela conquista de confiança e finalmente aceitação. Mas não se pode esquecer que o termo comporta uma larga diversidade de indivíduos. “O cemitério do elefante branco Retornados e Ficções do Império português”
Durante o mês de agosto brinquei com os outros putos do bairro. Obviamente havia sempre as “bocas” racistas e todo o veneno desumanizador que as famílias ensinavam voluntária ou involuntariamente aos petizes. Havia o olhar dos pais com aquele brilho preconceituoso, de desconfiança e desdém ou desprezo, que tinham sem perceber, mas que eu topava à légua, ainda hoje topo. Ganhei defesas que nunca abandonei. Pois esses adultos, pais, permitiam-se insultar e ofender crianças, filhos de outros. Nós lá íamos brincando, até porque os problemas só começavam se eu estivesse a ter alguma vantagem nos jogos e brincadeiras. Se não queria que o ambiente azedasse, convinha estar a perder, não ter qualidade, ser a medíocre, a pior, estar na cauda, ainda hoje é assim.
Quando começaram as aulas em finais de outubro, já levávamos três meses de convívio diário. Como na altura havia imensos tarados sexuais exibicionistas por aquelas bandas, aconselhados pelos pais íamos para a escola em grupo para nos protegermos. Atravessávamos o pinhal sempre em grupo, e nesse corta mato íamos dar ao mercado de Cascais. Sempre à palestra uns com os outros seguíamos passando adiante do cinema Oxford, até à Escola Preparatória da Pampilheira. No primeiro dia de aulas, íamos nisto, quando de repente a uns trezentos metros do portão disseram-me: Cármen, desculpa lá, mas não podemos chegar e entrar contigo na escola porque és preta percebes? Por causa do pessoal. Ou ficas aqui um bocado, e nós vamos à frente e entramos, ou vais tu e nós vamos depois de ti.
Viajei logo no tempo até ao colégio em Luanda, onde ninguém brincava comigo, onde uma colega que eu julgava ser minha amiga foi dizer às outras “meninas” do colégio onde já era tudo tão complicado, que o quarto dela tinha ficado a cheirar a preto um dia em que fiquei por lá a fazer os trabalhos de casa e a ler os livros da Anita. A diretora era uma excelente pessoa, dizia-se à boca pequena, que era socialista ou comunista, por vezes ia ao recreio com a régua e ameaçava bater-lhes se não me incluíssem na roda, elas obedeciam, mas puxavam a manga da bata para cobrir a palma da mão, ou colocavam um lencinho para a pele delas não tocar na minha pele, às vezes quando eu me aproximava por minha iniciativa, afastavam-se aos gritos com uma espécie de asco. Isto em Angola, um país africano, terra de maioria negra!
[Testemunho pessoal de Cármen Rosa]
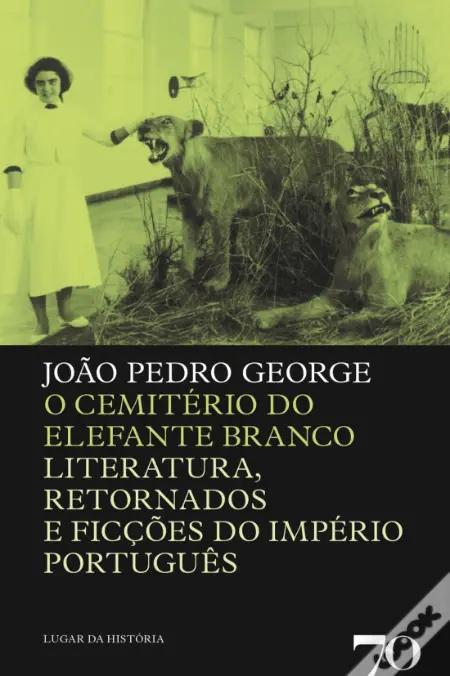
Compreendo o sofrimento medonho e o drama humano do homem que morava no bairro do “Elefante Branco” que já na casa dos setenta anos, perdeu os pais, depois perdeu a casa e os amigos em Luanda e que agora sozinho perdia também as faculdades, vendo as suas expectativas goradas. Refiro-me a este homem e a todos os outros que diabolizavam e culpabilizavam Mário Soares, Almeida Santos, Melo Antunes e Rosa Coutinho, pela situação que se vivia. Essas pessoas que agora tinham as vidas desestruturadas, desarrumadas, caóticas. Estavam sem emprego sem casa, davam pouca atenção aos filhos que se perdiam, que se metiam na droga, porque existiam outros desafios, a vida tinha mudado muito. Não se conseguiam adaptar a essa nova realidade.
Morriam de saudade da vida que tinham tido em que frequentavam os cafés Riveira e Scala, morriam de saudade da Restinga, da Praia do Bispo, do Mercado do Kinaxixe, dos bailes no Clube Ferroviário. Morriam de saudade dos criados, do fausto, da riqueza, da abundância, do estatuto, etc.
Essas pessoas agora sentiam muito ódio, muito medo, muita insegurança e vulnerabilidade. Mas quantos milhares e milhares de negros tinham experimentado isso ao longo dos tempos? Quantos milhares de negros não sentiram a profunda sensação do absurdo daquilo que lhes estava a acontecer? Quantos milhares de negros não sentiram que a sua vida iria de certeza ter um final trágico? Quantos milhares de negros não viveram e morreram fervendo de ódio nas plantações de café, a trabalhar nas minas, ou apanhados pelas armadilhas da tributação que fazia com que de um dia para o outro dessem consigo em São Tomé nas roças de cacau, onde esgotados pelo trabalho do contrato, chegavam por si próprios à conclusão que nunca mais regressariam para a sua família e para a sua terra. Ninguém lhes escutava os gritos e ninguém lhes limpava as lágrimas, durante anos, décadas e séculos, não houve nem consolo, nem misericórdia.
Porque essa história vem de longe…
O primeiro lote, de 46 escravos, ficou reservado para o homem de chapéu de abas largas e botas de cano comprido até aos joelhos que, montado a cavalo, supervisionava toda a operação. Era o Infante D. Henrique (…)
“Qual seria o coração, por duro que pudesse ser, que não fosse pungido de piedoso sentimento vendo assim aquela campanha? Porque uns tinham as caras baixas e os rostos lavados de lágrimas; (…) outros estavam muito dolorosamente, olhando para os céus (…) bradando altamente como se pedissem socorro ao Pai da Natureza; outros feriam o rosto com as suas palmas, lançando-se estendidos no chão; outros faziam as suas lamentações em cantos, segundo o costume de sua terra. (…) Pelo que convinha a necessidade de se apartarem os filhos dos pais; as mulheres, dos maridos; e os irmãos uns dos outros. A amigos nem parentes não se guardava nenhuma lei, somente cada um caía onde a sorte o levava. (…)
Segundo Relato de Gomes Eanes de Zurara
Donana perguntou então a Alexandre pela primeira vez com respeito:
Todos, Alexandre?
Todos! Enquanto houver negros viveremos no medo. Estou me cagando se se revoltam porque lhes roubam as terras boas para o café. Estou me cagando, se se revoltam contra o imposto de ter uma cubata ou contra o imposto do nascimento. Estou-me cagando se acham injusto pagar o ar que respiram. Estou me cagando se a terra antes era deles. Não quero é viver mais no medo (…)
Yaka, Pepetela, D. Quixote, 1992
**
A extinção da Sociedade Portuguesa de Escritores
A sociedade colonial não estava dividida de forma maniqueísta entre brancos ricos e negros pobres.
(…) Nem todo o colono era colonialista (…) “O cemitério do elefante branco Retornados e Ficções do Império português”
Luandino Vieira de seu nome real, José Vieira Mateus da Graça, filho de um sapateiro e de uma camponesa, que tinham ido viver para Angola quando ele ainda era uma criança, tinha nascido em Santarém, Vila Nova de Ourém, em 1935. Cresceu no musseque Braga em Luanda, mais tarde denominado bairro do café.
A 15 de maio de 1965 o seu livro Luuanda recebeu o grande prémio de novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores, uma das mais altas distinções literárias daquela época em Portugal.
Seis dias depois, o ministro Galvão Teles em despacho de dia 21 de Maio decidiu Encerrar a sociedade portuguesa de escritores.
A civilização europeia é impar por ser a única que se impôs ao resto do mundo. Fê-lo mediante a conquista e a colonização, mediante o seu poder económico; mediante o poder das suas ideias; e porque tinha coisas que todos os outros queriam. (…).
In Breve História da Europa, 1ª edição, fevereiro de 2013, John Hirst, D. Quixote
Até à sessão de entrega dos prémios SPE, a PIDE ignorou o livro, não sabiam que um dos distinguidos com esse prémio estava a cumprir uma pena de 14 anos de cadeia por atividades ditas subversivas, nem sabiam que Luandino Vieira era o pseudónimo de José Vieira Mateus da Graça. Quando souberam desencadeou-se um terramoto. A Sociedade Portuguesa de Autores recebeu ordens para anular a atribuição do prémio. Perante a recusa do júri e a recusa do seu presidente, em acatarem as diretrizes dadas pelo ministro da educação Inocêncio Galvão Telles, a SPE foi mesmo extinta e posteriormente viu as suas instalações vandalizadas
Luandino Vieira não era um escritor conhecido em Portugal. A não ser na Casa dos Estudantes do Império e alguns leitores mais atentos à produção literária angolana. A Casa dos Estudantes do Império fora fundada em 1944, com sedes em Lisboa, Coimbra e Porto.
Com o livro Luuanda, Luandino Vieira fazia a transcrição da fala e da sintaxe dos musseques de Luanda para a escrita. “O cemitério do elefante branco Retornados e Ficções do Império português”
Português musseque no Luuanda – “Mas vavó ouve então! Não começa assim me disparatar só à toa. Verdade eu fiquei dormir, não fui na missa, e depois?”
Possível versão português padrão – Mas avó ouve-me por favor! Não me repreendas por tudo e por nada. É verdade que fiquei a dormir e não fui à missa, e depois?
Os nativos são educados como se tivessem nascido e residissem na Europa. Olham a sua terra de fora para dentro e não ao invés (…) não adotam uma cultura, adaptam-se a uma cultura. “O cemitério do elefante branco: Retornados e Ficções do Império português”
A nova língua que aceitava e respeitava a recreação linguística a que o povo inconscientemente recorria, de modo a conseguir lidar com as dificuldades que sentiam ao usar o português que a maioria, de resto, nunca aprendera formalmente, criava uma ruptura social. Substituir os códigos do português padrão, pela linguagem oral das populações dos musseques, rompia com os cânones sociais. Essa nova forma de escrever, era pouco ou nada percetível pelas elites mandantes, pois transpunha para a literatura expressões verbais ou orais do povo simples dos musseques, que claramente a percebiam, uma vez que o que estava escrito correspondia exatamente àquilo que eles tinham verbalizado.
No musseque as pessoas falavam e falam ainda um português diferente, pois mudam-lhe a fonética, a sintaxe e a semântica. Luandino e os que optaram por escrever à maneira do Luuanda, ao levarem tudo isso para os livros, deram-lhes dignidade literária. Criaram uma nova cultura. Emanciparam-se, demarcaram-se e mostraram que havia outra maneira de se fazer literatura. Abandonaram a vassalagem à língua e literatura da metrópole. Optaram por novos padrões estéticos, muito mais próximos das expressões culturais africanas. Essa nova cultura criava uma nova identidade, essa nova identidade dava razão de ser à vontade de independência, e à luta pela autonomia política.
Uns olhos de cão batido miravam-lhe lá no fundo da cara dele, lisa, da barba feita com cuidado, parecia era monandengue. E esses olhos assim ainda raivavam mais e Inácia, faziam-lhe sentir o rapaz era mais melhor que ela, mesmo que estava com aquelas manias de menino que não dormiu com mulher, não sabe nada da vida, pensa pode-se Viver é de palavras de amor. Por causa essa razão queria lhe magoar, envergonhar-lhe como cada vez gostava de fazer
Luuanda, estórias, José Luandino Vieira, Estória do ladrão e do papagaio p.81, Edições 70 Lda., 9. ª edição. Agosto 1989
Deus escolheu o homem e colocando-o no centro do mundo disse-lhe:
Nós não te demos lugar fixo nem forma determinada nem função particular, para que tu escolhas segundo os teus desejos e o teu discernimento
(…) Nós colocamos-te ao centro do mundo para que daí, tu possas facilmente observar as coisas.
Não te criámos nem do céu nem da terra; nem mortal, nem imortal, para que, pela tua livre vontade, possas escolher o teu próprio modelo e a forma de te realizares (…)
Pelo teu poder tu poderás descer às formas mais degradadas da vida que são animais,
Pelo teu poder, tu poderás alcançar as formas mais elevadas que são divinas.
Discurso sobre a dignidade do homem, 1486, Giovanni Pico della Mirandola, História 8, Editorial o Livro
A produção escrita
A produção escrita que dos retornados perfaz um total de 149 obras. São da autoria de portugueses nascidos nas colónias, ou de portugueses que para ali tinham ido viver mas que após o 25 de abril, decidiram ou viram-se forçados a abandonar esses territórios e vir viver para Portugal. Os livros são testemunhos e relatos saudosos da vida idílica vivida naqueles ambientes paradisíacos que foram as ex-colónias. Grande parte desses relatos pouco ou nada falam de como era a vida dos negros e negras, apesar das relações quotidianas diárias entre negros e os brancos, o que é bem representativo da desigualdade social em que assentavam aquelas sociedades. Afinal, o poder da dominação colonial é também o poder de tornar visíveis ou invisíveis, esses “outros”.
“O cemitério do elefante branco: Retornados e Ficções do Império português”
António Jorge Tavares nasceu em 1935 na cidade de Lourenço Marques (…) em 1976 havia quatro gerações nascidas em Moçambique. Os seus avós maternos foram viver para essa colónia em finais do século XIX, até ao 25 de abril de 1974, foi administrador de uma empresa familiar entre outras atividades, pois também era agente da Companhia Colonial de Navegação, a sua vida em Lourenço Marques pode dizer-se, sem qualquer receio, que era boa. Havia um relacionamento são entre as pessoas que conviviam muito entre si. Desfrutavam dos espaços ao ar livre e do maravilhoso clima existente. (…) pessoalmente nunca teve qualquer problema racial, sendo inclusive padrinho de várias crianças negras.
“Os refugiados de Moçambique”, Nuno Alves Caetano, António Jorge Tavares, Edições Chiado
A tónica colocada no desenvolvimento económico das colónias visível nos portos, aeroportos, estradas, hospitais, barragens, caminhos de ferro, redes de eletricidade e crescimento das cidades, tinha uma função: justificar a sociedade brutalmente desigual.
“O cemitério do elefante branco: Retornados e Ficções do Império português”
Se um preto olha um branco de frente está a provocar. Baixar os olhos é admissão de culpa.
Se o negro corria tinha acabado de roubar, se caminhasse devagar procurava o que roubar.
Não era preciso haver um motivo para um branco mandar bater num preto, como não era preciso um motivo para um um rico mandar prender um pobre e também não era preciso um motivo para um pide enjaular um cidadão comum.
Caderno de memórias coloniais, Isabela Figueiredo, Caminho 2015.
Estávamos em 1974, o 25 de Abril tinha acontecido há muito pouco tempo porque eu ainda tinha nove anos. O meu pai estava em em Henrique de Carvalho. Era um sábado de tarde, eu, a minha mãe e os meus irmãos mais novos na varanda da sala assistindo a tudo o que vou contar através do gradeamento da varanda. Foi terrível, ainda hoje me pergunto porquê e para quê? Um homem negro que não teria mais que trinta anos ia a passar calmamente pela rua vazia, segurando um pequeno rádio a pilhas junto ao ouvido, quando foi abordado por um homem branco que lhe travou a marcha pediu-lhe a fatura. O homem deve ter dito que não a tinha, pois levou logo uma tremenda bofetada (ninguém andava com a fatura dos bens, mas vivia-se o início das pilhagens em Luanda) apareceu um grupo de vizinhos nossos e jogaram-se a ele (homens, mulheres de meia idade, crianças, adolescentes, jovens e idosos) fixei essa cena de espancamento fotograficamente. Quando deixaram o homem partir, já saciados e contentes com a sua ação, a vítima tinha a roupa literalmente ensopada em sangue e chorava amargamente, convulsivamente, o rosto era uma máscara de revolta e de ódio. [Relato pessoal de Cármen Rosa]
Havia ainda a dimensão sexual do interior mostrando que a violência sexual era uma das principais vertentes em que o Colonialismo se tornava a Manifesto. Quando a família descobre um adultério de um patriarca com uma negra, a culpa e o ultraje é exclusivamente dirigida contra a rapariga. “O cemitério do elefante branco: Retornados e Ficções do Império português”
Em Angola por exemplo, o sul tinha muitos mulatos, mas no norte não os havia porque a mulher ficava resguardada a trabalhar nas lavras, não iam trabalhar como lavadeiras, criadas, cozinheiras para casa dos brancos. Havia mais empregados que empregadas domésticas para evitar que homens brancos e mulheres negras se cruzassem em relações laborais, de subalternidade (também sexual).
(…) A história exclui verdades essenciais. Só fala de generais vitoriosos, heróis, batalhas conquistas. Não diz que esses heróis e generais eram homens e tinham sexo. (…), vendando os olhos para o verdadeiro problema delas, que era a submissão colonial a que estavam sujeitas pelo facto de serem mulheres. Para elas, as negras eram cadelas, discurso muito masculino, ardilosamente tecido para camuflar as tendências poligâmicas do homem branco em terras africanas. Não se podia aceitar que um homem tivesse duas esposas, uma preta e outra branca, era mais prático dizer que o branco tinha uma esposa e uma cadela.
Caderno de memórias coloniais, Isabela Figueiredo, Prefácio de Paulina Chiziane, Caminho, 2015
Outros ignoravam tudo o que os rodeia até para a tranquilidade dos seus espíritos fechavam bem a janela para não ver o que se passava cá fora nas ruas
“O cemitério do elefante branco: Retornados e Ficções do Império português”
O “modus operandi” dos poderes coloniais consistia em primeiro, destituir o diferente de toda a dignidade e humanidade, para depois lhe atribuir as doses pretendidas de dignidade e humanidade, se assim entendesse e de acordo com os seus próprios interesses. É mais fácil e aceitável maltratar os diferentes do que os iguais a nós, daí a magistral importância de primeiro se apontarem as diferenças para de seguida ostracizar, excluir, discriminar, maltratar e dominar legitimamente. Tudo o que se fez foi a coberto de leis e legalidades.
“O Outro Arquivado”, de Cármen Rosa In: “Visões do Império”, Miguel Bandeira Jerónimo, Joana Pontes, Tinta da China.
À laia de conclusão
Tendo passado a saber da existência desse passado injusto, cruel e feio, cabe-nos perguntar, então e agora? Será que queremos alterá-lo, ou vamos simplesmente mudar os atores e manter o guião? Que mundo pretendemos ter daqui para a frente? E como poderemos fazer a mudança? Certamente não será fácil. Devemos começar com urgência pela educação das gerações mais novas, mantendo presente que não basta lembrar tudo isto através dos vários tipos de documentação disponível, mas cada um de nós tem de ir fazendo o que estiver ao seu alcance, informando-os e formando-os. Não me lembro de ter ouvido os meus professores de História, já para não falar nos outros, explicarem-nos o que era a escravatura e colonialismo, esse, era tabu. O meu primeiro contacto sério com o tema escravatura, além das telenovelas brasileiras de época, foi através da Banda Desenhada, Os passageiros do vento de François Burgeon. Como já referi, os livros escolares da preparatória e do secundário, e mesmo na universidade, quando abordavam o tema, era ao de leve, de passagem, integrando-o no contexto do comércio triangular.
Os Imperialismos, as diversas formas de colonialismo, a escravatura, em suma, a exploração do homem pelo homem, continua a praticar-se, vitimizando, nos nossos dias, uma infinidade de tipos de indivíduos e de tonalidades de pele. Parafraseando Pepetela e Carlos Graça, a crónica da barbárie humana é infindável, porque o ser humano por dentro, nem é só branco nem é só preto, é cinzento, ou seja: contraditório, complexo, polémico e causador de grandes males, a si mesmo.