Correr o mundo no pé da palavra que venta: Terreirização X Militarização
A partir de Fogo no mato. A ciência encantada das macumbas (Rio de Janeiro, Mórula Editorial, 2018), de Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino.
Fogo no mato. A ciência encantada das macumbas. Que título.
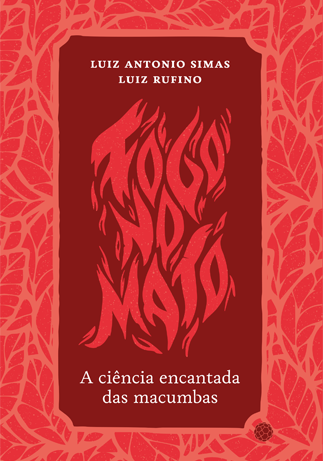 Fogo no mato.
Fogo no mato.
É bom desenrolar desde já o que é macumba para os autores, pois eles mesmos se preocupam em fazê-lo desde a nota introdutória (que antecede o próprio índice) desse pequeno livro-manifesto. Como malandro ou maconha, macumba é uma das palavras mais estigmatizadas do português tupiniquim. Todas começam com a sílaba ma, mas ma-cumba começa na verdade com a letra c, ou melhor, k… Explicam Rufino e Simas: sua provável origem é da língua quicongo, formada por kumba (com o prefixo ma formando o plural): kumbas, feiticeiros que são ao mesmo tempo poetas, encantadores das palavras. Macumba: terra dos poetas do feitiço. No parágrafo inicial e no parágrafo final da nota introdutória, os autores condensam o que há de vir, com o seu modo característico de falar escrevendo e escrever falando pelos catorze capítulos de Fogo no mato: sua visão “brincante e política” do macumbeiro, visão esta que – dizem – “subverte sentidos preconceituosos atribuídos de todos os lados ao termo repudiado e admite as impurezas, contradições e rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas. O macumbeiro reconhece a plenitude da beleza, da sofisticação e da alteridade entre as gentes” (p. 5). E quanta falta está fazendo o macumbeiro.
Macumba, portanto, é essa terra dos poetas do feitiço que, através das vozes dos dois Luízes, vai pensar o país como um terreiro e localizar os seus grandes males na “razão intransigente” dominante e na “retidão castradora do mundo como experiência singular de morte” (a necropolítica segundo Achille Mbembe), a ser confrontada pela “radicalidade do encanto” (p. 5) como forma de resistir ao terror. No “Manifesto Antropófago” (Oswald de Andrade) de quase um século atrás se lê uma certa palavra várias vezes repetida: roteiros roteiros roteiros, remetendo à terra e à posse contra a propriedade, aos espíritos aborígenes contra o colonizador. Lemos em Fogo no mato o eco desse grito do século: terreiros terreiros terreiros… Há muitas diferenças e mais de uma semelhança aí.
Mas além de conectar com a veia antropofágica do livro dedicado à “ciência encantada das macumbas”, representada pela boca de Enugjaribó, novo e ancestral Abaporu (p. 22 – e 51), vale desdobrar o significado da expressão fogo no mato, que chega a soar incorreta no presente brasileiro, nesse segundo ano de queimadas liberadas Brasil afora. Digamos que justo por isso é um bom exemplo da inversão de perspectiva que os Luízes propõem, adotando a mirada afro-ameríndia das macumbas. O título é um enigma, uma adivinha para os não iniciados, os que não são do babado, como eles dizem. Via instagram – em contato com o museólogo Rafael Muniz de Moura, que nos revelou o precioso livrinho-manifesto – Simas ofereceu três opções possíveis para significar fogo no mato: 1. o catimbó e o segredo da fumaça – ou seja, os rituais indígenas com ervas sagradas, curativas e viajativas; 2. o incêndio das plantations do saber; e 3. opção de queima em aberto… Fogo no mato, fogo na bomba, fogo no cânone ocidental, fogo nas plantations do saber, fogo nos vírus mundiais, em forma de microorganismos ou de “supersalvadores de direita”1.
 Flecha do Tempo.Mas quem é esse “nós”? O fato de Fogo no mato ter sido escrito em colaboração mostra de cara que nenhuma ciência das macumbas se faz sozinha. Nesse caso, trata-se de dois Luízes cariocas e de um livro singular que não é o único da dupla: em 2019 publicaram também Flecha no tempo, espécie de suplemento ao bate-papo mandingueiro do primeiro, o qual já gerou uma terceira margem ainda mais recente, Encantamento (sobre política de vida) – ensaio mais breve que segue o fluxo antecedente e reage ao presente mais imediato. Tampouco se trata da estreia de qualquer um deles, que vêm publicando individualmente e com outros parceiros em revistas, blogs e livros, porque “nós é um outro” ou, em versão brazuka, “é nóis”: Luiz Antonio Simas, autor de Pedrinhas miudinhas: ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros (2013) e de O corpo encantado das ruas (2019), além de co-autor, com Nei Lopes, do Dicionário da História Social do Samba (2015), e Luiz Rufino, autor de Histórias e Saberes de Jongueiros (2014) e de Pedagogia das encruzilhadas (2019), entre outros livros e nós.
Flecha do Tempo.Mas quem é esse “nós”? O fato de Fogo no mato ter sido escrito em colaboração mostra de cara que nenhuma ciência das macumbas se faz sozinha. Nesse caso, trata-se de dois Luízes cariocas e de um livro singular que não é o único da dupla: em 2019 publicaram também Flecha no tempo, espécie de suplemento ao bate-papo mandingueiro do primeiro, o qual já gerou uma terceira margem ainda mais recente, Encantamento (sobre política de vida) – ensaio mais breve que segue o fluxo antecedente e reage ao presente mais imediato. Tampouco se trata da estreia de qualquer um deles, que vêm publicando individualmente e com outros parceiros em revistas, blogs e livros, porque “nós é um outro” ou, em versão brazuka, “é nóis”: Luiz Antonio Simas, autor de Pedrinhas miudinhas: ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros (2013) e de O corpo encantado das ruas (2019), além de co-autor, com Nei Lopes, do Dicionário da História Social do Samba (2015), e Luiz Rufino, autor de Histórias e Saberes de Jongueiros (2014) e de Pedagogia das encruzilhadas (2019), entre outros livros e nós.
Desenterro, a propósito, um ensaio feito em dupla sobre a colaboração literária e intelectual: Nós é um outro (Nous est un autre), de Michel Lafon e Benoît Peeters (2006), dedicado às duplas, trios ou mesmo equipes de escritores e à escrita em colaboração em geral. Por si só, o apelo de algumas parcerias atraem de imediato a leitura, porque escrever no coletivo significa também ler e viver junto: Dumas e Maquet, Marx e Engels, Verne e Hetzel, Freud e De Breuer, Willy e Colette, Breton e Soupault, Bioy Casares e Borges, Dunlop e Cortázar, Deleuze e Guattari… Este último duo de filósofos conversava até dizer chega mas era sobretudo Deleuze quem escrevia. Engels soprava ideias extraídas da experiência industrial, Marx as desenvolvia teoricamente. Dumas apenas lapidou e concluiu Os três mosqueteiros, a história original foi escrita pelo parceiro o qual jamais figurou na capa de seu próprio livro clássico e popular. Colette viveu largo tempo à sombra de seu marido e explorador, que nunca escreveu uma linha da ficção dela que ele assinava…
Que método colaborativo compartilham e têm compartilhado os dois Luízes, dois intelectuais brasileiros pouco ortodoxos que brincam e levam a sério a “ciência encantada das macumbas” e a lógica delirante das ruas? A resposta a isso exigiria uma continuação de Nós é um outro nos terreiros cariocas – que estão queimando nesse momento –, mas digamos por enquanto apenas que algo se delineia a partir da montagem de falas escritas extraídas de Fogo no mato e também de Flecha no tempo, do mesmo modo que em Encantamento. Esboço essa remontagem partindo de uma proposição de Flecha no tempo contida na expressão “projeto de desencanto”, nesse caso em referência ao Rio de Janeiro e a um de seus principais símbolos, o estádio do Maracanã na versão gentrificada para o maldito mundial de futebol de 2014. Pois desencantar-encantar são as palavras-chave do discurso proliferante dos Luízes, em posição de luta e resistência já que – escrevem – “a regra é desencantar”, “o Rio vive a mais agressiva política de desencanto de sua história recente”. Isto porque tomam o conceito de (des)encantamento ou (des)encante como um complexo político que precisa ser tratado e pensado a partir de uma “política macumbeira”, sendo a famosa e na verdade pouco conhecida macumba vista não apenas como política mas também como “poética do encanto”. O final de Flecha no tempo, passando pela cidade do Rio, pelos terreiros, pelas matriarcas do samba, pelo carnaval e pelo futebol, adquire o tom explícito de manifesto e propõe a opção: terreirização x militarização. A equação resume uma guerra fria que voltamos a viver com intensidade no presente e que remonta não apenas a 1964, mas a 1930, quando florescem os modernos totalitarismos capitalistas mundiais e brasileiros, em cima de uma abolição da escravatura fake e de uma república proclamada por militares imperialistas bem longe do povo. Antifas do mundo, uni-vos.
Uma das principais estratégias da escrita-falada da dupla é, portanto, a recusa decidida do ensaísmo convencional ou acadêmico, em textos escritos com raras e rápidas notas de rodapé. Ressoa nesse chão, como outra estratégia enunciativa, a repetição de bordões, incluindo certos clichês pós-coloniais, deliberadamente empregados para que a gramática dos seus tambores possa chegar mais longe, e também como resultado de um trabalho realizado a partir de um contexto preciso, o das faculdades públicas de ciências humanas brasileiras da virada para o século XXI, focadas em políticas de inclusão de minorias com forte influxo dos estudos culturais na sua variante acadêmica nacional, quer dizer, com forte influência dos cultural studies norte-americanos, mas também da vertente benjaminiana, do pós-estruturalismo e dos estudos culturais à brasileira, de maneira similar ao que eles próprios fazem: ensaios e falas a partir da fusão de saberes acadêmicos e sobretudo não acadêmicos, da encruzilhada entre o dentro e o fora da vida e da morte, da busca de saídas para a necropolítica em curso.
Todos os três ensaios (os dois primeiros com cerca de cem páginas, o segundo com trinta) adotam constantemente um tom manifestário, e o nós insistentemente entoado pela dupla cria um terceiro, um outro que não é nem um nem outro: uma voz terceira que fala em linguagem solta e atravessada por conceitos e expressões oriundas do universo das mitologias mais profundamente africanas e afro-brasileiras. A partir destas são criados conceitos novos, como os seguintes, presentes em Fogo no mato: sincopar (a síncope como alteração repentina do ritmo), cambonar (cambono, o pesquisador e cuidador do terreiro, “o que mais aprende”, p. 36), inventar, firmar ou praticar terreiros (p. 43-45), tomar o próprio corpo como terreiro, rodopiar (p. 50). A transgressão do cânone se dá, no entanto, menos por sua negação que por seu “encantamento”, “cruzando-o a outras perspectivas”, por uma “pedagogia das encruzilhadas” (p. 19). Nietzsche e Benjamin, ainda assim acaboclados, são os únicos filósofos europeus a figurar nominalmente em Fogo no mato; são feitas referências ao pensamento de mestres jongueiros, da mesma maneira que aos clássicos pós-coloniais como Paul Gilroy e Stuart Hall, e ao pensamento crítico contemporâneo de Eduardo Viveiros de Castro e Boaventura de Sousa Santos, todas elas de maneira mais indireta que direta. As epígrafes são extraídas de sambas-enredo ou de pontos cantados em terreiros, cuja repetição como que autorizaria a repetição dos bordões e clichês do subalternismo referidos antes, renovando a sua dicção.
É nesse ponto de torção do ensaísmo corrente nas academias contemporâneas que o giro aparece em forma de “epistemologias das macumbas” (p. 30): ao levar às últimas consequências a inversão do discurso do cânone ocidental, adotando o ponto de miragem dos poetas-feiticeiros kumbas, os Luízes esculhambam as ciências sociais e humanas made in Brazil ao buscarem praticar de forma criativa os saberes ancestrais de origem africana no seu encontro brasileiro com a sapiência indígena. Como sugerido antes, o andamento das escrituras faladas da dupla é mântrico, repetitivo, espécie de rap cantado em nome dos terreiros e das cooperifas do planeta, ainda que a redundância seja chamativa e alguém poderá dizer inclusive cansativa. Para meus ouvidos, o vai-e-vem da falação dos professores mandingueiros vem e vai como a tábua das marés: é perceptível o esforço para ser mais e melhor escutado, sendo esse o preço e o risco e o riscado: falar e retomar e repetir por outras e mesmas vias o mesmo e o outro, repetir incansavelmente com repetição e com diferença para conseguir o eco (im)possível.
 Encantamento.Embora a dupla costume colocar estes saberes e estas insurgências em circulação sobretudo em territórios à margem dos grandes meios, Simas já tem sido reivindicado e reconhecido também na chamada grande mídia – ele que é um dos bons especialistas brasileiros em carnaval –, seja colaborando ou figurando como entrevistado (ver, por exemplo, sua entrevista de 16 de agosto de 2020 no portal UOL). Por sinal, vale sublinhar que Luiz Antonio Simas é historiador e Luiz Rufino pedagogo, ambos trabalhadores da cultura popular que atuam no fio da navalha entre o universo acadêmico letrado, as escolas públicas e os terreiros do terreiro chamado Brasil, adotando esta perspectiva, nos moldes do perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro, mas sem Lévi-Strauss, sem o caráter ocidentalizado dos estudos etnográficos e antropológicos e enquanto vertente de filosofia da diferença afro-tupiniquim, na esteira da oswaldiana mulatização da Alemanha. Que podemos traduzir, em poucas palavras, como esse sabão multicolorido (des)encantado que é preciso esfregar na cara do fascismo de tempos em tempos. Tudo isso, diga-se, encadernado em pequenas tiragens de livros físicos e cada vez mais e-books, assim como disseminado pelas redes digitais, seja em forma de intervenções em jornais ou revistas eletrônicas, seja em macro ou microblogs de circulação massiva. Sem falar da sala de aula, pra onde a gente há de voltar.
Encantamento.Embora a dupla costume colocar estes saberes e estas insurgências em circulação sobretudo em territórios à margem dos grandes meios, Simas já tem sido reivindicado e reconhecido também na chamada grande mídia – ele que é um dos bons especialistas brasileiros em carnaval –, seja colaborando ou figurando como entrevistado (ver, por exemplo, sua entrevista de 16 de agosto de 2020 no portal UOL). Por sinal, vale sublinhar que Luiz Antonio Simas é historiador e Luiz Rufino pedagogo, ambos trabalhadores da cultura popular que atuam no fio da navalha entre o universo acadêmico letrado, as escolas públicas e os terreiros do terreiro chamado Brasil, adotando esta perspectiva, nos moldes do perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro, mas sem Lévi-Strauss, sem o caráter ocidentalizado dos estudos etnográficos e antropológicos e enquanto vertente de filosofia da diferença afro-tupiniquim, na esteira da oswaldiana mulatização da Alemanha. Que podemos traduzir, em poucas palavras, como esse sabão multicolorido (des)encantado que é preciso esfregar na cara do fascismo de tempos em tempos. Tudo isso, diga-se, encadernado em pequenas tiragens de livros físicos e cada vez mais e-books, assim como disseminado pelas redes digitais, seja em forma de intervenções em jornais ou revistas eletrônicas, seja em macro ou microblogs de circulação massiva. Sem falar da sala de aula, pra onde a gente há de voltar.
No capítulo 1 de Fogo no mato, “Cantando a pedra: a ciência encantada das macumbas”, canta-se literalmente a pedra: anuncia o que vem e o que vem é o canto não só da pedra mas da terra: “Nas bandas de cá baixam santos que a África não viu. O verso escolhido para a abertura dos caminhos – “Quem sou eu… quem sou eu? Tenho o corpo fechado, Rei da noite sou mais eu!” [Acadêmicos do Grande Rio, 1994 – “Os santos que a África não viu”] – é parte de um canto de folia, porém aqui será lançado feito um nó; mumunha de velho cumba mandingueiro. Será através desta amarração que firmaremos a curimba que haverá de descobrir quais são os santos que baixam aqui, em uma terra livre do pecado onde, ao mesmo tempo, ninguém é santo. (p. 9)”
Entre santos e pecadores, aqui já temos uma boa ideia do que vem na sequência, no ritmo das escrituras circulares características da dupla, desconhecendo assim o problema do spoiler. Empurrados pelos ventos e pelos gerúndios, no fluxo veloz da narrativa anunciada no índice cantante – entre encruzilhadas, Viramundos, altares de orixá, gongás de santo, vence-demandas, juremeiros, pombagiras (quem tem medo?) –, o capítulo final, “Acendendo velas: o exusíaco e o oxalufânico”, inicia remetendo à antropofagia ritualística afro-brasileira na dimensão de Enugbarijó – a “Boca Coletiva, ou a boca que tudo come”, como se lê ali, a partir da tomada do “campo da cultura como território de Exu”: “Ifá ensina que Exu é aquele que fuma o cachimbo e toca a flauta. Ele fuma o cachimbo como metáfora da absorção das oferendas e toca a flauta como ato de restituição do axé, da energia vital. Absorção, ingestão, doação e restituição são funções primordiais do Bará, o “Senhor do Corpo”, em sua dimensão de Enugbarijó. (p. 113)”
Tal Boca Coletiva canibal – “a boca que tudo come” – não poderia figurar ou transfigurar melhor a utopia antropofágica tarsiliana e oswaldiana, na medida em que aparece africana, tropical e contemporânea, através das bocarras desses netos do tropicalismo com sua biotônica vitalidade, que vivem agora a grande prova dos nove da pandemia e do isolamento social, na medida em que são as ruas que dão sentido aos seus dizeres e fazeres. Levam, no entanto, como princípio o movimento, ainda que agora e excepcionalmente à roda do seu quarto. Porque, século XX afora e XXI adentro, se trata sempre de uma questão de digestão e fruição, desejo e gozo, uma vez que a oferenda se torna oferta diferida, ou, em outras palavras, aquilo que os aborígenes norte-americanos chamavam de potlatch, o dom sem retorno, a distribuição de riquezas e de vida: “o ato cultural potente é o da disponibilidade de Bará ingerir o que chega como oferenda para devolver a oferta, redimensionada, como axé: força que inaugura a vida como vitalidade na vida como experiência física: aquela que sem a vitalidade não pode ser. (p. 113)”
Rápidas, risonhas e sorrateiras, as frases que finalizam este pequeno ensaio de ensaios fazem e desfazem qualquer amarração: “Existem duas máximas populares que atam verso para sustentar o tom inacabado desta toada: a primeira afirma que nas bandas de cá ninguém é santo; a segunda diz que por aqui se acende uma vela para Deus e outra para o Diabo. (p. 119)”
No caso dos proponentes da ciência das macumbas, não é uma, são várias velas pra deus e o diabo, posto que a dupla tem atuado como essa usina de produção de escrituras e feitiços: unem forças muitas pra falar na primeira pessoa do plural em diversas formas de escrituras, em sempre nova e mesma série de duplos dizeres, no dentro-fora da cultura e da barbárie presentes. Assim, sempre em tensão com a academia via estudos pós-coloniais e subalternos, mas com o tom próprio de cientistas macumbeiros que transformam em outra coisa o próprio conceito de subalternidade, a usina da dupla apresenta um vitalismo necessário no momento de desmontagem ou (para adotar seu léxico) de desencante severo do estado brasileiro, oferecendo possibilidades criativas de leitura e intervenção nos nossos terreiros (des)encantados, fustigados, avariados, amortalhados. Sacudir e esculhambar essa mortalha é o mote e o norte que nos oferecem, página após página, em Fogo no mato e demais fogos antifas.
O leitor pode fazer download gratuito do livro Encantamento na página da editora. Os restantes livros podem ser adquiridos em e-book por preços acessíveis.
LUIZ ANTONIO SIMAS é professor de História e autor de Almanaque Brasilidades (Bazar do Tempo, 2018), Pedrinhas miudinhas: ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros (Mórula, 2013), Ode a Mauro Shampoo e outras histórias da várzea (Mórula, 2017), Dicionário da História Social do Samba (Civilização Brasileira, 2015, com Nei Lopes), O corpo encantado das ruas (Civilização Brasileira, 2019), Fogo no mato: a ciência encantada das macumbas (Mórula, 2018) e Flecha no tempo (Mórula, 2019), os dois últimos com Luiz Rufino.
LUIZ RUFINO é pedagogo, doutor em Educação pela UERJ, com pós-doutorado em Relações étnico-raciais. É professor e autor de Histórias e Saberes de Jongueiros (Multifoco, 2014), Pedagogia das encruzilhadas (Mórula, 2019) e de Fogo no Mato: a ciência encantada das macumbas (Mórula, 2018) e Flecha no Tempo (Mórula, 2019), os dois últimos com Luiz Antonio Simas.
- 1. Expressão do “Manifesto Ciborgue” de Donna Haraway.