Descolonizando as Mentes
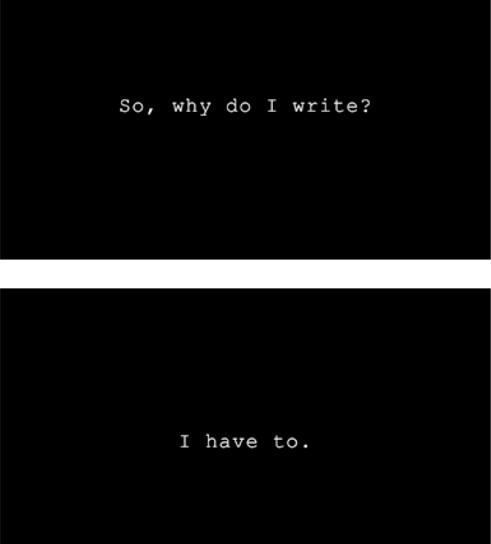 Fotogramas de O projeto desejo, 2015-2016, de Grada Kilomba
Fotogramas de O projeto desejo, 2015-2016, de Grada Kilomba
Os movimentos de Libertação Nacional dos países africanos conquistaram a independência das nações que foram, durante mais de 400 anos, colonizadas por Portugal. Ao derrotarem o projeto colonial português, vencendo a opressão e a violência, conquistaram para o povo de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe o direito à dignidade, o direito de existir em liberdade e democracia. Embora vitoriosos no combate ao colonialismo e à ditadura fascista do Estado Novo, a independência e a descolonização não venceram o racismo. O racismo em Portugal é estrutural e encontra-se profundamente enraizado na sociedade. Esta é uma pesada herança do período colonial.
O projeto colonial português consolidou-se através da construção de uma ideologia supremacista e racista. O privilégio dos colonizadores alicerçou-se na discriminação das populações dos países africanos que foram colonizados por Portugal. Os conceitos de inferioridade biológica, social e cultural dos negros, foram usados para validar a exploração da força de trabalho e dos recursos naturais, consolidando assim o privilégio dos colonizadores.
O poder do império colonial, o desenvolvimento social e económico de Portugal, ergueu-se nos ombros de séculos de exploração, opressão e violência sobre as populações dos países africanos. No entanto existe um argumento fortemente difundido, e hegemónico, de que a colonização portuguesa foi diferente daquela que foi implementada por outras potências que colonizaram países dos continentes africano, americano e asiático. Segundo esta tese, defende-se o argumento de que a expansão Portuguesa foi benigna. A celebração dos chamados “Descobrimentos” alicerça-se no orgulho na expansão marítima, afirmando-se que Portugal “deu novos mundos ao mundo”, que a colonização portuguesa teve o mérito da miscigenação e que não enfermou da violência e opressão perpetradas por outros regimes colonialistas. Existe na sociedade portuguesa um consenso em torno da exaltação acrítica deste passado, apoiada na teoria lusotropicalista enunciada por Gilberto Freyre nas suas obras, na defesa da excecionalidade do projeto colonial português, assente na especial vocação dos portugueses para a miscigenação e adaptação às culturas dos trópicos. A narrativa hegemónica que daí resultou, propagou e continua a propagar a ideia de que Portugal teve um colonialismo suave e de que promoveu um harmonioso encontro de culturas. Uma narrativa que constitui uma das principais marcas identitárias da nação e que impede o reconhecimento, não só da brutal violência sobre a qual foi erigido o projeto colonial português, mas também da luta determinada e da persistente resistência que lhe opuseram os povos negros desde o início do jugo colonial.
Ao negar a promoção de um olhar crítico e informado sobre as várias dimensões da História de Portugal, a recusa da aceitação da violência e opressão do colonialismo português impede o aprofundamento do debate em torno do racismo, ao evitar uma compreensão ampla das suas raízes, principalmente do racismo institucional que tem afastado da cidadania plena um grande número de portugueses negros.
A atual Lei da Nacionalidade, que consagra o direito de sangue em detrimento do direito de solo, impede o acesso à nacionalidade portuguesa a muitos jovens, filhos de imigrantes, nascidos em Portugal, tornando-os estrangeiros no seu país. Esta lei inscreve-se numa visão redutora da composição étnico-racial de Portugal, não tendo em conta a diversidade existente. A recusa de direitos de cidadania a pessoas nascidas em Portugal perpetua uma prática, iniciada durante o período colonial e materializada em leis como as do chamado Código do Indigenato, que discrimina em função da origem e em razão da cor da pele, criando cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, os renegados da nação. Esta posição revela a visão do Estado português sobre como se define a cidadania Portuguesa, quem pode e merece ser Português e se constrói a identidade nacional.
Portugal não tem, e nunca teve, uma só cor ou um único sotaque. A presença dos negros em Portugal é muito mais ampla no tempo do que aquela que a narrativa identitária portuguesa defende. No entanto, procura-se ativamente, associar negros a imigrantes e imigrantes a negros. Os negros não são percecionados como portugueses. A invisibilização dos negros na sociedade portuguesa, a pouca presença nos locais de produção e reprodução de poder, reforça a crença na homogeneidade fenotípica da sociedade portuguesa, que exclui todos os não brancos, dilui a influência das práticas sociais dos negros na cultura portuguesa e reifica preconceitos e estereótipos. A reiterada recusa, por parte do Estado português, da possibilidade de recolha e tratamento de dados estatísticos que tenham em conta a origem ou pertença étnica e racial da sua população, que permitiriam estudar e corrigir as desigualdades que persistem, inscreve-se igualmente nesta estratégia nacional de invisibilização e silenciamento dos negros e de outras minorias étnicas ou raciais.
Em plena Década Internacional dos Afrodescendentes proclamada pelas Nações Unidas para o período 2015-2024 e endossada pelos seus estados-membros, incluindo Portugal, o País continua a manter um silêncio ensurdecedor sobre o assunto e uma total ausência de ações concretas, desrespeitando, assim, os compromissos que assumiu ao subscrever a iniciativa.
Esta recusa do reconhecimento que existe uma minoria racial em Portugal, que existem portugueses negros, impede a implementação de medidas específicas para afrodescendentes, o que contraria as recomendações apresentadas a Portugal pela ONU e pelo Conselho da Europa. Existem especificidades na desigualdade e discriminação a que os afrodescendentes estão sujeitos e estas devem ser corrigidas com a implementação de medidas, também elas específicas, de combate ao racismo e discriminação racial.
A escola e a educação não se encontram desligadas da sociedade. Vivemos numa sociedade racista onde permanecem inúmeros estereótipos que foram construídos para legitimar o colonialismo e o comércio de pessoas escravizadas. Estas ideias que discriminam os indivíduos, que os hierarquizam com base no conceito de raça e que perpetuam a ideia de superioridade dos europeus face aos africanos, dos brancos em relação aos negros, permanecem nos currículos. Com frequência se omite, ou diminui, o contributo de civilizações não europeias para o desenvolvimento social e tecnológico. Os fatos históricos são apresentados com uma pretensa neutralidade científica, no entanto fornecem uma leitura claramente eurocêntrica, apontando para uma supremacia quase total das civilizações europeias, reforçando a narrativa do projeto civilizador do colonialismo português.
 Frame do vídeo 'merci beaucoup, blanc', de Musa Michelle Mattiuzzi
Frame do vídeo 'merci beaucoup, blanc', de Musa Michelle Mattiuzzi
A representação dos negros nos manuais escolares associa-os à ideia do primitivo, incivilizado, desprovido de cultura. Naturaliza a ausência da história de África e invisibiliza o racismo, alimentando visões estereotipadas sobre África e o “outro” negro/africano.
A promoção da igualdade é da responsabilidade do Estado. O Estado português tem perpetuado, e em muitas dimensões acentuado, a desigualdade estrutural e profunda que se forjou durante o processo colonial português e tem continuidade no presente. No nosso país, os estudantes com nacionalidade dos países africanos colonizados por Portugal têm maiores taxas de retenção no ensino básico e secundário, são encaminhados com maior frequência para cursos do ensino profissional e têm uma menor taxa de frequência universitária quando comparados com a população escolar de nacionalidade portuguesa. Verifica-se ainda que as taxas de encarceramento de nacionais desses países são superiores. Estes dados revelam dimensões da vida coletiva em Portugal que penalizam intensamente pessoas de ascendência africana. A estas expressões de discriminação a que os negros estão sujeitos, acresce, de forma evidente, um vasto conjunto de outras: a segregação territorial, a maior precariedade habitacional e laboral, taxas mais elevadas de desemprego, a violência policial, a sub-representação em profissões qualificadas e sobre-representação em profissões menos qualificadas e remuneradas, a ausência de representação na comunicação social (ou a representação estereotipada e estigmatizante, associando frequentemente os negros à criminalidade e insegurança), nas instituições académicas, nos partidos políticos e, em geral, nas instâncias de poder.
Estas desigualdades evidenciam a dimensão do racismo institucional, menos visível mas tão destrutivo como o racismo individual, que dificulta o real acesso a direitos consagrados na Constituição Portuguesa e mantem à margem da cidadania plena e da participação um grande número de africanos e portugueses negros.
O racismo institucional e sistémico que hoje enforma o país inscreve-se num continuum histórico, inaugurado pela escravatura e consolidado pelo colonialismo, que não acabou com a derrota do colonialismo.
A luta e resistência dos negros contra a escravidão e contra o colonialismo é a luta para alcançar a liberdade, a dignidade plena, o reconhecimento da Humanidade. A luta vitoriosa dos movimentos de libertação dos países africanos que foram colonizados por Portugal derrotou a ditadura fascista do Estado Novo e o projeto colonial português, e contribuiu ativamente para a libertação do povo português.
O combate anti-racista é herdeiro das lutas de resistência contra a opressão, a exploração e a barbárie. Inscreve-se na luta de libertação contra a dominação, a discriminação e o preconceito. Promove um combate sem freios à manutenção de conceitos ultrapassados e bafientos de raça. Desafia as noções estereotipadas sobre o outro que alimentam a discriminação racial e procuram assim garantir e perpetuar os privilégios.
Os ativistas anti-racistas, como no passado os líderes dos movimentos de libertação, reivindicam a construção de uma outra realidade social. Assumindo perspetivas de rutura com o pensamento arcaico que tece a matriz colonial, desejam restaurar a dignidade do negro enquanto sujeito político e garantir a cidadania plena e a igualdade. Libertam-se do colonialismo que aprisiona as suas mentes e reclamam o direito a ter direitos.
Artigo originalmente publicado no Reader do ciclo Descolonização, programado por Liliana Coutinho / Teatro Maria Matos