Prefácio - A impossibilidade da não-violência
Numa noite de sexta-feira, polícias com caçadeiras e cães, agentes do SEF e «picas» enchem uma estação de comboios que liga a periferia ao centro da cidade, para parar, revistar e exigir documentação a quem entra ou sai dos comboios. Num «bairro social», um grupo de miúdos convive em frente a um café quando uma equipa do corpo de intervenção sai da carrinha, encosta à parede e revista quem não saiu dali a tempo. Numa rua de Lisboa, uma dezena de polícias despeja uma senhora de 84 anos. Noutra habitação, na iminência de ser igualmente despejada, uma mulher escolhe o suicídio. Enquanto os fundos imobiliários acumulam casas, os sem-abrigo acumulam-se nas ruas. No dia 15 de Setembro de 2021, Danijoy Pontes, 23 anos, é declarado morto na prisão onde estava preso. No mesmo dia, outros dois reclusos são «encontrados» mortos, um deles no mesmo estabelecimento prisional onde se encontrava Danijoy. No dia em que escrevo estas linhas, um homem mata à facada a sua companheira enquanto esta dormia. Outra mulher, procurando evitar o mesmo fim, denuncia na polícia uma situação de «violência doméstica» e tudo o que leva da esquadra é a sugestão de que «talvez esteja na altura de mudar de casa». Noutro ponto do globo, enquanto as armas circulam livremente da Europa para o Norte de África, as vítimas dos conflitos que essas armas alimentam são impedidas de entrar na Europa, aos milhares, sendo detidas e deportadas, quando não morrem no mar Mediterrâneo. Entretanto, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia anunciam um «acordo histórico» para um novo Pacto para as Migrações e Asilo, no qual crianças podem ser consideradas um «risco para a segurança», automaticamente deportadas e se prevê a criação de uma massiva base de dados biométricos. A fotografia de Alan Kurdi, a criança síria de dois anos que jaz numa praia, afogada, sozinha, perdeu-se na voragem do imediatismo. Tal como os milhares de crianças mortas em Gaza, na Palestina, soterradas pelos escombros, pela vozearia da comunicação social com o seu entourage de «especialistas» e pelos «nossos» representantes que nos tentam convencer de que o que está em causa é o «direito à defesa» de Israel.
Da vida quotidiana às relações internacionais, os exemplos poderiam multiplicar-se. A violência é parte fundamental da normalidade em que vivemos. Mas sobre a violência recai, frequentemente, um manto tão pesado de eufemismos e «explicações» que se torna difícil pensá-la, estabelecer os seus limites, até identificá-la. Iluminar um ponto em que se manifesta implica deixar muitas das suas manifestações na sombra. A sua invisibilidade é um produto da sua ubiquidade. A maioria dos episódios partilhados no parágrafo anterior – quando chegam às notícias – não convocam sequer a palavra «violência». A expressão «violência doméstica» exibe-a, mas dissocia-nos colectivamente da sua existência ao contê-la no espaço doméstico. Com isso, acaba por ter mais o efeito de a banalizar do que o de causar qualquer comoção ou perturbação. Nem os números avassaladores do fenómeno em Portugal, que se repetem ano após ano, conseguem beliscar a medalha de «brandos costumes» que o país gosta de exibir na lapela. Muito menos se prestam a iniciar um debate alargado e continuado sobre a violência entre nós.
Não tanto, certamente, como quando um grupo de manifestantes parte uma montra, bloqueia temporariamente uma estrada ou lança tinta a um ministro. É, aliás, por gestos como estes que a questão da violência tende a saltar para a linha da frente na comunicação social e nas redes sociais. Os instigadores mais recentes têm sido grupos de jovens mobilizados em torno do problema das alterações climáticas, responsáveis por uma série de acções de protesto pacíficas, geralmente de desobediência civil, como as enunciadas no início deste parágrafo. Os «nossos» porta-vozes, perturbados com a impertinência desta juventude aparentemente descrente de petições, boletins de voto e manifestações animadas por cantorias e enfeitadas com cartazes, apressaram-se a anunciar, em pânico, a abertura de um precedente que adivinhava um caminho sem retorno. Estava em causa a «paz social» e a «ordem pública». Descobriu-se até uma profunda e desconhecida dedicação dos portugueses aos seus empregos. «Chegar atrasado ao trabalho» revelou-se algo muito mais insuportável para qualquer cidadão do que viver com racionamento de água, como nalgumas zonas do Algarve.

É de crer que o fantasma da «violência» venha a ser uma presença constante nos tempos que se avizinham. Infelizmente, a sua premência não se colocará pela reafirmação da guerra como forma de resolução de disputas territoriais e conflitos geopolíticos, em que os nossos representantes políticos e mediáticos nos dizem, nada mais nada menos, que não há outra forma de resolver as coisas sem ser pela violência, invocando permanentemente o «direito à defesa», ao mesmo tempo que alimentam os conflitos com a retórica dos «nossos valores» e com milhares de milhões de euros e dólares em apoio bélico. Também não se colocará pelo crescimento da pobreza, do racismo, da homo e transfobia, nem do aumento efectivo dos crimes de ódio. E, parece cada vez mais claro, também não se colocará pelas consequências das alterações climáticas e do impacto tremendo nas vidas dos habitantes do planeta, com especial peso sobre os habitantes dos territórios mais pobres. Os ecoterroristas nunca serão os perpetradores da catástrofe climática em curso, mas sim aqueles que procuram travá-la.
A sua premência decorrerá, com muito maior probabilidade, de um cenário de crescente ingovernabilidade. A guerra, aliás, em diferentes escalas, tornar-se-á o novo normal. Será fora dos locais reservados à política, e com aqueles em quem se recusa ver qualquer significado ou gesto político, que o fantasma da violência emergirá. E os movimentos sociais ou as «ruas» terão um protagonismo especial na interrupção destas rompantes e incessantes máquinas de guerra e de ódio. Dificilmente essa interrupção se dará com passeios na avenida, petições e apelos ao voto. O voto, aliás, para a maioria, deixou de representar qualquer desejo de transformação ou de progressivo bem-estar social. Vota-se, cada vez mais, para impedir que a violência alastre, para adiar ou atenuar a destruição em curso.
Podemos não saber quais os métodos ou formas de acção mais eficazes para superar essa impotência, mas, o que é certo, como nos diz Rolando D’Alessandro, é que a urgência em repensar e redefinir esse caminho não se coaduna com dogmas, muito menos aqueles que fizeram parte do caminho que nos trouxe até aqui (quanto mais não seja pela sua incapacidade em causar qualquer atrito a esta marcha para o colapso). Para construir uma nova linguagem adequada ao nosso tempo, repto que nos lança este livro, convém saber com que fios se teceu a linguagem que nos governa.
A inevitabilidade da violência
Como mostra a plasticidade da palavra violência, visibilizando ou invisibilizando as suas múltiplas expressões de forma aparentemente arbitrária, o que por ela se entende não deve ser procurado numa forma concreta. A violência não é um facto, não é uma «coisa» que se possa delimitar com clareza. É mais uma experiência subjectiva do que uma classificação objectiva que possa ser imposta externamente. É socialmente construída e, por isso, o que é visto como violento ou como não violento, a sua legitimidade ou ilegitimidade, decorre do seu grau de imbricamento nas nossas relações sociais. Procurar contê-la a partir da sua definição é, aliás, um exercício tão perverso quanto impossível. Interessa-nos mais, por isso, perceber que relações produz e que normalidade constitui. E a nossa normalidade teve sempre como um dos seus pilares fundacionais a relação entre ordem e obediência, entre poder e coerção.
O imenso corpus de literatura etnográfica que a antropologia acumulou dá-nos conta de um grande número de sociedades fundadas num imaginário cosmológico tremendamente violento, onde os seus mitos e histórias fundacionais são povoados de guerra, destruição e morte, sociedades essas que, paradoxalmente, são profundamente pacíficas. Entre elas encontram-se, aliás, algumas das sociedades mais igualitárias estudadas pelos antropólogos, onde as relações hierárquicas, figuras de autoridade ou aparelhos de coerção sistemática são mínimos ou inexistentes. O espectro da violência está de tal modo presente que tudo (relações sociais, decisão política, resolução de conflitos, etc.) parece ser organizado de modo a impedir a sua eclosão na vida social. Muitas dessas sociedades correspondem ao que o antropólogo francês Pierre Clastres designou por «sociedades contra o Estado». Na obra com esse título (2018 [1974]), Clastres apontava que os antropólogos não tinham ainda superado o antigo modelo evolucionista, organizando politicamente as sociedades que estudavam numa linha evolutiva em que o Estado correspondia à forma organizativa mais avançada. Clastres sugeria, por outro lado, que as sociedades sem Estado, e, por isso, consideradas mais atrasadas nessa corrida evolutiva, não desconheciam propriamente as formas organizacionais tomadas como mais sofisticadas, mas que se organizavam intencionalmente de modo a garantir que o Estado (e o mercado) não chegavam sequer a existir. Não é, portanto, que a violência apenas fosse conhecida nestas sociedades pela sua expressão simbólica, mítica, cosmológica, ou que as pulsões mais destrutivas que relacionamos com a humanidade não fossem ponderadas. Antes, como nos diz David Graeber, é como se o trabalho infinito de obter consenso escondesse uma violência intrínseca permanente e aí residisse a principal fonte de criatividade social (Graeber, 2004). O que estava em causa, portanto, era uma recusa em fundar a ordem social nessa relação umbilical entre poder e coerção característica dos Estados, o que levava a que se organizassem contra ele.
Entre nós, por outro lado, as «fontes da criatividade social» esbarram permanentemente num eterno fim da história. Ou, para um argumento talvez mais ousado, no esgotamento das categorias que estruturam as formas de pensamento da Modernidade ocidental. Este evolucionismo político, de resto, persiste muito para lá da antropologia e contamina de formas poucos subtis a nossa imaginação política. O Estado continua a ser o paradigma da ordem política, o ponto mais avançado da nossa história. A maior parte de nós, mais à esquerda ou mais à direita, não parece conceber a possibilidade de uma sociedade sem o Estado, fundada na coerção e sem um aparato de governação centralizado. Consequência e fundamento dessa insuperabilidade do Estado é, portanto, o seu monopólio do uso legítimo da violência, como factor que permite garantir a ordem social e a segurança dos cidadãos. Nesta equação, a ordem, a igualdade e a paz sociais dependem da abdicação de liberdades individuais e a democracia é o balanço difícil entre uns e outros.
Há, nessa medida, diferenças substanciais com o que acontece nessas sociedades e na nossa, nomeadamente quanto à forma como concebemos a ordem e a segurança. Mais do que algo latente, ou uma potência, a violência é, para nós, uma fatalidade. Logo, as nossas formas de organização social e política construíram-se mais a partir dessas pulsões e da latência da violência do que contra elas. Há uma indissociabilidade fundacional entre poder e violência, poder e coerção, que tornam difícil pensar para lá disso. A presença igualmente ubíqua da violência nas nossas sociedades, quando reconhecida, serve, aliás, para atestar a sua insuperabilidade e a afirmação da sua inevitabilidade. E é dessa inevitabilidade que emerge o monopólio do uso legítimo da violência pelo Estado. Delegamos-lhe esse monopólio para que faça a gestão da violência inevitável, contenha a violência evitável e, em última instância, para prevenir que usemos a violência uns contra os outros, ou seja, para impedir que caiamos no «estado da natureza» hobbesiano que – na mesma lógica evolutiva – antecede e suscita a necessidade de uma autoridade capaz de impedir um estado de guerra generalizado e que mantenha a paz e ordem sociais. A inevitabilidade da violência é, por esta via, naturalizada e, consequentemente, a necessidade de um Estado ou de um soberano acaba também por ser uma inevitabilidade que decorre da natureza. As desigualdades (desde logo de poder) que estruturam as nossas sociedades não são, assim, vistas como violentas ou são remetidas para uma esfera diferente do que se possa entender por violência. São tão naturais quanto as dores de um parto. Tentar acabar com essas desigualdades é um exercício votado ao fracasso. Podem atenuar-se os efeitos de uma violência que é natural ou inevitável, inscrita na própria ordem das coisas, mas não se podem eliminá-los por completo.
A esta diferença entre uma natureza que constitui uma inevitabilidade, mais do que uma potência, e que nos força, portanto, a organizarmo-nos a partir dela mais do que contra ela, não será estranha a diferente relação entre «natureza» e «cultura» que existe nas sociedades não-ocidentais estudadas pelos antropólogos e naquela em que vivemos. Como tem sido sublinhado por antropólogos como Philippe Descola e Eduardo Viveiros de Castro, numa grande parte destas sociedades há uma inseparabilidade entre o mundo «não humano» e o mundo «humano», de tal modo que o que acontece num e noutro se afectam reciprocamente. Entre «natureza» e «cultura» há uma continuidade, causadora de uma «instabilidade ontológica» que se liga ao reconhecimento de que se é tanto presa quanto caçador, para lembrar as palavras de Pierre Clastres sobre os índios guayaki (1998 [1972]). Entre nós, a ordem, fundada numa distinção entre «natureza» e «cultura», remete para a superação da primeira pela segunda. O nosso «progresso» mede-se pelo crescente controlo que temos sobre as forças da natureza, seja essa a natureza dos nossos impulsos – a natureza humana – seja a natureza como o conjunto das forças que regulam o universo.
Entre nós, portanto, a multiplicação indefinida das expressões da violência concede-lhe um espaço tão amplo que a dilui no conjunto das relações sociais. Mais do que servir para identificá-la ou procurar contê-la, tem, entre os seus efeitos perversos, a naturalização e, logo, a exteriorização da sua existência, como algo que está para lá de nós. Tal como dissemos, se a sua ubiquidade é reconhecida, serve, acima de tudo, para afirmar a sua inevitabilidade, inscrevendo-a indelevelmente, por essa via, nas relações sociais.
Em poucas palavras, o que se entende por violência, nas nossas sociedades, parece decorrer mais da naturalização da estrutura da própria sociedade do que de qualquer forma de violência em si. E, consequentemente, a violência será, acima de tudo, aquilo que ameaça a «normalidade». Mais do que o lugar no eixo violento/não violento, o que está em causa, então, é saber que mecanismos operam na definição do que é a violência legítima ou ilegítima, evitável ou inevitável.

O sujeito da violência
É esta ubiquação e naturalização da violência que permite o paradoxo, tão repetido contemporaneamente, de que nunca vivemos tempos tão pacíficos quanto o presente. A violência que escapa da sombra com que a normalidade a cobre é considerada anacrónica, quase uma reminiscência do passado, algo próprio da barbárie e do irracional. A evolução da humanidade – por via da gradual superação da natureza pela cultura – tornou a nossa sociedade cada vez menos violenta. Uma tese que mostra que o mundo ainda não interiorizou o facto de que o Holocausto foi o produto de uma máquina de extermínio extremamente bem oleada, um primor de organização logística e racionalidade, mais afim à Modernidade do que à Idade Média. O «processo civilizacional» talvez seja, no fundo, este paradoxo, em que o «povo» e o «cidadão» se tornaram cada vez menos violentos, enquanto os aparatos de governação se tornaram cada vez mais violentos e de formas crescentemente sofisticadas.
Tanto assim é que a definição de violência exclui, geralmente, a acção do Estado. Não por acaso, da esquerda à direita, vemos recorrentemente reforçados os apelos às manifestações pacíficas e ordeiras. Os excessos dos manifestantes que, por exemplo, partem uma montra são condenados em coro, enquanto as cargas policiais que sobre elas se abatam são justificadas por esses «excessos». A violência, segundo esta perspectiva, é sempre um mal ou dano causado sem o consentimento das autoridades, o que torna impossível o Estado agir violentamente. A título ilustrativo, a coqueluche dos nossos humoristas de esquerda, no seguimento de uma das acções dos activistas climáticos, denunciava o autoritarismo desses activistas que quebravam «o pacto de que o Estado tem o monopólio da violência» e lembrava que «há uma maneira de fazer isto, e foi feito esta semana por um grupo de jovens que apresentou uma queixa no tribunal». Para que não restassem dúvidas, acrescentava: «nós, na civilização, o que fazemos é chamar a polícia.»
Aparentemente, estamos todos condenados a permanecer neste comboio que nos prometeu o progresso enquanto devasta tudo por onde passa. Que a inevitabilidade da violência, ou, pelo menos, a sua extensão, seja sempre socialmente construída, e que quem a determina nem seja tanto a natureza mas quem concentra o poder, parece não querer dizer grande coisa, excepto que temos de aprender a viver com isso. Como não é uma opção, não se trata de violência, mas sim de uma inevitabilidade e, como tal, resta-nos simplesmente obedecer. Eis a normalidade em todo o seu esplendor.
Podemos assumir, porém, que o monopólio do uso legítimo da violência abarca também a sua definição. Como Weber dizia, numa parte menos sublinhada da sua célebre formulação, não é suficiente garantir o monopólio da violência; é também necessário assegurar que seja considerado legítimo (e.g. Weber, 2019 [1921]). E o primeiro momento da violência encontra-se precisamente aí: no exercício da sua identificação. Para isso, ergue-se, então, em torno da violência, uma espécie de cerca sanitária que rodeia certas formas de violência e exclui outras, através de um enorme aparato de códigos legislativos, notícias e pânicos morais, permanentemente polidos por todo o tipo de «especialistas», polícias, políticos, fazedores de opinião, jornalistas; ou seja, uma cerca erguida pelas instituições e pelos sujeitos a quem cabe governar ou a quem cabe mediar a relação entre governantes e governados. É aí que se estabelece a distinção entre uma violência ilegítima e uma violência legítima, sancionada pela lei, pelo governo ou pelo costume; é aí que se determina a visibilidade ou a invisibilidade das expressões da violência; é daí que sobressai o carácter intoleravelmente violento da que é ilegítima e se normalizam e legitimam outras formas de violência; é aí, enfim, que se define um «interior», uma violência intrínseca à própria normalidade, tomada como inevitável ou natural, e um «exterior», relativo a uma violência que lhe é estranha e hostil. A dificuldade que temos em definir a «violência» começa precisamente no quadro que impõe estas distinções.
O aparato que sustenta esse monopólio está, aliás, tão enraizado, como vimos, que é praticamente um tabu discutir, sequer, o que é a violência. Fazê-lo implica colocar em causa não só a definição de violência como, também, quem a define e tem o poder para a impor. E a ousadia de o fazer coloca-nos imediatamente sob suspeita, como se, por contágio, os nossos olhos se revirassem, a nossa pele se inflamasse e a própria paz e ordem sociais ficassem automaticamente comprometidas. Quem questiona a (in)definição ortodoxa de violência, tão cuidadosamente formulada por quem zela pelo nosso bem-estar, está claramente à procura de problemas. Coloca-nos, basicamente, fora da «sociedade», como um elemento estranho e perigoso, disposto a quebrar as regras para pôr tudo em causa.
A violência resulta, portanto, do que é estranho, uma estranheza intraduzível, que vem da irracionalidade, que «nos» ameaça e ao «nosso» estilo de vida. Ela é fruto de seres desconectados da sociedade, perdidos e loucos, gente que só está bem a destruir e que não tem outro ideal senão o caos. É fruto dos «profissionais da desordem», como lhes chamava um ministro há poucos anos. Ou de gente que se «compraz na negação», como dizia Charles de Gaulle em Maio de 68. Resulta de uma ingerência exterior, agentes provocadores, alimentada por um qualquer «eixo do mal» ou até financiada por forças obscuras que beneficiam com o colapso da «nossa» estabilidade. O sujeito activo da violência é, portanto, um outro, alguém estranho à ordem que nos regula. É, basicamente, aquele que ameaça o que damos por adquirido ou o que se pretende imutável, que nos dizem ser nosso, a normalidade e a ordem que quem nos «representa» tem a obrigação de garantir. O mecanismo de produção da violência e do «violento» é, assim, um mecanismo de produção de alteridade. Por isso, o estado de coisas em que habitamos, aquilo que o sustém, nunca é violento. É apenas o que é. É a «sociedade», é a «ordem», são os «nossos» valores. São uma violência domesticada e tomada como necessária para garantir um mínimo de paz e ordem sociais.
O dogma da não-violência
Visando os movimentos sociais, o que Rolando D’Alessandro nos deixa é, antes de mais, um apelo à recusa da «cadeia de produção ideológica e discursiva» que distingue o que é violento do que não é violento «conforme a sua conveniência». Como sublinha, o «dogma da não-violência», que se hegemonizou nos movimentos sociais e nas acções de protesto nas últimas décadas, é um resultado dessa «cadeia de produção» que recusa a «compreensão de qualquer manifestação de conflito que saia dos parâmetros de uma visão do mundo liberal e conciliadora». E os efeitos da resignação a tais parâmetros impostos externamente foram fracassos e impasses sucessivos, em que o melhor que se conseguiu foi mudar alguma coisa para que tudo permanecesse na mesma. Desde logo, por terem constituído um recuo face a experiências passadas, uma espécie de «desarmamento unilateral» em que o inimigo conservou todo o seu arsenal «legal, discursivo, organizativo (…) e de armas». A pior consequência desse gesto talvez tenha sido, precisamente, o sacrifício, pelos movimentos emancipatórios, da criatividade e da construção de uma linguagem própria. O medo e o desprezo que a comunicação social e as elites reservam para aqueles que procuram combater o capitalismo, o Estado e todas as formas de desigualdade e dominação estruturais foram internalizados, assim como os espartilhos legais que procuram transformar qualquer acto não sancionado pela lei (como as acções pacíficas de desobediência civil dos activistas climáticos) em sinónimo de violência.
O livro não constitui um apelo à violência – talvez seja melhor dizê-lo –, nem sequer afirma a sua necessidade. Além de expor a arbitrariedade da classificação do que é ou não violento, pretende evidenciar que ela já cá está, como parte integrante da nossa «normalidade», alimentada, precisamente, por aqueles que apelam à não-violência, à resolução dos conflitos e problemas, através dos meios institucionais e dos canais políticos tradicionais. Como nos diz Natasha Lennard, o problema que enfrentamos não é tanto o da necessidade da violência, mas o da impossibilidade da não-violência (2019). A não-violência pressupõe um cenário imaginado de paz pré-existente, o que permite afirmar que um protesto se «torna violento» e obscurece a violência que o antecede e a que responde. É célebre a resposta de Angela Davis quando questionada se aprovava o recurso à violência:
Cresci em Birmingham, no Alabama. Alguns amigos muito próximos foram mortos por bombas – bombas plantadas por racistas. Lembro-me de quando era muito pequena ouvir o som de bombas a explodir na rua e de a casa tremer… É por isso que considero incrível quando me perguntam sobre violência, pois significa que quem me coloca a questão não faz a menor ideia daquilo por que as pessoas negras tiveram de passar e o que experienciaram neste país desde o momento em que o primeiro negro foi raptado da costa africana.
Não há, portanto, um «antes» e um «depois» da violência. Há um contínuo. Há uma violência tão difusa e de tal forma inscrita nas nossas relações sociais que é impossível circunscrevê-la a um momento e a uma causa única, como os aparelhos mediáticos e governativos procuram fazer com quaisquer sinais de contestação mais intensos. A violência não é redutível a uma escolha ou a uma opção (muito menos individual). A situação contemporânea do refugiado atesta-o dramaticamente, forçado que é a escolher entre permanecer num lugar onde a própria vida parece impossível ou fugir para outro onde é indesejado, maltratado, explorado.
Por tudo isto, e por reflectir uma visão do conflito social própria da classe média, Rolando D’Alessandro chama a atenção para o classismo e paternalismo do «dogma da não-violência». Quando se exige paz e decoro a quem nunca deles beneficiou está-se, basicamente, a passar um atestado de incompetência e a impor o fardo da culpa sobre aqueles que se revoltam. As condenações dos motins e das pilhagens que se seguiram ao assassinato policial de George Floyd nos Estados Unidos, em 2020, por exemplo, e os apelos a vias mais moderadas de intervenção para que «as pessoas fossem ouvidas», não são mais do que uma exigência cruel e obtusa para retomarem os mesmos canais políticos e mediáticos que sempre os silenciaram, ignoraram e subalternizaram. É uma forma de dizer, por outras palavras, que não há forma de verem as suas reclamações plenamente reconhecidas e satisfeitas. A não-violência é, no fundo, um privilégio daqueles que mais beneficiam da violência sistémica e que ainda se podem dar ao luxo de acreditar na possibilidade de persuadir as elites e quem nos governa, apelando à sua consciência e boa-vontade.
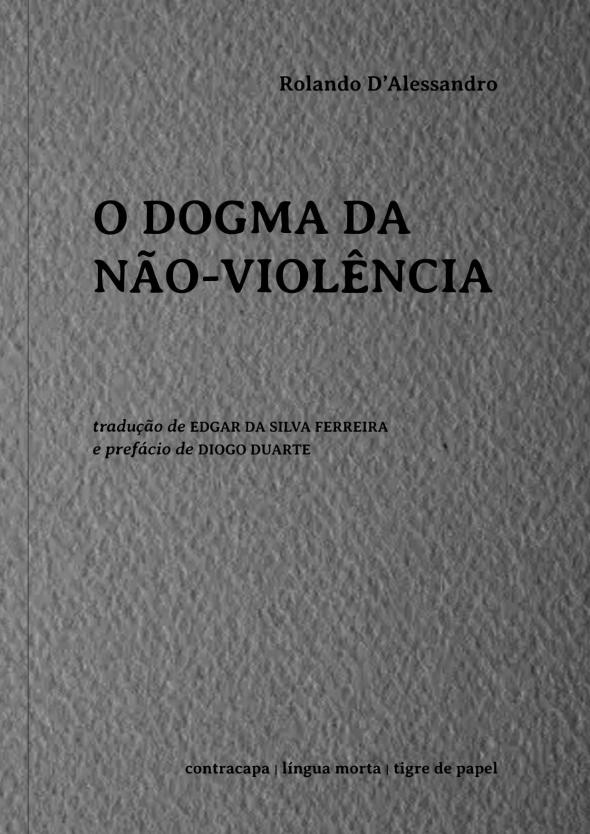
Uma das críticas pacifistas às acções mais militantes, disruptivas ou classificadas como violentas, segundo os critérios flutuantes que temos vindo a tratar, é o seu efeito alegadamente alienante em figuras mitificadas como a «opinião pública» ou o «cidadão comum». Mas o que é, afinal, a «opinião pública» e o «cidadão comum» senão a cristalização de uma figura fetichizada que condensa certos privilégios em disputa nos conflitos sociais, um produto de criação mediática e dos mecanismos de governação? A «opinião pública» não é mais do que uma comunidade imaginada – encenada através de sondagens, inquéritos de opinião e outros mecanismos de mediação – que consiste essencialmente em famílias de classe média e brancas, como nos recorda David Graeber (2009). E o «cidadão», o sujeito do Estado por excelência, está, para todos os efeitos, em colapso, esvaziado de todo o seu significado pela crescente incapacidade de gestão do social e das suas contradições pelo Estado. Combater a falência de um sistema, as suas desigualdades e formas de dominação estrutural, especialmente pelos grupos minoritários e subalternizados mais prejudicados, é incapaz de evitar esbarrar nestes muros de «representatividade» que reforçam a exclusão de largos sectores da população e, como tal, a sua destruição é uma necessidade.
Como sublinha D’Alessandro, e tal como aludimos atrás, toda esta «cadeia de produção ideológica e discursiva» transforma, necessariamente, todo o antagonista numa espécie de inimigo, procurando destituí-lo de qualquer substância ou densidade política. Os «vândalos», os «niilistas», os «hooligans», os «terroristas», os «bárbaros», os «anti-sistema», os «luditas» e os «anarquistas» (estes últimos, em particular, esvaziados de todo o seu significado histórico) compõem este imenso exército de silhuetas distorcidas aparentemente movido pela vertigem da destruição e da disrupção da nossa «normalidade». Neles cabe tudo o que não se quer entender, explicar ou o que não se pretende lidar senão pela violência e repressão. São classificações que operam pela desclassificação e pela negação de qualquer possibilidade de diálogo, pois surgem como a expressão de uma irracionalidade insuperável. Tomemos como exemplo um dos acontecimentos recentes, em Portugal, que agitou o espantalho da violência: as acções que visam destruir, remover ou ressignificar certas estátuas ou monumentos do espaço público, geralmente de figuras associadas ao passado colonial e esclavagista. Reduzindo rapidamente os agentes de tais acções à condição de «vândalos» ou «iconoclastas», brandindo-se o perigo de um ataque à «memória histórica» ou a perda irreparável de objectos de grande valor artístico, procurou-se silenciar os múltiplos significados e discursos que tais objectos procuravam disputar e que foram, justamente, a razão que motivou a sua exibição no espaço público. Essas acções surgiram, e continuam a acontecer, no decurso da expansão de debates em torno da memória histórica e da (in)visibilidade de certos sujeitos, recebidos, contudo, pelas autoridades com desprezo e sem nunca motivarem qualquer acção ou vontade de responder a tais preocupações sobre o passado e sobre o presente. Foi, como tal, em parte como resultado da indiferença perante estes debates e da contínua afirmação de uma memória e narrativa históricas anacrónicas e, acima de tudo, excludentes de uma boa parte da população, que estas as acções ou intenções de destruição surgiram. E, acrescente-se, num contexto em que o que muitas dessas estátuas e monumentos representam (o colonialismo e o racismo) mantém uma continuidade com o presente, reproduzido pelas instituições, pelos hábitos e pelas ideias de muito boa gente que compõe a «opinião pública». Em suma, o que está em causa é situar o problema no conflito e não nas suas causas – um gesto sistematicamente reproduzido pelos partidários indefectíveis da «não-violência», como assinala D’Alessandro.
Um dos propósitos das prescrições sistémicas de «violência» pretende, aliás, amalgamar uma multiplicidade de acções e gestos para os tornar indistintos. Como se houvesse equivalência entre a violência de reprimir e a violência de resistir, entre a violência que exclui e a violência de quem exige reconhecimento, entre a violência que invisibiliza e a violência de quem reclama visibilidade, entre a violência, enfim, de quem domina e a violência de quem se procura libertar.
A publicação deste livro responde, portanto, a uma urgência. Nas palavras de D’Alessandro, «em tempos de mudanças tão vertiginosas e profundas (…), é essencial elaborar colectivamente estratégias efectivas de resistência e construção de alternativas. E, para isso, é necessário deitar por terra todos os impedimentos feitos de inércia, tabus e conformismo». Os partidários da exclusividade da não-violência como meio de contestação e de transformação, voluntariamente amarrados a uma posição cujo substrato é fundamentalmente moral, têm contribuído activamente para eliminar, tanto da história como dos movimentos sociais, um enorme repertório de lutas, práticas e experiências úteis para o período que hoje vivemos e têm, inclusivamente, participado na exclusão e criminalização de sujeitos políticos que destoam dos seus métodos. Como consequência, revelam-se agentes que contribuem mais para a manutenção e reprodução do sistema que afirmam combater do que agentes da sua destruição.
O dogma da não-violência é, de resto, um sintoma de um tempo – e de uma esquerda, se quisermos – que se tornou incapaz de pensar alternativas e que se deixou enredar na inevitabilidade da história liberal. O nosso horizonte futuro deixou de conseguir alcançar mais do que o regresso a um passado mitificado, de um Estado social pleno, e a imaginação das lutas sociais esgotou-se na sua temeridade, compensada, porém, por uma invocação fabulada de acontecimentos, figuras e lutas passadas que se recusa a ver que aquilo que alcançaram foram pequenas vitórias momentâneas ou a recauchutagem do que afirmavam combater (fosse o racismo, o colonialismo ou as desigualdades de género). É, por isso, altura de abandonar estes grilhões, recusar todos os dogmas e apriorismos, para abrir o campo das possibilidades. Há que perseguir as experiências que permitirão criar uma nova linguagem e outras sociabilidades, sensibilidades e subjectividades que permitam ensaiar uma ruptura com este eterno presente e expandir os espaços da autonomia. A interrupção da catástrofe, e a necessária superação das condições e instituições que a intensificam a cada passo, virá, inevitavelmente, de uma diversidade de tácticas (onde se inclui a não-violência) e dos gestos que surgem espontaneamente nos momentos de ruptura. Num sistema fundado na violência, qualquer movimento de secessão e revolta irá deparar-se sempre com o espectro da violência. E para avançar não pode temê-lo.
Bibliografia:
Clastres, Pierre. 1998 [1972]. Chronicle of the Guayaki Indians. Nova Iorque: Zone Books.
Clastres, Pierre. 2018 [1974]. A Sociedade Contra o Estado. Lisboa: Antígona.
Graeber, David. 2004. Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Graeber, David. 2009. Direct Action: An Ethnography. Oakland: AK Press.
Lennard, Natasha. 2019. Being Numerous: Essays on Non-Fascist Life. Londres: Verso Books.
Weber, Max. 2019 [1921]. Economy and Society Cambridge: Harvard University Press.
**
Prefácio a O Dogma da Não-Violência, Rolando d’Alessandro, Contracapa, Língua Morta, Tigre de Papel, 2024
+ info