Temporizar a escrita, "Manual para incendiários" de L.C. Patraquim
Apresentação de Manual para Incendiários e Outras Crónicas, de Luís Carlos Patraquim, Lisboa: Antígona, 2012.
Sento-me e abro um novo ficheiro do processador de texto, disposto a escrever sobre Manual para Incendiários e Outras Crónicas. Não tenho ainda um enunciado que me permita antecipar o que vou escrever. Nem sequer a estrutura geral de um argumento. Tenho, isso sim, a recordação de lampejos e imagens de algumas das crónicas. Tenho também a noção de que o organizador as arrumou por temas, criando nexos de sentido que extravasam de umas para as outras. Tenho ainda a consciência de que disponho apenas de um certo tempo para escrever o texto que irei escrever, este texto cujas palavras se irão dispondo linha a linha, frase a frase, instante a instante – instando-me a segui-las em direção ao seu próprio futuro. O futuro próximo de se fazerem presentes, inscrevendo-se no espaço branco da página eletrónica. Tal como o autor das crónicas antes de entregar as suas mãos ao processador de texto, sei que este espaço em branco de inscrição se abre à minha frente como uma promessa de sentido. Procuro as palavras que me ajudem a começar, ou antes, que ajudem a escrita a começar através de mim, ou antes ainda, que ajudem a escrita a começar através da escrita que começa a começar em mim.

E eis que esse começo começa. Ou devo dizer recomeça?, pois num certo sentido começou antes de começar. Começou com a disposição para escrever, antes de essa disposição original me fazer escrever ‘temporizar a escrita’, que agora uso retroprospetivamente como ponto de partida. Relendo-a, antes de me entregar a ela, sinto que contém já aquilo de que sentia a falta quando desejei escrever. Na expressão ‘temporizar a escrita’ vejo a breve promessa desse futuro próximo que permitirá à escrita escrever-se. Arrancando o seu vazio à plenitude da passagem dos segundos, dos minutos e das horas. Às vezes, é quanto basta – um título, uma parte de um título, um começo de uma frase – para que se inicie o tempo da escrita. O sol desceu já alguns graus no horizonte. A sua mão quente incide agora sobre o lado direito do rosto. É sobre isso que escreverei: sobre o tempo da escrita na escrita do tempo. Sobre o modo como a crónica não pode deixar de registar o movimento de inscrição da escrita no tempo, fazendo com que a contingência dessa inscrição, enquanto resposta temporária à temporalidade histórica do tempo, seja também inscrição da temporização do próprio género, enquanto um certo número de palavras escritas e publicadas em intervalos regulares de tempo.
Explico-me melhor (sim, é bom que te expliques melhor – viemos aqui para a apresentação de um livro e não para ouvirmos outro livro a começar). Explico-me melhor: a presença de Cronos na crónica ocorre não só através da tematização tópica de assuntos, acontecimentos e experiências que lhe são contemporâneos, mas também através da temporização do próprio ato de escrita. Mais do que nos géneros extensos, a brevidade do texto e a sua recorrência no tempo tornam-se parte integrante do processo de escrita, obrigado a traduzir para dentro da sua forma a interrupção programada que resulta da obrigação de produzir um certo número de carateres a uma certa hora do dia ou da semana ou do mês. Ora, é a partir dessa ideia de temporização da escrita que vos vou propor a leitura desta obra de Luís Carlos Patraquim. A passagem da temporalidade do jornal ou da revista para a temporalidade do livro revela ao mesmo tempo a temporização original e a retemporização gerada pela ordem do arquivo e da memória da escrita acumulada que o livro constitui.
 Se no contexto original de produção, tende a prevalecer uma perceção da ligação da escrita com a temporalidade quotidiana dos seus referentes, uma vez selecionadas e ordenadas segundo a escala e a lógica do livro, é o próprio movimento da escrita no jogo com a efemeridade contingente da sua inscrição temporal que sobressai. Em Manual para Incendiários e Outras Crónicas, a crónica torna-se, de algum modo, crónica de si própria enquanto tentativa repetida de investimento da escrita no mundo:
Se no contexto original de produção, tende a prevalecer uma perceção da ligação da escrita com a temporalidade quotidiana dos seus referentes, uma vez selecionadas e ordenadas segundo a escala e a lógica do livro, é o próprio movimento da escrita no jogo com a efemeridade contingente da sua inscrição temporal que sobressai. Em Manual para Incendiários e Outras Crónicas, a crónica torna-se, de algum modo, crónica de si própria enquanto tentativa repetida de investimento da escrita no mundo:
«E as sombras. Regressam sempre. O laptop na mesa da sala. A estante dos livros ao fundo. O silêncio. O vento batendo, adelgaçando-se em uivo nas frinchas da janela. O dedo indicador sobre o teclado. As letras, sinalética em progressão, no monitor, ordenando-o como que por acaso, evadindo-se de toda a formatação.» (10)
«Ler Pavese ou William Faulkner. Escrever, nunca. O sangue aquece demais. A cabeça lateja. Deve avançar-se para a combinatória de caracteres, frases, ideias – se as houver – só quando as veias ameaçam rebentar e o aneurisma está iminente. Então, as palavras funcionam como sanguessugas, campânulas de vidro onde o olhar bate ao de leve com a mão e um brilho viscoso tinge a minúscula paisagem. A pele – designemo-la como texto – estica e os pequenos círculos vermelhos oferecem-se à interpretação dos sinais.» (97)
É esta dimensão autorreflexiva e obsessiva da autocrónica que encena essa frustração do movimento da escrita a começar e a recomeçar. Consciente das deambulações verbais e, ao mesmo tempo, das insuficiências dos seus tropos e do fracasso das suas tentativas, a crónica autoironiza esse ensimesmamento:
«Crónica. O que será isso? Referente a quê?» (5) «Falta-me título.» (6) «Fica assim.» (7) «Regressar à crónica como quem retorna ao lugar do crime.» (17) «A que propósito esvoaça aqui esta asa negra da nostalgia obscurecendo a crónica?» (21) «Se tivesse este croniqueiro de esquina jeito para a marrabenta…» (176)
Jogando reflexivamente com a mecânica e o dispositivo da própria crónica enquanto forma, não deixa ao mesmo tempo de se dirigir de forma velada mas incisiva ao presente histórico, denunciando estados de coisas e interpelando responsáveis da sociedade e da política moçambicanas:
«Esta modestíssima crónica pretende contribuir para a criação de uma espécie de arquivo ou banco de enredos onde cada um possa servir-se consoante o seu interesse ou a sua necessidade.» (58; «Plots»)
«Adoremos o fogo.» (138; «Manual para Incendiários»)
«Tudo é ringue. Tudo é murro. Viva a porrada! Viva ele.» (151; «O Touro Enraivecido»)
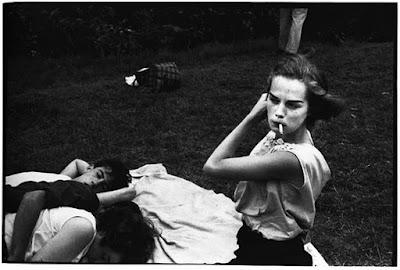
A violência do exercício do poder no Estado de Moçambique é outro leitmotiv do livro que recorre em diversas crónicas (pp. 35-37, 57-60, 127-138, 149-151). Se o contexto de publicação original tornaria mais óbvios os acontecimentos e protagonistas nomeados indiretamente, a distância temporal da sua republicação em livro transforma essas referências veladas numa espécie de sintomatologia insidiosa da violência política e financeira, de que são exemplo as três crónicas do fogo («À espera do fogo», «O fogo que arde para se ver» e «Manual para incendiários», pp. 127-138) ou a crónica «Sombras» (pp. 9-11). É o desejo de escrever o tempo inscrevendo as sombras da história no tempo da sua inscrição, como se a noite da escrita pudesse resgatar através da memória a violência irreparável do acontecido:
«Escreve-se à noite. É 19 de Outubro. Chove» (9) «É verdade, sobretudo quando se escreve a 19 de Outubro. À noite.» (9) «19 de Outubro. Esta crónica a ser escrita sobre a noite equestre, longe do seu objecto.» (10) «Mas fica o que sobra das datas. E, por entre a enumeração caótica de tudo, esta crónica. Escrita a 19 de Outubro. À noite.» (12)
Na evocação da morte de Samora Machel ou dos assassinatos do jornalista Carlos Cardoso e do economista Siba-Siba Macuácua, as crónicas expõem a violência do acontecido como ferida aberta na memória da história.
Mas a consciência do vínculo precário que a crónica cria com o mundo tem expressão também na sua capacidade de escuta e de trazer a fala dos outros para dentro do texto, como acontece nas crónicas da fala e da língua («A Cadeira de Pedro S», «O Sussurro da vida Civil», «Palavrar», «Itinerário de Muaziza», «Falagens», «A Cabelaria da Língua», pp. 31-56):
«Então, Maria, não levas a goropelha?» (47) «Três dias. Os pés em carne viva, um mês para catralizar.» (51)

Esta consciência dos processos de mediação linguística e discursiva na representação dos acontecimentos evidencia-se ainda através da presença frequente da linguagem cinematográfica, usada quer para sugerir a correspondência entre estruturas da ficção e práticas reais, quer para nos colocar perante a natureza formal e abstrata da escrita. Deste modo, o vínculo entre o texto e o real (incluindo o real autobiográfico testemunhado na primeira pessoa, como em crónicas dedicadas a Lisboa ou ao Rio de Janeiro) suspende-se em favor de um vínculo intertextual que multiplica alusões a poemas, livros e filmes (pp. 57-68).
É esta tensão entre representar e representar a representação que, a meu ver, carateriza as crónicas de Luís Carlos Patraquim, como se aquilo que a crónica conseguisse temporizar fosse não apenas o tempo externo cronificado no texto ou o tempo interno à escrita cronificadora, mas a implosão simultânea de ambos no comprazimento autoirónico com o seu fracasso e com os seus limites. Crónicas da língua e da fala, crónicas da literatura e da leitura, crónicas da violência política, crónicas do rio que transborda, crónicas da viagem, crónicas da crónica e do cronista – todas elas cientes do vínculo precário que criam com o mundo, tematizando essa consciência da temporização que se escoa no interior da escrita, que olha para si própria não como máquina de captar e aprisionar o tempo mas como expressão e produto da temporalidade que tenta apreender. Ao mostrar o real como um efeito temporal e temporário da escrita é a própria crónica que se entrega ao tempo que deseja escrever, mostrando a temporização da escrita como manifestação do fluxo do mundo no gesto de o tentar escrever. «Veja lá você, caro leitor, o desconchavo disto!» (172).
16 de Dezembro de 2012 - lançamento no Bartô, parceria Antígona / Buala
ler aqui e aqui duas crónicas do livro