Amina Mama: sobre feminismos africanos

“Fontes históricas dizem-nos que mesmo as mulheres brancas sempre procuraram em África alternativas à sua subordinação”. — Amina Mama
Nasceu em 1958 na Nigéria. É uma conhecida académica feminista do continente africano, especialmente desde a publicação da sua obra mais conhecida, Beyond the Masks: Race, Gender and Subjectivity (Routledge 1995). De 1999 a 2002 foi directora do Instituto Africano do Género na Universidade da Cidade do Cabo (África do Sul). Em 2002 fundou a revista Feminist Africa.
Elaine Salo: Fala-nos da tua viagem dentro do feminismo e quando te identificaste conscientemente com o feminismo africano.
Amina Mama: Quando eu era jovem, tal como muitas pessoas, não tinha consciência política, nem cresci a identificar-me como “feminista” ou “africana”. Contudo, eu sabia que não me comportava da forma como se esperava que uma rapariga de um dos estados do norte da Nigéria se comportasse. Estudei muito, tinha muito mais energia e era mais auto-confiante do que muitos dos meus colegas. Eu também tinha ambições diferentes devido ao tipo de ambiente em que cresci. Muitos membros de ambos os lados da minha família tinham formação superior e todos acreditavam que a educação é um aspecto crucial para o progresso e também para a construção da nação. Do lado nigeriano, muitos dos meus tios estiveram envolvidos na criação de estruturas educacionais pós-coloniais nas décadas de 1950 e 1960, motivados pelo enorme optimismo que acompanhou a independência.
A minha mãe era professora. Eu acompanhei-a desde muito nova, o que significava que eu era sempre a mais nova da turma. Eu tentava passar despercebida, mas era sempre a primeira a terminar as tarefas, o que era invulgar para uma menina pequena. Uma consequência foi a de estar frequentemente dessincronizada com as minhas colegas de turma, especialmente as raparigas. As adolescentes estavam interessadas em roupas, penteados e maquilhagem, coisas em que eu não estava de todo interessada. Quando muitas delas abandonaram o liceu para casar com homens “adequados”, a minha família encorajou-me a continuar os meus estudos. Fui para a universidade e depois continuei, porque não conseguia suportar a ideia de ficar em casa - era demasiado emocionante! A minha família ajudou-me e só começou a preocupar-se muito mais tarde, quando era demasiado tarde e as minhas ideias já estavam formadas.
Tenho sido frequentemente rotulada como feminista. Cito sempre Rebecca Mae West: “Sempre que faço algo que me torna diferente de uma peça de mobiliário, as pessoas chamam-me feminista”. Naturalmente, tive dificuldade em compreender o que ela quis dizer com esta frase, e o resto é história. Tivemos de lutar para encontrar o nosso próprio significado do termo “feminismo” para nos mantermos vivas, tal como as mulheres da Europa Ocidental e da América do Norte se adaptaram e se acostumaram às suas realidades. Por vezes, o conceito tem sido utilizado para interesses antidemocráticos. O debate sobre o imperialismo feminista foi a nossa resposta a esta questão. Noutros tempos, os regimes africanos tentaram fazer coisas curiosas com a política de género e a deturpação do feminismo, e as nossas sociedades nem sempre foram claras sobre o significado de “feminismo” e a sua presença constante nas nossas sociedades.
Nunca me ofendi ao ser rotulada de feminista, mas sim humilde e intimidada pela responsabilidade que recai sobre mim. O feminismo continua a ser um termo positivo, baseado no movimento, e eu estou feliz por ser identificada com ele. Indica uma rejeição da opressão, a luta pela libertação da mulher de todas as formas de opressão, interna, externa, psicológica e emocional, sócio-económica, política e filosófica. Gosto do termo porque me identifica com uma comunidade de mulheres radicais e auto-confiantes, muitas das quais admiro, tanto como indivíduos como pelo que contribuíram para o seu desenvolvimento. Estas referências são mulheres africanas, asiáticas, latino-americanas, do Médio Oriente, europeias e norte-americanas de todas as cores e tendências, passadas e presentes. Entre as minhas favoritas estão a egípcia Huda Sharaawi, nos anos 20, que organizou a ocupação do Parlamento egípcio; as sufragistas pacifistas e aquelas que defenderam o seu direito de voto em Inglaterra ambas da mesma época; as primeiras heroínas afro-americanas como Sojourner Truth, e aquelas que lutaram pela liberdade em todo o continente africano. Mais perto de casa estão as mulheres que me fazem lembrar as minhas próprias tias, como Adeline Casely-Hayford, Funmilayo Ransome-Kuti e Gambo Sawaba, para não falar das minhas amigas e companheiras de viagem do presente.
Elaine: Há muitos debates sobre se o feminismo existe em África. Patricia McFadden e Gwendolyn Mikell são duas pensadoras-chave que escreveram sobre o feminismo africano, embora as suas descrições difiram substancialmente. Enquanto McFadden argumenta que as hierarquias de género existiram nas sociedades africanas e que as desigualdades de poder subsequentes foram exacerbadas pelo colonialismo, Mikell afirma que a desigualdade de género actual é principalmente o resultado da “colonização traumática pelo Ocidente”. Ela diz que as mulheres africanas foram integradas nas estruturas pré-coloniais e que as desigualdades de hoje são apenas o resultado infeliz do colonialismo. O que pensas destas duas perspectivas?
Amina: Estas duas mulheres têm entendimentos diferentes do feminismo africano. Estas diferenças baseiam-se, em parte, nas suas posições em relação a África. Patricia McFadden é uma autodescrita “feminista africana” com muitos anos de experiência em activismo político. Como muitos de nós, quando ela usa o termo “feminismo”, ela refere-se à prática política que emana de uma análise muito convincente das condições sociais, económicas e políticas que afectam as mulheres africanas. McFadden é uma pessoa corajosa e franca que não é afectada pelo que as pessoas dizem sobre ela.
Gwendolyn Mikell, por outro lado, vive em Washington DC, mas tem feito investigação e viajado em África, e tem trabalhado e entrevistado mulheres africanas, em princípio à sua própria descrição. Tem trabalhado internacionalmente como académica, mas a sua definição de feminismo africano é diferente da de McFadden. Mikell depende da generalização e observação dedutiva. Descreve assim o feminismo africano tal como o vê do exterior, a partir de uma distância física e analítica, e não da perspectiva de alguém empenhado no activismo feminista no continente africano. A sua definição é mais perturbadora, especialmente quando afirma que o feminismo africano é “claramente heterossexual e pronatal” e está ligado ao que ela chama de “política de sobrevivência”. Isto parece-me ser uma definição muito conservadora. Pode dizer-nos algo sobre as taxas de fertilidade e pobreza, mas não se confronta com o status quo, nem descreve as formas como os patriarcas contemporâneos em África nos limitam e nos impedem de realizar o nosso potencial para além dos papéis tradicionais como trabalhadores, mulheres e mães. É um uso do termo “feminismo” que escapa a todas as outras aspirações que tu e eu sabemos que nós africanos temos, como se por sermos africanos esquecêssemos tudo o que outras lutas feministas perseguem (respeito, dignidade, igualdade, uma vida livre de violência e medo…).
Parece-me óbvio que as mulheres africanas têm aspirações que vão além de assegurar a nossa sobrevivência: desejos políticos, económicos, sociais, intelectuais, profissionais e mesmo pessoais de mudança. É verdade que muitos africanos estão imensamente envolvidos no trabalho quotidiano de assegurar a sobrevivência, tanto a sua como a das suas famílias e comunidades, mas isto é apenas um sintoma global do poder patriarcal, e de todas as injustiças sociais, políticas e económicas que as mulheres, e os africanos em geral, sofrem.
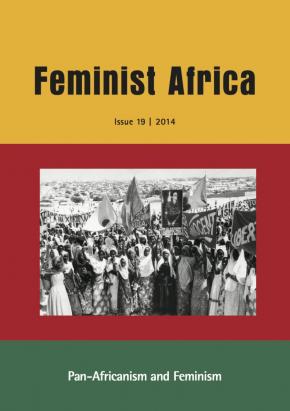 Elaine: Achas que o “womanism” tem alguma relevância para as feministas africanas?
Elaine: Achas que o “womanism” tem alguma relevância para as feministas africanas?
Amina: Penso que o termo foi inventado por outra mulher negra americana, Alice Walker, como uma resposta ao feminismo dominado pelos brancos. Nos Estados Unidos, a dominação branca é o factor mais visível para mulheres negras como Walker. É compreensível, até certo ponto, que o principal objectivo das mulheres negras que vivem no Ocidente seja o combate ao racismo, e que elas sentem a necessidade de se distanciarem de qualquer coisa que pareça branca. Em contextos dominados pelo branco, o feminismo parece branco. No entanto, fontes históricas dizem-nos que mesmo as mulheres brancas sempre procuraram em África alternativas à sua subordinação, desde o tempo das primeiras antropólogas femininas - vejam como os ingleses enviaram antropólogos como Sylvia Leith Ross e Judith Van Alle para tentarem dar sentido às lutas das mulheres na década de 1920! Assim, sempre fizemos parte de uma concepção inicial do chamado “feminismo ocidental”, mesmo que nem sempre tenhamos sido reconhecidos como tal.
Mais importante ainda, as mulheres africanas sempre definiram e geriram as suas lutas. O feminismo africano remonta ao nosso passado colectivo, embora muito da sua história ainda não tenha sido conhecida e explicada. Mencionei o Egipto e a União Feminista Egípcia e as suas acções tomadas contra o monopólio masculino do poder político. Não tenho qualquer problema com o “womanism”, mas mudar a terminologia não resolve o problema do domínio global. Decidi manter o termo original, e insisto que a minha realidade molda a minha aplicação do mesmo. As palavras podem sempre ser apropriadas, por exemplo não há apenas “feminismo”, encontramos também o “stiwanismo” de Molara Ogundipe-Leslie e o “maternalismo” de Catherine Achonulu… Mas isto não anula o problema principal: o domínio dos homens brancos na política global e o relativo poder de definição que as mulheres brancas ocidentais possuem. Temos de definir os nossos termos.
Dito sem rodeios, o feminismo branco nunca foi suficientemente forte para ser o “inimigo” da forma como podemos considerar o capitalismo global como o inimigo. As constantes diatribes contra as “feministas brancas” não têm a mesma relevância estratégica que poderiam ter há vinte anos, quando ligámos o feminismo à análise anti-racista. Desde então, muitas ocidentais não só ouviram as críticas que nós africanas e as chamadas “feministas do Terceiro Mundo” fizemos, como também reconsideraram os seus anteriores paradigmas simplistas e apresentaram teorias mais complexas. O feminismo pós-colonial deve muito aos pensadores africanos, asiáticos e latino-americanos. As feministas ocidentais concordam com muito do que dissemos sobre as diversas mulheres serem oprimidas de várias formas, e com a importância da classe, raça e cultura no estabelecimento de relações de género. Tendo ganho a batalha, porquê abandonar a luta, deixando o território semântico para outros e encontrando uma nova palavra para nós próprios?
Elaine: No contexto africano, a distinção entre “movimentos de mulheres” e “feminismo” ainda é útil?
Amina: Sim, ainda é porque temos de ser capazes de identificar os movimentos reaccionários das mulheres. A razão para o fazer é a de a experiência africana incluir todas as formas de mobilização das mulheres, não todas as que gostamos ou escolhemos. A história recente mostrou claramente que, em África, mesmo os regimes mais antidemocráticos não hesitaram em mobilizar as mulheres. De facto, muitos deles fazem esforços notáveis para mobilizar as mulheres em seu favor. As mulheres dançavam nas ruas quando Mobutu Seseko honrava as mulheres nos seus papéis tradicionais como esposas e mães no antigo Zaire (República Democrática do Congo). As esposas militares nigerianas patrocinaram mulheres para apoiar as ditaduras corruptas dos seus maridos. Estes são exemplos de mulheres que se mobilizam ou saem à rua por si próprias para apoiar objectivos que ninguém descreveria como feministas.
Assim, pode haver movimentos de mulheres que não são autónomos e não visam resolver a injustiça de género ou transformar as relações opressivas. Neste sentido, é útil ser claro sobre o que se entende por política de género que visa a libertação das mulheres. A política de género centrada na mulher deve ajudar à transformação a três níveis: ao nível da nossa subjectividade, ao nível das nossas vidas e relações pessoais e, em terceiro lugar, ao nível da economia política. A libertação das mulheres exige que superemos a injustiça de género a todos os níveis, desde o nível micro-político ao macro-político, e sem esquecer ou omitir qualquer nível de luta.
Elaine: São necessárias alianças com homens para obter justiça de género?
Amina: Precisamos de formar alianças, mas elas não precisam de ser estratégicas. Se queremos uma luta bem sucedida de múltiplos intervenientes, temos de estar preparadas para construir alianças tanto a nível local como internacional. As mulheres têm desempenhado frequentemente um papel crucial em lutas mais amplas, locais e internacionais. Muito frequentemente este tem sido o caminho certo a seguir, mas, retrospectivamente, temos visto que estas lutas têm contribuído para o género e o poder de uma forma que não tem transformado as relações da forma que esperávamos. Por isso, precisamos de ser mais perspicazes em relação às alianças que construímos.
Elaine: Pensas que a exploração da subjectividade de género no contexto africano é um projecto feminista global?
Amina: Mesmo os nossos cientistas políticos mais radicais não conseguiram enfrentar o desafio intelectual e político colocado pelas origens problemáticas da identidade de género. A teoria feminista pós-colonial tem muito trabalho a fazer no ensino das nossas ‘cabeças falantes’ de análise política contemporânea. O complicado fenómeno colocado sob o rótulo de “política de identidade”, por exemplo, não foi devidamente teorizado, e ignora toda a teoria feminista sobre a natureza de género da identidade.
Tem sido claro desde os dias de Freud que toda a identidade é baseada no género, quer se trate de identidade a nível individual, social ou político. A teoria feminista também tem muito a oferecer à nossa compreensão da política geral. Alerta-nos para as manifestações parciais e limitadas de individualidade, sociabilidade e política nas sociedades patriarcais. Permite-nos interrogar questões interessantes, tais como se existe uma ligação entre o domínio masculino da vida social e política e a prevalência da guerra e do militarismo. Um bom exemplo pode ser retirado do caso da Somália, onde facções beligerantes se matam umas às outras com base em identidades de clã. Como estes clãs são exógamos, as mulheres não têm uma identidade de clã da mesma forma. Os seus laços com irmãos, maridos, filhos e pais estendem-se por todos os clãs. As identidades de género das mulheres somalis transcendem os clãs e estão por isso menos dispostas a lutar e a matar com base no clã. É por isso que as mulheres somalis rejeitam os homens que têm lutado e matado uns aos outros. Elas estão cansadas de pagar o preço do conflito masculino. É o mesmo no Ruanda, pois era muito comum os homens Hutu casarem com mulheres Tutsi. Durante o genocídio Hutu, os homens mataram frequentemente as suas próprias mulheres porque eram Tutsi, embora tivessem filhos de pais Hutu… A análise de como as identidades de género podem mitigar ou consolidar as identidades étnicas é muito instrutiva.
Elaine: Os recentes desenvolvimentos nas ciências sociais sugerem que o poder analítico do conceito de género tem diminuído no contexto africano. Por exemplo, os fundadores da revista online Jenda argumentam que o género é uma construção ocidental externa à realidade africana e que o género não é tão relevante para a compreensão da realidade africana. Noutra ocasião, uma conferência nos Estados Unidos salientou que, em África, devemos ir “para além do género”. Qual é a tua resposta a estes postulados?
Amina: É absolutamente vergonhoso sugerir que “estabelecemos o tema do género e agora temos de ultrapassá-lo”. Se estas pessoas estão a falar em ir além do género, será porque acreditam que a luta de género terminou nos EUA? Tendo em conta todas as provas empíricas de que as mulheres americanas não são iguais aos homens, parece-me que esta é uma retórica muito afastada da realidade. Talvez seja uma característica dos americanos, produzir muita retórica e acabar por perder o sentido da realidade… Talvez as lutas de género já não sejam importantes na Califórnia (embora as minhas observações sobre a vida americana não comprovem o mesmo), mas se o fizerem, as sociedades africanas são tão claramente demarcadas por divisões de género que seria estrategicamente suicida negá-lo e fingir que o género não existe. Ou pior, que as lutas de género são uma coisa do passado.
Elaine: Na África do Sul temos visto uma preocupante tendência contra o intelectualismo entre algumas activistas, em parte em resposta ao facto de que são frequentemente as mulheres privilegiadas, sejam elas brancas ou negras, da classe média, que ainda dominam as representações e análises das lutas de género naquele país. Como devemos abordar esta questão?
Amina: Como mulheres, não nos devemos privar dos instrumentos intelectuais que nos podem ajudar a alcançar a justiça de género. A esfera intelectual tem sido utilizada para nos reprimir. Não podemos ignorar a importância do trabalho intelectual, especialmente neste século XXI em que o conhecimento e a informação definem o poder mais do que nunca. É por isso que colocamos tanta ênfase no nosso Instituto Africano do Género, onde as mulheres se envolvem em teoria e análise de uma perspectiva militante, e desenvolvem estrategicamente ferramentas úteis com uma boa utilização das tecnologias de informação, investigação, e as capacidades de comunicação, ensino, formação e escrita.
Não acredito que este objectivo de conhecimento, ou de trabalhar na universidade, seja um sinal não-africano ou não-feminista. Pelo contrário, são áreas que devemos incorporar nas nossas preocupações, transformando-as em espaços que sirvam os nossos interesses colectivos em vez de as deixar continuar a perpetrar violência teórica e prática contra as mulheres.
Artigo originalmente publicado em RadioAfrica a 11.07.2021