A coisa tá branca!
Quando foi inaugurada a estátua do Padre António Vieira, ainda este ano, no Largo Trindade Coelho em Lisboa, houve uma pequena comoção entre aqueles intelectuais e artistas brancos cujo trabalho enseja os debates antirracista e descolonial. Em Portugal, aparentemente o tema da negritude e da colonialidade tem tido algum destaque, sem que isso necessariamente configure a abertura dos circuitos àqueles corpos histórica e socialmente implicados pela racialização e pela ferida colonial. A quantidade de textos a abordar o racismo da sociedade portuguesa parece, curiosamente, ser inversamente proporcional à quantidade de intelectuais e artistas negras visíveis no contexto local. Isso evidentemente não fala sobre escassez, mas sobre a densidade dos regimes de apagamento que operam ativamente na constituição dos debates críticos em Portugal.
 Updated. Meme. Jota Mombaça, 2017
Updated. Meme. Jota Mombaça, 2017
Na esteira desses processos, os debates quanto à noção de “lugar de fala” começam a emergir de formas mais ou menos controversas. Se por um lado essa ferramenta aparece como parte de um escopo crítico antirracista e anticolonial contemporâneo, cujo sentido é o de abrir espaço para formas de enunciação historicamente desautorizadas pelos regimes de fala e escuta da supremacia branca e do eurocentrismo; por outro, há também uma crítica tendencialmente branca que insiste em identificar as ativações desse conceito à prática de censura, na medida em que os ativismos do lugar de fala supostamente desautorizam certos corpos (nomeadamente os brancos, cisgêneros, heterossexuais, etc) a falar. Parece-me bastante evidente que essas críticas, na realidade, ressentem nos usos políticos do conceito de lugar de fala o desmonte da possibilidade de uma enunciação universal, na medida em que essa ferramenta atinge frontalmente o regime de verdade que historicamente configurou essa posição (o universal) como sendo acessível tão somente desde lugares de fala muito específicos (a branquitude, a europeidade, a cisgeneridade, etc).
Entretanto meu interesse aqui não é voltar a esse tema, o qual já foi trabalhado por mim em textos como Pode um cu mestiço falar? e Notas estratégicas quanto aos usos políticos do conceito de lugar de fala, ambos acessíveis online, assim como em falas públicas como Lugar de Escuta (cujo vídeo está também disponível online), na conferência Vozes do Sul do Festival do Silêncio, e na entrevista Lugar de Fala e Relações de Poder (parte 1 e parte 2) concedida a Carla Fernandes para a Rádio AfroLis. O que este texto enseja é, mais precisamente, interrogar os limites da apropriação branca dos discursos e práticas antirracistas e descoloniais, evidenciando o modo como certas dinâmicas dessa apropriação tendem a operar em descontinuidade com uma necessária ética situada, que habilite corpos historicamente privilegiados pela racialização e pela colonialidade a não reencenarem o teatro de sua dominância e protagonismo social.
A estátua do Padre António Vieira reaparece, portanto, como índice simbólico e material do tipo de registro no qual as condições de possibilidade dessa dominância e protagonismo foram forjadas. A reciclagem “pós-colonial” dessa personagem, amparada pelo imaginário amplamente difundido da colonização portuguesa como branda e, particularmente, do referido padre como tendo sido uma figura sensível à humanidade das gentes que viviam nas terras do que hoje chamamos Brasil, atesta de maneira contundente a hegemonia do lugar de fala branco-colonial como infraestrutura dos regimes de verdade que até hoje determinam as condições onto-epistemológicas de enunciação. Assim, no limite, as críticas brancas à instauração da estátua podem, quando deslocadas de uma ética efetivamente disruptiva da colonialidade e do racismo, ser inscritas pela mesma lógica de atribuição de valor às vozes brancas que oferece o solo subjetivo no qual a memória heroica de Vieira está assentada.
Essa é a contradição fundamental que acompanha as alianças brancas: a continuidade entre suas posições e o sistema simbólico contra o qual supostamente se articulam. Embora não impossibilite o necessário trabalho de colaboração das pessoas brancas e historicamente privilegiadas pela colonialidade com as lutas que apontam para o desmonte desses sistemas de reprodução social, tal contradição preenche o espaço intersubjetivo entre alianças brancas e as lutas antirracista e descolonial com armadilhas cujos efeitos são sempre mais destrutivos para aquelas pessoas não amparadas pela infraestrutura da branquitude. Isso evidencia não só a tenacidade do capitalismo racial como regime de distribuição desigual da violência, mas também o caráter imprescindível de uma autocrítica radical da branquitude que tenha como finalidade o desmonte do racismo e da colonialidade não apenas como índice estruturante do mundo, mas como espinha dorsal do projeto global de subjetividade branca e europeia que lhe é condicionante.
Nesse sentido é que o trabalho político desses artistas e intelectuais eurobrancos cujos discursos pretendem desafiar a renitência do racismo na cultura portuguesa de hoje deve necessariamente ir além da crítica à estátua, cuja inscrição maciça na paisagem lisboeta pode tanto hiper-evidenciar a densidade da mentalidade colonial no presente quanto camuflar os modos muito mais discretos como esta se afirma no tecido relacional da vida entre o mundo dos brancos e as pessoas sistematicamente marginalizadas por ele. É na própria dinâmica existencial da branquitude, onde a infraestrutura de seus privilégios se afirma, que o trabalho deve ser feito. São as relações íntimas, os princípios de seguridade social e subjetiva, as dinâmicas de interação uns com os outros e com o mundo, enfim, toda a série de gestos, circuitos e processos que dá textura à vida branca como norma social que devem ser postas em xeque pelas alianças brancas.
Num contexto como o lisboeta, em que os circuitos intelectuais e artísticos parecem operar ainda com base num programa relacional mais ou menos programático, no qual as possibilidades de acesso a certas instâncias de visibilidade e circulação parecem muito mais evidentemente associadas à capacidade de cumprir com uma certa expectativa social (frequentemente matizada por privilégios de raça, classe e gênero) do que propriamente com os tipos de trabalho artístico e intelectual realizados; um contexto em que as presenças não hegemônicas (de pessoas negras, migrantes e trans, especialmente) parecem estar inscritas por dinâmicas extrativistas de tokenização, exclusão, trabalho não reconhecido e exploração, não basta às pessoas situadas em posições de privilégio social, ontológico e epistêmico que desejam reivindicar para si o papel de “aliades” aprender a falar a linguagem dos antirracismos, da descolonialidade e, adicionalmente, dos movimentos trans. O trabalho político dessas pessoas deve, necessariamente, operar conforme um certo programa negativo, em que desaprender, desfazer, calar e boicotar deixam de ser mecanismos acionados contra pessoas negras e dissidentes em geral para converter-se numa espécie de ética autodestrutiva da qual o trabalho de aliança branca depende.
O fator condicionante desse trabalho é, precisamente, o reconhecimento de que as assimetrias entre posicionalidades não consiste numa falha da sociedade instituída, mas, mais precisamente, na matéria mesma de que tal sociedade é feita. Isso significa que o problema da subalternidade não se resolve por meio de ajustes localizados na economia estruturalmente desigual do mundo como o conhecemos, mas, isto sim, pela abolição global do binário subalternidade-dominância. Em outras palavras, reposicionar os corpos, subjetividades e vidas subalternizadas fora da subalternidade é um projeto que só pode ser levado a cabo na medida em que reposicionamos também os corpos, subjetividades e vidas privilegiados fora da dominância. Dessa forma, as narrativas benevolentes da aliança branca – fórmulas como “dar espaço”, “dar visibilidade”, “dar voz”, todas elas predicadas no desejo normativo de ajustar o mundo social – tem como limite mais evidente a incapacidade dessas mesmas narrativas em incorporar a dimensão negativa desse trabalho, ou seja: “perder espaço”, “perder visibilidade”, “perder voz”.
A hipótese de “perder o mundo” é indutora de uma ansiedade profundamente enraizada nas subjetividades brancas, na medida em que o mundo como nos foi dado conhecer é, precisamente, a infraestrutura da vida branca. Lidar com essa ansiedade é, portanto, parte fundamental do trabalho das alianças brancas, sendo que isso frequentemente resulta em exploração do trabalho afetivo, político e intelectual de pessoas negras. Assim quando uma pessoa branca diz “usar seu privilégio” para “dar voz” a uma pessoa negra, ela o diz na condição de que essa “voz dada” possa ser posteriormente metabolizada como valor sem, com isso, desmantelar a lógica de valorização do regime branco de distribuição das vozes. Isso se deve ao fato de que, segundo a economia política das alianças brancas, “dividir privilégio” é sempre, contraditoriamente, uma fórmula que visa a “multiplicação dos privilégios” e não a sua abolição como estrutura fundamental da reprodução de desigualdades.
No mundo da arte, essa lógica se manifesta objetivamente por meio da abertura de espaços, articulação de programas de performance e debate, financiados a partir do trabalho social das alianças brancas, mas com ênfase na produção negra. Trata-se de um movimento ambíguo, simultaneamente gerador de novos espaços de visibilidade e plataformas de escuta; e apropriador do trabalho e das potências especulativas negras como tema e matéria para a atualização do sistema de arte cujos modos de gestão estrutural e micropolítica seguem a inscrever-nos desigualmente. Todas que atravessamos esses circuitos, como artistas, curadoras, críticas, escritoras e agitadoras negras somos desmembradas por essa contradição, e em alguma medida nosso trabalho tem sido o de ocupar e demolir num só movimento, habitando os escuros do mundo da supremacia branca para então estudá-los, e adivinhar suas brechas, bordas, gatilhos, campos de explosão e implosão, linhas de fuga e moonlights para outras terras. Mas não quero que essa forma de narrar faça o processo parecer menos denso, porque materialmente o que esse trabalho engendra, como efeito de sujeição negra, tem também custos somático-políticos brutais.
Falo por mim que, ao longo dos últimos anos, tenho circulado por cada vez mais espaços de arte hegemônicos sem que isso coincida efetivamente com quase nenhuma forma de acesso às infraestruturas que garantem, do ponto de vista material, emocional e simbólico, a vida das pessoas (cis, brancas , hetero- e homonormativas) para quem esses espaços foram feitos. Se meu acesso ao mundo da arte está sempre já condicionado à retórica das alianças brancas, em cuja matriz de valor minha posição de “bicha preta” está codificada como sendo portadora de um certo potencial onto-epistemológico e político, é justamente na medida em que eu reencarno a marca racial e seus efeitos radicalmente alienantes que meu trabalho se torna viável. Isso tem como efeito mais evidente a reinscrição de toda minha produção simbólica, conceitual e política no marco de uma tradição de trabalho negro cuja relação com o valor é sempre tensionada por dinâmicas de extração, objetificação e consumo do outro; e implica também que a condição de acesso a esses espaços seja meu consentimento a operar quase exclusivamente como emblema da minha própria posição, e não como pessoa.
Para manter o escopo crítico deste ensaio situado em Lisboa, onde tenho vivido nos últimos meses, gostaria de passar agora a um breve estudo de caso a respeito de uma iniciativa articulada aqui. Trata-se de um programa curatorial intitulado A Coisa Está Preta, assinado por um coletivo pretensamente feminista e pós-colonial português, o Pipi Colonial. Eu poderia me limitar à problemática dos nomes, tanto do programa quanto do coletivo, que por si só já evidenciam, tendo em vista os contextos onde foram gerados, um certo recurso à auto-parodização das posições hegemônicas que só pode mesmo adquirir significado na medida em que produz continuidade, e não ruptura, com os efeitos e modos de perpetuação dessas posições.
Concordo com o que disse Grada Kilomba (na fala que fez no espaço Hangar a 03 de Novembro) sobre a relação da ferida colonial com a subjetividade portuguesa contemporânea ser uma de profunda negação. Se monumentos como o Padrão dos Descobrimentos e a estátua de Vieira são evidências maciças dessa adesão coletiva a uma memorialização da colonialidade absolutamente desconectada da tradição de violência e crueldade que forma o núcleo desse processo, a ironia de um coletivo chamado Pipi Colonial não deixa de sê-lo também. A recuperação do termo “colonial” aqui não é menos inofensiva, embora seja definitivamente mais escorregadia. Falo de um coletivo majoritariamente formado por mulheres cis, europeias e brancas, amparadas por leituras teóricas em torno do pós-colonial/decolonial, do pensamento negro e do feminismo, supostamente autoconscientes, cujo trabalho se pretende a precisamente constituir alianças entre a sua branquitude e o pensamento feminista negro, entre a sua branquitude e o pensamento feminista descolonial. Entretanto, ao parodizar o colonial num contexto cuja branquitude tende a ser profundamente autoindulgente quanto à sua responsabilidade para com a produção e reprodução da ferida colonial, esse coletivo não só ocupa de forma desleixada o privilégio da própria posição como cutuca uma ferida cuja extensão não está sequer evidente do ponto de vista da própria eurobranquitude de sua plataforma.
Também o recurso ao “Pipi”, termo usado no contexto local como eufemismo de vagina, para inscrever um certo tipo de projeto feminista que depende da coincidência normativa entre vagina e feminilidade, o que por si só já define um escopo cisgênero fundamentalista (por reproduzir de forma descuidada o princípio de inexistência de masculinidades e feminilidades com anatomias diversas), evidencia desse coletivo um autocentramento tão radical que não pode coincidir com nenhuma forma de implicação afetiva e efetiva para com a complexidade e interseccionalidade das lutas que pretendem endereçar. Contudo o que me interessa destacar mais veementemente aqui – como forma de marcar uma norma e, concomitantemente, contra-atacá-la – é a relação desse coletivo com a produção intelectual descolonial e negra, tendo como emblema o texto de apresentação do projeto A Coisa Está Preta.
Cito apenas uma frase: “A produtividade conceptual do preto surge aqui como signo”
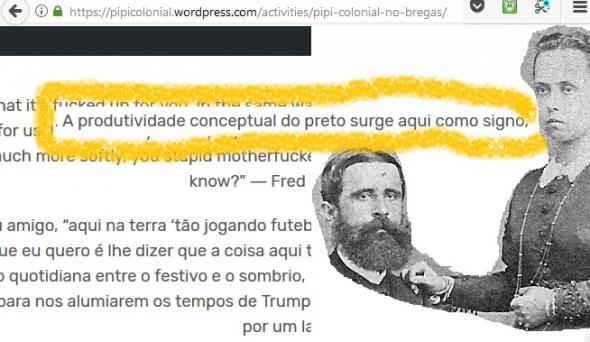 Sinhá Pós-colonial. Meme. Jota Mombaça, 2017
Sinhá Pós-colonial. Meme. Jota Mombaça, 2017
A produtividade conceitual do preto surge como signo da vida após a morte da escravidão, e isto significa a reprodução historicamente carregada de uma lógica anacrônica de valor que, entretanto, configura o presente e o futuro das políticas especulativas brancas – valor como aquilo que é roubado de nós. A aparição dessa formulação no texto de apresentação não deixa de ser a passagem de um fantasma colonial, que monta a cena para uma nova ordem de procedimentos extrativistas, estes de matriz cognitiva, onto-epistemológica, conceitual e simbólica: a produtividade conceitual do preto torna-se, aqui, matéria para a atualização deste mundo, do mesmo modo que o café, imposto como monocultura nos campos de plantação, serviu a atualização do mundo de que as autoras desse texto e projeto são herdeiras.
Afinal, isso é também sobre economia, e sobre o modo como a política das alianças brancas no mundo da arte tem implicado a manutenção de um sistema desigual de distribuição de recursos, que permite que pessoas brancas “esclarecidas” controlem as agendas do debate racial nesses campos, irrigando os imaginários coletivamente produzidos por meio do sistema de arte com base na sua ótica e ética estreitadas pela adesão sempre parcial, e algo oportunista, ao projeto de abolição do mundo como conhecemos. E isso fica especialmente evidente quando se trata de um programa curatorial em que não há sequer uma pessoa negra; e, adicionalmente, em que uma das atividades tem como subtítulo “carta branca para falar do preto”.
Num certo sentido, o programa em questão é a caricatura de um processo difundido de formas muito mais discretas e capilares no mundo da arte contemporânea hoje. Talvez por isso ele apareça aqui como caso a ser estudado, pelo modo cru como evidencia uma prática e lógica que o excedem, como emblema de um processo que está difundido e cuja direção precisa ser desafiada por todos os lados, desde as bordas e desde dentro; do mesmo modo, parece-me que o exemplo desse coletivo, pelo fato de pretender-se uma plataforma de aliança com as lutas do feminismo negro e descolonial/pós-colonial desde a posição de mulheres cis brancas, oferece também condições para pensarmos com mais cuidado sobre os limites das alianças, e também sobre os limites da apropriação do que as autoras chamam “produtividade conceitual do preto” por agrupamentos, instituições, iniciativas e perspectivas tão profundamente embasadas pelos privilégios da supremacia eurobranca.
O denso trabalho de articulação política de que dependem a luta continuada pela liberação negra e pela ruptura com a colonialidade como princípio de reprodução do mundo como conhecemos precisa ser pensado enquanto ética abolicionista – criativa, sim, na forma como excita e conclama outros princípios relacionais e de mútua afetação entre diferentes posicionalidades, mas também destrutiva e demolidora das infraestruturas que recondicionam o mundo como cenário para a captividade negra e para a perpetuação do lugar de fala branco (isto é, o universal) como referente dominante de um sistema de valor em relação ao qual nossas vidas negras só importam na medida em que são produtivas.
Esse texto, em seu mergulho nas linhas de força intersubjetivas e afetivas que condicionam as alianças negras com o mundo dos brancos, afirma inequivocamente uma certa epistemologia da desconfiança que não deve se confundir a naturalização de uma separabilidade hiper-determinada entre as posições. Assumo, por isso, o risco de tensionar muitas das bases materiais e emocionais da minha própria vida, como pessoa negra inscrita de forma contraditória nos circuitos de produção e reprodução do privilégio branco, pois, no limite, o que pretendi aqui não foi enrijecer cisões fundamentais, mas habitar o dilema incontornável de lidar com as desigualdades e assimetrias como princípios de constituição do mundo, e não como falhas situadas na matriz.
Insisto, dessa maneira, em que continuemos o trabalho ambivalente de inter-articulação política, tendo em vista suas dimensões impossíveis e o trabalho especulativo que elas demandam; suas dívidas impagáveis e o trabalho especulativo que elas demandam.
Lisboa, Nov/2017