Estive em Lisboa e Lembrei-me de Ti
Como parei de fumar
Voltei a fumar, após seis anos e meio, pouco mais ou menos, da minha visita ao doutor Fernando, quando ele, prescrevendo o tratamento — tegretol, fluoxetina e adesivos de nicotina —, alertou, «Os medicamentos auxiliam», mas parar mesmo, de vez, condicionava à minha determinação, «Dura segundos a vontade… e passa…». Eu já havia tentado deixar o cigarro três vezes, antes. Numa ocasião, a última, meus colegas de repartição — Seção de Pagadoria da Companhia Industrial Cataguases —, não suportando meu estado-de-nervo, compraram um pacote de Hollywood — que nem apreciava, muito forte — e me presentearam dizendo que, embora gostassem muito de mim e soubessem que, se eu continuasse consumindo quase dois maços por dia, logo-logo ia contrair uma doença grave, um enfisema, um câncer, não aguentavam mais a minha impaciência, a minha ignorância, eu, uma pessoa de-natural calmo, cordato, civilizado. O problema é que sempre havia tentado parar na-raça, sem amparo de remédio nem nada, mas, orientado pelo médico da fábrica, busquei ajuda profissional: conversei com o doutor Fernando, que, apesar de ginecologista e obstetra, jogávamos no mesmo time nas peladas de fim de semana, o Primeiro de Abril, dupla homenagem ao Dia da Mentira e à Revolução de 1964, que, na opinião dos colegas mais políticos, dava na mesma.
 fotografia de Nuno Modesto
fotografia de Nuno Modesto
Ele disse, amarrando a chuteira, pra passar no consultório «Amanhã na hora-do-almoço» — uma segunda-feira — que ele arrumava a receita, já que se tratava de substâncias controladas. Dia seguinte, depois de rememorar os melhores lances da partida que ganhamos, três a um, dos veteranos do Vasquinho, do Leonardo, o doutor Fernando falou, «Aproveita que está de férias», pra tomar um porre, «Fume o máximo que conseguir », porque, no dia seguinte, de ressaca, provavelmente não ia poder nem sentir cheiro de fumaça, «E aí você inicia o tratamento». Saí do prédio, atravessei a praça Rui Barbosa, aviei a receita na Drogaria do Povo, quase desistindo por causa da carestia, e, em cima da minha Biz, vagueei sem pressa pela cidade, rememorando todas as marcas que me acompanharam vida afora, desde os matarratos da infância, os sem-filtro afanados do meu pai e das visitas domingueiras, até os John Player Special que vestiam a Lotus do Emerson Fittipaldi, campeão da Fórmula 1 em 1972, cartaz que ilustrava a parede do quarto que dividia com meu tio Zé-Carlim, irmão caçula da minha mãe, fanático por automobilismo, e que, por ironia, morreu cedo, nem trinta anos, no trevo de saída pra Ubá, única vítima da batida entre um ônibus da linha Belo Horizonte-Muriaé e o Chevette do seu Lino, no qual ia pescar na Usina Maurício a turma que trabalhava no armazém lá-dele.
Eu nem sabia que John Player Special era nome de cigarro, descobri por acaso em São Paulo, quando acompanhei a Semíramis, minha irmã, à rua Oriente, no Brás, pra comprar roupas que ela revendia em Cataguases, numa lojinha na Taquara Preta, que durou pouco, a clientela comprava fiado e não pagava, acabou fechando, devendo também pra um monte de gente, essas coisas de comércio.
O rapaz, bem-falante, óculos escuros, motorista uniformizado, me mostrou o maço preto, caligrafia dourada, «Conhece?», respondi que de-vista, me ofereceu um, aceitei, agradeci. «Aqui no Brasil não tem desses», garganteou, perguntei onde ele adquiria, explicou que carreava, fretado, o povo da cidade dele, Presidente Prudente, praqui e prali, «Até pro Paraguai», e negociamos uma garrafa de Cavalo Branco, que, dizem, é o melhor uísque que existe, não sei, não estimo o paladar, comprei mais pra não desfeitear o coitado, e de brinde ofertou seis cigarros picados (que resguardei pra exibir aos amigos, pintoso, por anos), e acho que, naquele dia, pela primeira vez, me roeu uma vontade danada de viajar pra-fora, invejoso da ladinice do fulano. Quando dei conta, rodava pelo Paraíso, bairro que não punha os pés de há muito — desgostoso, evitava rever a Karina, que namorei uma época, culpa da dona Zizinha, minha mãe, que me pediu pra, aproveitando o intervalo da hora do almoço, buscar o óculos dela na rua do Comércio, ocasião em que apreciei a atendente, toda séria, refletida naquela montoeira de espelho que tem em ótica. Todo dia apanhava ela e levava pra Fafic, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases, onde cursava pedagogia à noite. De vez em quando aguardava até a última aula, zanzando pelos corredores — amigo de professor e funcionário, maginei mesmo retomar os estudos — pra escoltar ela até em casa, aproveitando pra inspecionar toda sombra de árvore, cada luz de poste apagada, qualquer canto escuro. Não durou muito a safadeza: ela me permutou por um rapaz dono de uma 125 azul, com quem casou, teve filho, separou, e ainda agora deve de andar por lá, divorciada, professora de colégio estadual, independente.
 fotografia de Nuno Modesto
fotografia de Nuno Modesto
Me arrependia daquela decisão — já sentindo falta do cigarro, me perguntava se valia a pena tanto sacrifício — quando lembrei que o Chacon (zagueiro do Primeiro de Abril, apelido derivado da mania de entrar nas jogadas gritando ’xa commigo) gabava de possuir um pequeno estabelecimento por aquelas bandas, e, especulando de um e outro, descobri o negócio, reduzido mas porém decente, limpo, duas mesas de plástico vermelhas enxeridas na calçada estreita, outras duas, de metal, no canto direito do cómodo sem janelas, chão de cimento grosso, balcão expositivo de porcarias pra engabelar criança, prateleiras de bebidas coloridas, estufa de salgadinho, geladeira, frízer. Estacionei a Biz no meio-fio, «Que surpresa, rapaz!», me abraçou, emocionado, gritando pela porta lateral, acesso à casa espichada pra trás e empoleirada em cima, «Lazinha, vem conhecer o Sérgio!», me arrastou, «Vamos entrando». «E aí?», falou, «Pois é…», respondi. Ele conclamou novamente a tal Lazinha, que devia de ser a esposa, fazia questão de apresentar o colega do futebol, pra certificar que tratava com pessoas dignas, honestas, «Ela confia em mim», mas sempre uma pulga atrás da orelha, deixava a entender, sem graça. Expliquei a recomendação do doutor Fernando, «Grande figura!», me disse, «’Xa com migo!», anunciando entusiasmado que eu só saía dali carregado, e serviu, preliminarmente, uma dose de cachaça, da-roça, que engoli sem detença.
Acendi um cigarro, ele trouxe uma garrafa de cerveja, dois copos, não podia ver ninguém bebendo sozinho, «Me dá aflição», brindamos, sumiu atrás da mulher, «Vou pedir pra ela fazer um tiragosto especial, ’xa com migo». Deste dia, recordo borrões, a cheirosa maçã-de-peito acebolada, um esfomeado viralata desavergonhadamente submisso, o entra-e-sai de meninos e meninas magros e esfarrapados, «Seu Pimenta, me dá um litro de água-sanitária», «Seu Pimenta, a mãe mandou perguntar se o senhor pode vender uma garrafa de Coca-Cola pra pagar no sábado», «Seu Pimenta, o senhor tem bomba-de-flit?», «Seu Pimenta, o pai pediu pra colocar isso na vaca», «Seu Pimenta, me dá uma caixa-de-fósforo» — seu Pimenta, o Chacon, levantava, entregava a mercadoria, anotava o fiado num caderno-escolar, rabiscava os palpites do jogo-do-bicho num bloquinho com papel-carbono, sentava, reavivava o colóquio, «Que nem o Flamengo de oitenta-e-um, nem o Santos de Pelé!, nem o Santos!». No final da tarde, o pessoal que labutava do outro lado da rua, virando areia e cimento, empurrando carrinho-de-mão lotado de massa pra uma construção no alto do barranco, apareceu, tomaram pinga, comeram jiló cozido e linguiça frita, jogaram conversa fora, e levei um baita susto quando acordei, o sol queimando a minha cara, terça-feira de manhã, no meu quarto na Taquara Preta, a cabeça latejando.
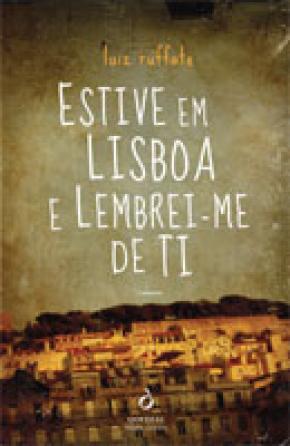 Ainda vislumbrei a dificuldade de acertar a conta, o Chacon somava e subtraía e não ajustava nenhuma conclusão, embirrando na injustiça de eu arcar com a totalidade dos gastos, afinal, ele também tinha consumido da cerveja e dos tiragostos, mas eu insistia, alegando o dinheiro das férias, em pagar tudo, até mesmo a parte dos pedreiros, e ele contestava, «Somos amigos», e, por defendermos as cores da mesma equipe, «O glorioso Primeiro de Abril», devíamos de rachar a despesa, e derrapamos nessa lenga-lenga, e então o meu coração escoiceou, olhei pela janela e não vi a Biz no quintal, espichei as pernas bobas e esbarrei com a minha mãe na cozinha, «Acordou, meu filho?», olheiras enormes, assustado perguntei cadê a Biz, e ela descreveu, lamuriosa, que me apresentei «Completamente», hesitou em dizer bêbado, mas frisou, entristecida, «Tonto», não conseguia nem parar em pé, e que entreguei a ela o peso da moto e saí tropicando, e, não sabendo o que fazer, encostou a Biz no fícus, junto ao muro em frente de casa, pegou uma cadeira e passou a noite inteira vigiando pra ninguém roubar (sozinha, porque, nessa época, meu pai, paciente de uma ziquizira, já não encontrava mais entre nós). Aí lacei e beijei a minha mãe, que continuou, «Deus protege mesmo os cachaceiros e as crianças», porque não entendia como, naquele estado, consegui chegar sem levar um tombo feio, «Podia ter morrido», lamentava, e eu, concordando, empurrava a Biz pra dentro, examinando cada milímetro da pintura sem achar nem um arranhãozinho, «Mas o que me deixa mais abatida», a vizinhança toda espiando o vexame, a hora regulava mais ou menos com aquela que o pessoal cerra as janelas, depois da novela, por causa dos pernilongos, e, fingindo arrumar os óculos, chorou, e, só quando explanei tintim por tintim minha motivação, «O doutor Fernando» etc., é que tranquilizou, e, contrariando o luto (de mais de ano), até sorriu, encabulada, com medo que eu percebesse, «Vamos ver então, meu filho, se dessa vez», e saiu pra catar umas folhas de boldo pra preparar um chá e comprar uma galinha gorda pra uma canja, que, segundo ela, «Não tem remédio melhor pra curar pifão». Tomei os comprimidos, pus o adesivo, voltei pra cama, dormi.
Ainda vislumbrei a dificuldade de acertar a conta, o Chacon somava e subtraía e não ajustava nenhuma conclusão, embirrando na injustiça de eu arcar com a totalidade dos gastos, afinal, ele também tinha consumido da cerveja e dos tiragostos, mas eu insistia, alegando o dinheiro das férias, em pagar tudo, até mesmo a parte dos pedreiros, e ele contestava, «Somos amigos», e, por defendermos as cores da mesma equipe, «O glorioso Primeiro de Abril», devíamos de rachar a despesa, e derrapamos nessa lenga-lenga, e então o meu coração escoiceou, olhei pela janela e não vi a Biz no quintal, espichei as pernas bobas e esbarrei com a minha mãe na cozinha, «Acordou, meu filho?», olheiras enormes, assustado perguntei cadê a Biz, e ela descreveu, lamuriosa, que me apresentei «Completamente», hesitou em dizer bêbado, mas frisou, entristecida, «Tonto», não conseguia nem parar em pé, e que entreguei a ela o peso da moto e saí tropicando, e, não sabendo o que fazer, encostou a Biz no fícus, junto ao muro em frente de casa, pegou uma cadeira e passou a noite inteira vigiando pra ninguém roubar (sozinha, porque, nessa época, meu pai, paciente de uma ziquizira, já não encontrava mais entre nós). Aí lacei e beijei a minha mãe, que continuou, «Deus protege mesmo os cachaceiros e as crianças», porque não entendia como, naquele estado, consegui chegar sem levar um tombo feio, «Podia ter morrido», lamentava, e eu, concordando, empurrava a Biz pra dentro, examinando cada milímetro da pintura sem achar nem um arranhãozinho, «Mas o que me deixa mais abatida», a vizinhança toda espiando o vexame, a hora regulava mais ou menos com aquela que o pessoal cerra as janelas, depois da novela, por causa dos pernilongos, e, fingindo arrumar os óculos, chorou, e, só quando explanei tintim por tintim minha motivação, «O doutor Fernando» etc., é que tranquilizou, e, contrariando o luto (de mais de ano), até sorriu, encabulada, com medo que eu percebesse, «Vamos ver então, meu filho, se dessa vez», e saiu pra catar umas folhas de boldo pra preparar um chá e comprar uma galinha gorda pra uma canja, que, segundo ela, «Não tem remédio melhor pra curar pifão». Tomei os comprimidos, pus o adesivo, voltei pra cama, dormi.
(…)
retirado de Estive em Lisboa e Lembrei de ti, de Luíz Ruffato, Quetzal