Pã̃o Seco - pré-publicação
CAPÍTULO I
Choro a morte do meu tio, rodeado de crianças. Algumas choram comigo. Já não é só quando me batem ou perco alguma coisa que choro. Reparo que as outras pessoas também choram. É a fome no Rife. A seca e a guerra.
Uma tarde, não consigo parar de chorar. A fome dá‐me dores. Chupo os dedos sem parar. Vomito e nada sai da boca, só uns fios de baba. A minha mãe lá me vai dizendo:
– Caluda! Vamos emigrar para Tânger, e o que lá não falta é pão. Quando lá chegarmos, não voltas a chorar por pão. Em Tânger as pessoas comem até se fartarem.
O meu irmão Abdelqádir não chora. A minha mãe diz‐me em rifenho:
– Olha o teu irmão, ele não chora. Só tu é que choras.
Olho para a sua expressão pálida, com os olhos encovados, e paro de chorar. Momentos depois esqueço a paciência que ele me inspirara.
O meu pai chegou e encontrou‐me a chorar por pão. Desatou a dar‐me murros e pontapés:
– Caluda! Caluda! Ainda acabas por comer o coração da tua mãe, bastardo! Caluda!
Levantou‐me no ar e atirou‐me ao chão. Pontapeou‐me até as suas pernas se cansarem e as minhas calças se molharem.
Ao emigrarmos, percorremos o caminho a pé, vemos cadáveres de gado, rodeados por pássaros negros e cães, cheiros asquerosos, tripas despedaçadas, vermes, sangue e putrefacção.
À noite ouvem‐se as raposas a uivar perto da tenda, que montamos quando a fome e a sede nos impedem de continuar. Por vezes, enterram‐se os mortos no mesmo sítio onde colapsaram.
O meu irmão tosse sem parar. Assustado, perguntei à minha mãe:
– Mãe, ele também vai morrer?
– Claro que não! Quem te disse isso?
– O tio, teu irmão, morreu.
– O teu irmão não vai morrer. Está apenas doente.
Em Tânger não vi a fartura de pão que a minha mãe havia prometido. Também neste paraíso havia fome, mas não era uma fome assassina.
Quando a fome apertava, eu dava uma volta pelo Bairro Aine Quetiute. Procurava restos de comida nos caixotes de lixo. Um dia, deparei com um miúdo que, tal como eu, se alimentava do lixo. A cara, os braços e as pernas com borbulhas. Descalço e com a roupa em farrapos. Disse‐me:
– Os caixotes de lixo da cidade nova são melhores que os do nosso bairro. O lixo dos nazarenos é melhor que o dos muçulmanos1.
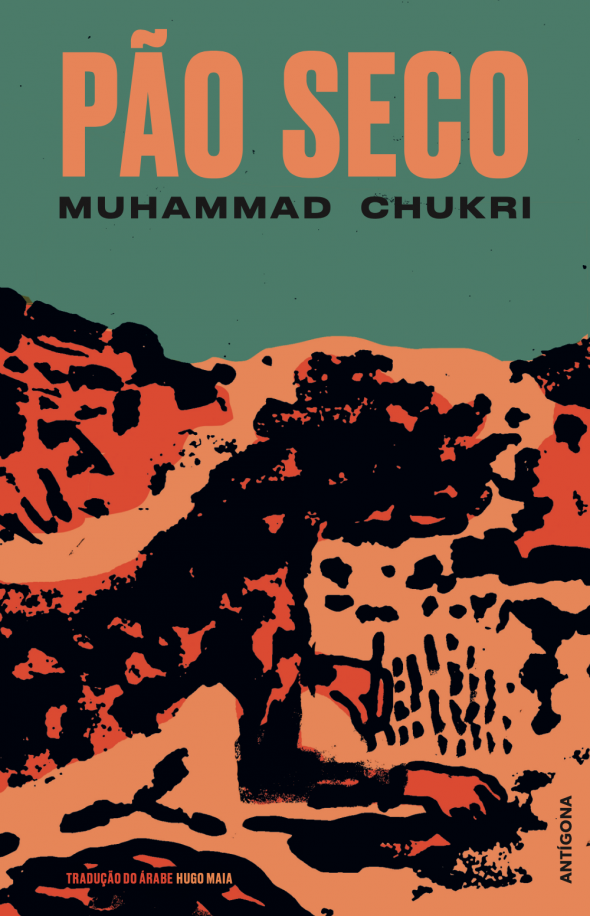 Livro da Antígona, ilustração da capa Gonçalo Duarte
Livro da Antígona, ilustração da capa Gonçalo Duarte
Após esta descoberta, comecei a afastar‐me mais vezes do nosso bairro, sozinho ou na companhia dos miúdos do lixo. Encontrei uma galinha morta, apertei‐a contra o peito e corri para casa. Os meus pais tinham ido à cidade. O meu irmão estendido a um canto, com a metade de cima do corpo levantada por uma almofada. Respira com dificuldade.
Os grandes olhos murchos fixos na porta. Vê a galinha. Os olhos arrebitam. Sorri. A sua magra cara cora. Mexe‐se como se acabasse de despertar de um desmaio. Tosse com alegria. Pego numa faca. Tosse e ofega. Viro‐me na direcção do Nascente: para onde costumo ver a minha mãe voltar‐se para orar. E declaro: «Em nome de Deus. Deus é grande.» Assim vira eu os graúdos fazerem. Degolo‐a até a cabeça se soltar. Espero que o sangue escorra. Aperto‐a, talvez assim escorra. E escorre um pouquinho, enturvado, do buraco do pescoço da galinha. No Rife eu tinha visto um carneiro a ser degolado. Não sei em que ocasião. Por baixo do pescoço do carneiro puseram uma taça para recolher o sangue que esguichava. Quando a taça ficou cheia, deram‐na à minha mãe, que estava doente. Vi‐os a segurarem‐na na cama, enquanto ela lhes resistia recusando‐se a beber o sangue. À força, obrigaram‐na a bebê‐lo. Ficou com a cara e a roupa todas sujas. Enrolou‐se na cama, e depois desfaleceu, pondo‐se a balbuciar palavras incompreensíveis. Porque será que o sangue não esguicha da garganta desta galinha como o sangue que vi esguichar do carneiro? Tirei‐lhe as penas. Ouvi a sua voz:
– Que é que estás a fazer? Onde é que roubaste esta galinha?
– Encontrei‐a doente. Degolei‐a antes de morrer. Per‐ gunta ao mano!
– És doido! – e com raiva arrancou‐ma das mãos. – As pessoas não comem cadáveres.
Eu e o meu irmão trocámos olhares amargurados. Ambos fechámos os olhos à espera de algo para comer.
O meu pai chega sempre ao final do dia, frustrado com a vida. Moramos numa casa com uma só divisão. Por vezes durmo no mesmo sítio onde me acocorei. O meu pai é um monstro. Quando entra em casa, nem um pio nem um gesto, a não ser que ele permita, tal como não há nada que aconteça a não ser que Deus permita, como eu ouvia as pessoas dizer. Bate na minha mãe por razões que me são desconhecidas. Ouvi‐o muitas vezes dizer‐lhe:
– Olha que te deixo, ó sua filha da puta! E vais ter de te orientar sozinha com estes dois cachorros!
Cheira rapé. Fala sozinho. Cospe em pessoas imaginárias. Chama‐nos nomes. Diz à minha mãe: «És uma puta filha duma puta.» Pragueja todo o tempo contra o mundo. Blasfema por vezes contra Deus, e depois pede‐lhe perdão.
O meu irmão chora, contorce‐se com dores, chora por pão. É mais novo que eu. Choro com ele. Vejo‐o a acercar‐se dele. O monstro acerca‐se dele. A demência nos olhos. As mãos, quais tentáculos dum polvo. Ninguém o consegue deter. Sonho que peço ajuda. Monstro! Demente! Alguém o detenha! Num ataque de fúria, o maldito torce‐lhe o pescoço. O meu irmão contorce‐se. O sangue jorra‐lhe da boca. Fujo para fora de casa, enquanto o meu pai cala a minha mãe ao murro e ao pontapé. Escondo‐me à espera do fim da batalha. Não passa ninguém. Os sons daquela noite estão perto e longe de mim. O céu. Os luzeiros de Deus testemunham o crime do meu pai. As pessoas dormem. O luzeiro de Deus aparece e desaparece. A silhueta da minha mãe. A voz fraca. Está à minha procura. Chora e soluça. A escuridão esconde‐me. Porque será que ela não é tão forte quanto ele? Os homens batem nas mulheres e elas choram e gritam.
– Meu pequeno Muhammad – disse‐me ela em rifenho. – Anda cá. Não tenhas medo. Anda cá.
Senti um certo prazer em vê‐la sem que ela me visse a mim.
– Estou aqui – disse eu em rifenho. – Anda cá.
– Não. O pai vai‐me matar como matou o mano.
– Não tenhas medo. Vem comigo. Ele não te vai matar. Anda. E cala‐te, para os vizinhos não nos ouvirem.
O meu pai lava‐se em lágrimas e cheira rapé. Impressio‐ nante: primeiro mata o meu irmão e depois chora.
Passámos a noite, nós os três, a chorar em silêncio. O meu irmão estava amortalhado num pano branco. Adormeci e deixei‐os a lamuriarem‐se.
De manhã, continuámos a chorar em silêncio. É a primeira vez que participo num enterro. O meu irmão é levado numa esteira entre os braços do xeque, e atrás vem o meu pai e depois venho eu, descalço e a coxear. Colocam‐no numa cova húmida. Estremeço e choro. Tem uma mancha de sangue coagulado à volta da boca. Desaparece coberto pela terra. Tornou‐se um montículo.
Ao sairmos do cemitério, o xeque reparou no meu pé ensanguentado e perguntou‐me em rifenho:
– Que sangue é esse?
– Pisei uma garrafa.
Ao que o meu pai disse, também em rifenho:
– Ele nem andar sabe! É um palerma!
O xeque perguntou‐me:
– Gostavas do teu irmão?
– Muito – e continuando em lágrimas: – A minha mãe gostava muito dele. Mais do que de mim.
– Claro que sim. Quem não gosta do seu filho? Lembrei‐me de como o meu pai lhe torceu o pescoço.
Estive quase para gritar: o meu pai não gostava dele. Foi ele quem o matou. Sim, matou‐o. Foi ele. Eu vi‐o a matá‐lo, foi ele e mais ninguém. Vi‐o a matá‐lo. Torceu‐lhe o pescoço. O sangue jorrou da boca do meu irmão. Vi‐o, vi‐o a matá‐lo. Foi ele, matou‐o, que Deus o desgrace.
Para acalmar o ódio visceral ao meu pai, pus‐me novamente a chorar. Tinha medo que ele me matasse também. Ralhou‐me em voz baixa e ameaçadora:
– És capaz de parar com essa choradeira?
O xeque acrescentou:
– Sim, pára lá com essa choradeira. O teu irmão agora está com Deus, na companhia dos anjos.
Odeio também este homem que enterrou o meu irmão. Compra um saco com pão branco e tabaco barato. Vai até um sítio longe de Tânger, às casernas dos soldados espanhóis, para trocar géneros com eles. Regressa ao fim do dia, carregando roupas dos soldados. Vende‐as no Mercado Grande aos operários e aos marroquinos pobres.
 Muhammad Chukri
Muhammad Chukri
Uma tarde, não voltou. Adormeci, deixando a minha mãe a chorar atormentada. Esperámos três dias. Por vezes, também chorava com ela. Dava‐lhe consolo. Será que ela o ama? Será que não? Percebi o que se passava quando me disse:
– Estamos os dois sozinhos. Quem vai cuidar de nós? Não conheço ninguém nesta cidade. A tua avó Ruquia, os meus irmãos e teus tios, Fátima e Idriss, também emigraram do Rife, foram para Orão. De certeza que foram os militares espanhóis que prenderam o teu pai. Sabes… é que ele desertou do exército espanhol.
Viemos a saber que o prenderam. Foi um soldado marroquino que o conhecia em Espanha que se bufou dele. Tudo porque se recusou a vender um cobertor militar ao tal soldado bufo pelo preço que este queria. Foi o que disseram à minha mãe.
Ela vai à cidade à procura de trabalho. Regressa frustrada da vida tal como o meu pai nos primeiros dias da nossa chegada a Tânger. Rói as unhas. Chora e lamuria‐se. Os bruxos escrevem‐lhe amuletos, talvez assim o meu pai saia da prisão e ela encontre trabalho. Reza e faz preces a torto e a direito. Acende velas nos mausoléus dos padroeiros. Questiona as videntes sobre a nossa sorte para os tempos futuros. Ninguém sai da cadeia, nem encontra trabalho, nem tem sorte, sem que tal seja ordenado por Deus e pelo seu profeta Muhammad. Era o que ela dizia.
Porque é que Deus não nos dá sorte como dá a algumas pessoas? Foi o que perguntei à minha mãe.
– Só Deus sabe. Nós não. Não Lhe devemos perguntar o que Ele sabe melhor do que nós.
Vendeu várias coisas do recheio da casa. Um dia mandou‐me, com um grupo de miúdos da vizinhança, trazer verduras. Tive medo que me agredissem. Nenhum deles era meu amigo a sério, e assim não podia contar com ninguém caso brigasse com mais de um deles. Ainda por cima, punham de parte os miúdos recém‐chegados à cidade. Atrasei‐me durante o caminho. Fingi que ia mijar. Fui para a cidade. Adoro o seu rebulício. No Mercado Grande comi umas folhas de repolho, umas cascas de laranja e uns restos de fruta podre. Um miúdo mais velho do que eu é perseguido por um polícia. A distância entre os dois é muito curta. Imaginei‐me no lugar daquele miúdo. Também eu ofego. As pessoas comentam: Vai apanhá‐lo! Está quase! Até que berraram: Já está! Foi apanhado!
Estremeci. Tive medo. Imaginei‐me a ser apanhado. Tinha pedido a Deus que o polícia não apanhasse aquele miúdo, mas de nada serviu. Senti ódio contra aqueles que desejaram que ele fosse apanhado. Ao longe, vi uma mulher estrangeira a ofegar atrás daqueles que tinham parado para ver o espectáculo. Ouvia‐a a falar sozinha uma língua da qual eu não percebia patavina.
– Só lhe deixou a asa da mala na mão – disse um homem marroquino.
Um polícia aviou‐me no traseiro com o cassetete. Saltei no ar aos gritos em rifenho: «Ó mãe! Ó mãe!» Amaldiçoei aquele polícia na minha imaginação. Dois outros polícias batem nos miúdos e empurram os graúdos. Batem também em alguns marroquinos velhos e miseráveis.
Ouvi dizer que os polícias batem nas pessoas e as levam para a cadeia se elas matam, roubam ou derramam sangue em brigas.
Fui ao Cemitério de Buarraquia. Colhi ramos de murta das campas mais aperaltadas. Pu‐las na campa do meu irmão. Vi muitas campas sem murta nem laje, como a do meu irmão: um montículo de terra e dois calhaus de formas diferentes, um a indicar a cabeça e outro os pés. Fiquei com pena ao ver as campas abandonadas cobertas de vegetação selvagem, algumas com lajes quebradas. Até aqui, nos cemitérios, há ricos e pobres. Porque morrem as pessoas? – Porque Deus assim quer – respondeu a minha mãe. Para onde vão depois de morrerem? – Para o céu ou para o inferno.
– E nós?
– Para o céu, se Deus quiser.
– Eoqueéquehálá?
– Fazes muitas perguntas. Quando cresceres vais perceber tudo.
Encontrei no cemitério as verduras que a minha mãe havia pedido. Vi três homens que rodavam entre si o líquido escuro de uma garrafa. Um deles chamou‐me:
– Eh, tu aí! Anda cá, puto! Anda cá para te darmos uma coisa.
Tive medo e fugi. Dá‐a à tua mãe, bastardo!
Durante o almoço disse‐me:
– Estas verduras são mesmo deliciosas.
Delicio‐me a comê‐las, tal como ela. Na realidade, engulo‐as quase sem as mastigar.
– Onde as encontraste?
– No Cemitério de Buarraquia.
– No cemitério!
– Sim, no cemitério. O que é que tem?
Ficou boquiaberta. Continuei:
– Fui visitar a campa do mano. Pus murta na campa dele. O montezinho de terra já não está muito alto. Se continuar assim vai ficar à altura do chão e não vamos poder distingui‐la das outras campas à volta.
Parou de comer. Ficou tensa. As lágrimas vieram‐lhe aos olhos. Acrescentei:
– Existem lá muitas verduras destas à volta das campas abandonadas.
– As plantas que crescem nos cemitérios não se comem! – Porquê?
Olhou‐me atónita. Eu a comer, deliciando‐me. Ela parecia estar à beira de vomitar. Tirou‐me o prato e disse‐me em rifenho:
– Chega! Ainda te devoras a ti próprio!
– Mas ainda não acabei!
– De onde tiraste a murta?
– De cima de algumas campas. Havia imensa murta por cima delas.
Disse‐me com dureza:
– Amanhã voltas ao cemitério e pões a murta no lugar onde as pessoas a puseram. São campas de gente. Cuidado para não te verem a pô‐la de novo. Nós também vamos comprar murta para a campa do teu irmão. E construir uma laje bonita para ele.
Começou a chorar aos soluços. Também eu fui dominado pela tristeza, e as lágrimas escorreram‐me. Abraçou‐me contra ela e adormeci.
Leva‐me com ela ao Mercado Grande. Compramos uma pilha de pão duro, do que os mendigos vendem à sombra duma gigantesca árvore, perto do mausoléu de Sidi Mekhfi. Cozinha‐o em água, com um pouco de azeite e especiarias. Por vezes, em água sem mais nada.
Uma manhã, bem cedo, disse‐me:
– Vou ao mercado. Vou comprar legumes e fruta para vender. Ficas aqui, a guardar a casa. Não vás brincar com os outros miúdos para a casa não ficar à mercê dos ladrões.
Entre mim e os miúdos do bairro havia diferenças que me faziam sentir que eu era inferior a eles, apesar de alguns serem tão miseráveis quanto eu. Vi um deles a apanhar ossos de galinha do caixote de lixo e a chupá‐los. Disse‐me: «Os donos desta casa todos os dias deitam fora lixo do melhor.»
Sobre mim dizem:
– Ele é rifenho. Veio da terra da fome e dos assassinos. – Não sabe falar árabe!
– Os rifenhos este ano estão todos doentes a morrer à fome.
– Até o gado deles está doente.
– Nós não comemos o gado deles. Mas eles sim. É doença atrás de doença.
– Se uma vaca, uma ovelha ou uma cabra morrer, eles comem‐na. Até os cadáveres!
Na cidade, os miúdos montanheses recém‐chegados são alvo de humilhação, tal como os rifenhos, apesar de serem menos censurados. A maioria das vezes consideram o montanhês um pateta: «Os montanheses são ingénuos, mas os rifenhos são intrujões.»
Nas cercanias de nossa casa havia um pequeno pomar. Todos os dias era seduzido por uma grande pereira. Uma manhã bem cedo, o dono do pomar apanhou‐me a colher com uma cana comprida uma pêra das grandes e maduras. Puxou‐me, enquanto eu, a chorar, tentava fugir. Mijei‐me nas calças marroquinas e largueironas, apesar de ele nem sequer me haver batido. Virou‐se para a sua mulher risonha e disse: – Eis a pulga que anda a dar cabo da nossa pereira. É tal qual os ratos, estraga mais do que come.
Com uma docilidade que acalmou o meu medo, a sua mulher perguntou‐me:
– Filho, onde está a tua mamã?
– Foi ao mercado vender legumes e fruta.
– Vá, chega de chorar. E o teu pai?
– Na prisão.
– Na prisão?
– Sim, na prisão.
– Pobre coitado! E porque está ele na prisão?
Fiquei atrapalhado com a pergunta. Repetiu‐a acariciando delicadamente a minha cara:
– Diz‐me, porque está o teu pai na prisão?
Achei que a resposta sincera mancharia a dignidade dos meus pais.
– Não sei. A minha mãe é que sabe.
O homem conversou com a mulher e com a filha, que tinha aparecido de pés nus, acerca de me prenderem até a minha mãe voltar. A filha tinha a cabeça enrolada num lenço branco, e as mãos, delicadas e brancas, molhadas. Percebi que a mulher e a filha tinham pena de mim, mas o marido, meio a sério meio a brincar, a avaliar pelas suas palavras e expressões, insistia em que eu fosse castigado. Pôs‐me num quarto escuro, onde estava um amontoado de coisas, a maior parte delas partidas. Ao fechar a porta disse‐me:
– Ai de ti se choras. Açoito‐te com uma vara se o fizeres.
Preso num quarto. É a primeira vez. Afinal é possível ser tiranizado por pessoas que não são da minha família. As peras são propriedade daqueles que me prenderam. Mas porque é que emigramos nós do Rife enquanto outros ficam nas suas terras? O meu pai está na cadeia, a minha mãe vende legumes, deixando‐me sozinho e esfomeado em casa, e este homem e a sua mulher ficam em casa? Porque não possuímos o que os outros possuem?
Através do buraco da fechadura, vejo a moça com um pano na mão, a esfregar vigorosamente o chão, descalça, o vestido transparente deixando a descoberto as coxas brancas e os seios pequenos. Seios nus que baloiçam, ora espreitando para fora, ora escondendo‐se pela abertura da camisa, como dois cachos de uvas suspensos. Tem o cabelo embrulhado num lenço branco sarapintado de hena. Embrulhado como o embrulho das folhas de uma cabeça de couve.
Amedrontado, pus‐me a bater na porta. Observava‐lhe os movimentos. O meu coração palpitava com os seus gestos, ora com medo ora com alegria. Virou‐se na direcção da porta, com o corpo dobrado enquanto secava o chão.
– Anda cá e abre‐me esta maldita porta.
Senti‐a vacilar e continuei:
– Por favor, peço‐te, vem cá.
Hesitou um momento. Insisti com ela dizendo de mim para mim:
– Por favor, não hesites, vem.
Largou o pano de esfregar o chão e endireitou‐se. Sacudiu a água das mãos e apertou o cinto. Na face rosada, desenhou‐se‐lhe uma ligeira expressão de dó. Aí vem ela em direcção à porta. O meu coração palpitou. Estremeci. Abriu‐a e, sorrindo delicadamente, disse:
– Então diz‐me lá, o que é que tu queres?
Gaguejei. As lágrimas vieram‐me aos olhos.
– A minha mãe vai‐me bater se voltar do mercado e não me encontrar a guardar a casa. Ela deixou‐me lá para a guardar dos ladrões.
Baixei a cabeça timidamente como quem procura compaixão. Olhei para as suas coxas fartas. Deixou o vestido, agarrado por um cinto de tecido, desprender‐se. Observou‐me com pena. Fitei‐a de modo suplicante. Com as mãos fechou a abertura do decote do vestido. Os seios compridos estavam rijos. A brancura do vestido deixava transparecer mamilos que eram como duas bagas de uva.
– Vais voltar com a tua cana para arrancar peras do nosso pomar?
– Nunca mais! Mata‐me tu mesma se me vires a arran‐ car peras outra vez.
Sorriu. Eu não. Saí apressadamente. A sua voz delicada chegou‐me aos ouvidos:
– Anda cá. Tens fome?
A minha expressão reflectiu vergonha. Respondi um tanto atrapalhado:
– Não, já comi.
Insistiu para que esperasse. Os pais não estavam em casa. Observei a árvore. Senti um misto de amor e raiva por ela. A partir de hoje, nunca mais volto a comer desta árvore.
Estendeu‐me um crepe folhado a pingar mel escuro. – Se tiveres fome, vem a nossa casa.
E acrescentou:
– Não tens sapatos?
– A minha mãe vai‐me comprar uns.
Fui‐me embora e ela ficou a contemplar‐me sorridente enquanto eu me afastava de cabeça virada para ela. Antes de eu desaparecer da sua vista, disse‐me adeus com a mão e com um sorriso. Respondi‐lhe com outro sorriso e desapareci.
Será que o homem tem um coração mais duro que o da mulher? Quem me dera que ela fosse minha irmã. E que esta casa e este pomar fossem nossos. O dono do pomar não é tão duro quanto o meu pai. Quem me dera que ele fosse meu pai.
Segue‐nos persistentemente. Aproxima‐se de nós e sopra ao ouvido dela umas palavras que eu não consigo ouvir. Ela afasta‐se dele. Ao atravessarmos para a outra berma, ela segura‐me na mão. Por vezes puxa‐me com força. Persegue‐nos persistentemente. Ri‐se. Ela fica de mau humor. Paramos. Ele ultrapassa‐nos e abranda a marcha. Atravessamos de novo para a outra berma. Segue‐nos persistentemente. Fico furioso. Pergunto à minha mãe:
– O que quer este homem?
– Não é da tua conta.
Olho para ele. Sorri enquanto nos segue persistentemente. O que quer ele da minha mãe? Quererá raptá‐la? Sem dúvida, é um sequestrador. Apertei a mão dela com mais força.
– Não me apertes a mão com tanta força. Não vou fugir. Com raiva, virei‐me para aquele indivíduo e disse:
– Vai‐te embora! Desaparece! O que é que queres? Maldito seja. Ele sorri para mim e para a minha mãe. – Não te disse para ficares calado? Será que não ouves? – disse‐me a minha mãe.
Dentro de mim, senti raiva contra ela. Eu defendo‐a e ela manda‐me calar.
A minha mãe encontrou uma mulher. Desataram as duas a conversar sobre o meu pai. O homem persistente afastou‐se. A mulher tocou‐me nos cabelos. A sua mão rude deslizou carinhosamente pela minha cara. Larguei a mão da minha mãe e abracei‐me à sua cintura.
– Porque está o teu Muhammad assim tão triste? – perguntou a mulher.
A minha mãe olhou para mim, pousando a mão na minha nuca. A minha raiva acalmou.
– Ele é sempre assim – disse ela à mulher. Despediram‐se.
– Beija a mão da dona Luísa – disse‐me a minha mãe.
Obedeci.
A barriga da minha mãe não pára de inchar. Por vezes não vai ao mercado. Vomita várias vezes ao dia. Anda pálida. Doem‐lhe as pernas. Chora. A sua barriga incha e incha. Receio que expluda. Já não me perturbam os seus gemidos. Enrijeço, endureço e entristeço‐me. Esqueci o que é brincar. Certa noite, levaram‐me ainda a dormir para outra casa. Dormi com mais três miúdos. De manhã, a vizinha viúva disse‐me:
– Agora tens uma irmã. Trata‐a bem.
Ela visita‐o na cadeia uma vez por semana. Algumas vezes regressa a chorar. Comecei a aperceber‐me de que as mulheres choram mais do que os homens. Ora choram ora param de chorar, tal como as crianças. Por vezes ficam tristes quando julgamos que vão ficar contentes, e ficam contentes quando julgamos que vão ficar tristes. Afinal, quando estão tristes e quando estão contentes? Uma vez vi a minha mãe a chorar sorridente. Será louca?
Fico em casa a guardar a minha irmã R’himu. Sei fazê‐la rir, mas não o que fazer para ela parar de chorar. Canso‐me e saio porta fora. Deixo‐a a chorar e a brigar consigo mesma, com as suas pernas e braços toscos como uma tartaruga virada de costas para baixo. Ao voltar, encontro‐a a dormir ou a rir. Geralmente a dormir. As moscas saltitam pela sua cara pintalgada com picadas de mosquitos. À noite os mosquitos, e de dia as moscas.
A minha irmã dorme. A minha mãe sossega‐lhe o choro e a resmunguice. Cada vez me torno mais agressivo e feroz, seja com a minha mãe, seja com os outros miúdos do bairro. Se perco alguma discussão ou disputa, desato a partir as coisas à minha volta, ou então atiro‐me ao chão aos berros e bato em mim mesmo, insultando‐a a ela ou aos outros miúdos.
– As mulheres também podem ir para a cadeia? – perguntei‐lhe.
– Porquê?
– Estou só a perguntar.
– Sim. Podem se fizerem alguma coisa má.
Começou a levar‐nos com ela ao mercado. A minha irmã mama ao seu colo, e eu, na maioria das vezes, afasto‐me e vou procurar comida para mim no mercado ou pelas ruelas da cidade antiga. Peço esmola e roubo. Quando ela me recri‐ mina pelas minhas ausências, digo‐lhe:
– Vou fugir desta casa imunda e nunca mais voltarei!
– Que escaravelho! Então agora falas assim! No que te tornaste… O que irei eu dizer sobre ti quando cresceres? Uma manhã, ele apareceu‐nos de surpresa no Mercado Grande, conduzido por uma vizinha que o havia guiado até ao lugar da minha mãe.
Tanto no mercado como ao chegar a casa, a minha mãe chorou e soluçou. Porque chora ela por ele? Por alguém tão mau, duro e cruel? Naquela noite rendi‐me ao sono mais cedo que o habitual e deixei‐os a queixarem‐se um ao outro.
Na manhã seguinte não foi ao mercado. Foi ao hammam público. Aperaltou‐se, delineou os olhos de negro com kohl e usou swak para limpar os dentes, deixar a boca a cheirar bem e ficar com os lábios com uma tonalidade ocre. Lembro‐me dela feliz naquela manhã. Isso mesmo. Quando o meu pai saiu de casa, ela desatou a chorar aos soluços, apesar de anteriormente se ter aperaltado toda. Pensei: Nunca vi uma mulher tão chorona quanto ela. Perguntei‐lhe porque chorava. Explicou‐me que o meu pai tinha saído para procurar o soldado que se tinha bufado, para lhe dar um enxerto de porrada. Jubilei. Espero que encontre esse bufo e o mate, para que se ausente uma vez mais durante muito tempo. Que se matem um ao outro. Eis o que eu desejo. Gosto que ele esteja ausente, vivo ou morto.
À tarde, ele voltou triste. Tresandava a bebida. Ouvi a minha mãe dizer‐lhe:
– Andaste a beber, não foi?
Balbuciou umas palavras e foi descansar triste e fatigado. Está triste porque não encontrou o seu rival, e eu estou triste porque ele voltou. Ouvi‐os a conversar sobre partirmos para Tetuão. A nossa casa só tinha uma divisão. Deixei‐os a falar entristecidos e adormeci.
Durante a noite a minha bexiga cheia acordou‐me. O entrechocar de beijos. Os sucessivos arfares. Os sussurros do amor. Amam‐se. Maldito seja o amor deles. O entrechocar da carne. Que nojo! Ela está a fingir. De hoje em diante, não mais acreditarei nela.
– A tua boca.
– Aqui estou. Assim não, com força não. Espera.
O que estão eles a fazer?
– Vá lá, vamos fazer assim.
– Olha que vou para o chão dormir.
Dá‐lhe uma palmada. O que estão a fazer?
– Ah sua filha da puta.
– Não. Assim não. Magoa‐me – dizia ela em rifenho.
– Ai, as minhas tripas! Assim. Assim é melhor. Não. Não. Assim não. Assim sim.
Só podem estar com febre. Arfares. Beijos. Gemidos. Arfares. Beijos. Arfares. Beijos. Gemidos. Mordem‐se. Comem‐se e lambem o sangue um do outro…
– Mmmmm…!
Esfaqueia‐a. Um longo e suave gemido. Um hausto. Matou‐a. É melhor esvaziar a minha bexiga. O líquido quente jorra com prazer entre as minhas pernas.
Na véspera da nossa partida, encontrei a rapariga que me libertara da prisão e me dera o crepe folhado com mel. Disse‐lhe que íamos partir para Tetuão. Levou‐me até casa dela, segurando‐me pela mão. Comi pão escuro com mel e manteiga. Deu‐me uma grande maçã, de cor vermelha e brilhante. Encheu os meus bolsos com amêndoas. Lavou‐me a cara, os pés e as mãos. Seria eu o seu irmão mais novo? O seu filho? Penteou‐me o cabelo eriçado. Cortou‐o e, enquanto o fazia, a sua mão macia e quente acariciava‐me o rosto e a cabeça. Perfumou‐me. Cheirou‐me. Passou‐me um espelho com moldura de prata para eu me ver. Olhei mais para a face dela do que para a minha. As suas mãos pegaram no meu rosto tal como eu pegaria num pardalito para não o magoar. Ora o apertava carinhosamente, ora o embalava. Despediu‐se de mim dando‐me beijos nas bochechas. Beijou‐me na boca. Pensei nela como sendo uma irmã que a minha mãe não pariu.
No dia da nossa partida lembrei‐me da campa do meu irmão. Irá continuar sem rega, sem murta e sem laje. Irá perder‐se como se perdem as coisas pequenas no meio das grandes.
(…)
Continue a ler o livro Pão Seco, Antígona 2021.
- 1. Naquela época, a maioria das pessoas chamava nazareno a qualquer europeu, e qualquer árabe que falasse árabe era considerado muçulmano. A palavra «muçulmanos» designa aqui os marroquinos.