Potential History: Unlearning Imperialism, de Ariella Aisha Azoulay (2019)
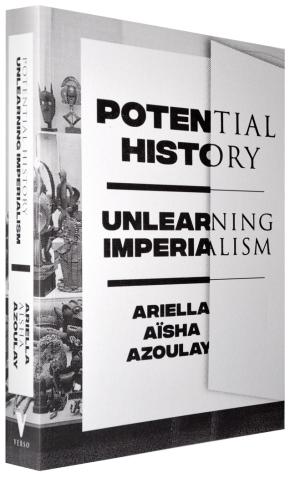 O que são as reparações?
O que são as reparações?
De vez em quando, como um fenómeno sazonal, têm de ser dadas respostas sobre pedidos de reparação, como se se tratasse de uma bomba relógio a ser desactivada. As respostas concentram-se principalmente em anular a urgência de quem reclama e ganhar o tempo necessário para que tais exigências reapareçam de novo, como se surgissem após violência. Quando em Maio de 1969, James Forman interrompeu a missa de domingo na Igreja de Riverside, em Nova Iorque, para ler algumas exigências do “Manifesto Negro”, terminou com um comentário sobre temporalidade, afirmando: “A nossa paciência é escassa, o tempo está a esgotar-se; somos escravos há demasiado tempo”.
O adiamento das reparações, porém, não é apenas estratégico, mas faz parte da ordem onto-epistemológica imperial que faz com que os descendentes das vítimas que pedem reparações pareçam virar-se para o passado, enquanto os descendentes dos perpetradores se congratulam por olhar em frente, para o futuro. Trazer a questão das reparações de volta às suas origens é necessário para as abordar fora do círculo vicioso da violência imperial. Devemos localizar a origem das reparações no momento em que esta violência ainda não é uma língua franca e a sua reversibilidade é possível: quando o que não deveria ter sido possível é, ao mesmo tempo, o que nunca deveria ter sido possível. Para isso, direitos como o “direito a não ser um perpetrador” ou o “direito a cuidar do mundo partilhado” não devem ser concebidos como novos direitos, mas sim assumidos como direitos pré-existentes que foram violados quando os mundos começaram a ser destruídos.
Os direitos imperiais, inventados no final do século XV, devem ainda ser concebidos como novos direitos que podem ser revogados, uma vez que minam estruturalmente os cuidados de um mundo partilhado, e, como base dos regimes políticos imperiais, definem apenas dois modos possíveis de existir no mundo: ser vítima do regime ou um perpetrador ao seu serviço. Porque estes crimes não cessaram, aqueles que herdaram riqueza e poder através da despossessão de outros não só continuam a ocupar posições de autoridade e privilégio, como também continuam a confiar nos mesmos tropos que tornam as pessoas despossuídas num “problema” que os especialistas têm o direito de “resolver” - como o “problema dos refugiados”, o “problema dos negros”, ou os problemas de uma cultura com “elevada taxa de natalidade” ou “resistente ao progresso”.
Não foi exercida qualquer pressão sobre os autores de crimes imperiais para pagarem pelos seus crimes, pedirem perdão às suas vítimas, desaprenderem os seus direitos, desmantelarem as estruturas que os habilitam e recuarem das suas posições. A sobrevida da escravatura tornou-se apenas problema dos descendentes de escravos e a destruição da Palestina problema dos palestinos. Os perpetradores não são incriminados, nem assumem a responsabilidade, apesar da quantidade de informação sobre a violência que exerceram. Poupar aos escravocratas e aos seus descendentes qualquer responsabilidade é assumir que a abolição da escravatura continua a significar a amnistia dos seus crimes.
A violência institucionalizada molda quem as pessoas são – tanto as vítimas como os perpetradores – a ponto de apenas a recuperação da condição de pluralidade a poder desfazer. Isto remete para o direito mais básico imanente à condição humana, que o imperialismo compromete constantemente: o direito a não agir contra outros; ou na sua formulação positiva: o direito a agir lado a lado e uns com os outros. Aceitar este direito nas suas duas formas como fundamental é necessário para imaginar as reparações para que bênção de ser activo e reparar o que foi quebrado possa ser alcançada.
Para prosseguirmos nesta direcção, temos de nos juntar a outros que há muito tempo fazem as mesmas perguntas. No pedido que Sojourner Truth escreveu no final da Guerra Civil, esta alude à dívida da América para com o seu povo, mas deixa imediatamente claro que esta dívida não pode ser reduzida a termos monetários: “Vou fazê-los compreender que existe uma dívida para com o povo negro que nunca poderão pagar”. Isto não significa que o trabalho de reparação seja supérfluo. As narrativas sobre reparações, como as de Truth, são contadas através da repetição: o orador transmite sempre a mesma urgência, a mesma persuasão e a mesma esperança de que reivindicações justas serão reconhecidas, não importa quanto tempo tenha passado desde que a reivindicação foi apresentada.
(…)
Contrariar a história
O desafio aqui não é justificar reparações para os descendentes das vítimas da escravatura, sobreviventes de genocídios coloniais e da destruição de culturas; assume-se que tal carece de justificação. As reparações são estruturalmente adiadas através da exigência de um “caso bem documentado”, o que justifica a necessidade de reparações através de documentos de arquivo que possam “resistir ao escrutínio científico e ser verificáveis a contendo de uma audiência ou tribunal”, ainda que tais documentos só possam ter sido produzidos pelos perpetradores.
O desafio consiste em fazer das reparações uma prioridade também para os descendentes dos perpetradores, bem como para todos aqueles que herdam e são treinados para operar tecnologias imperiais, como a História. Este esforço deve ser empreendido com base na convicção de que os descendentes dos perpetradores têm o direito a não serem perpetradores para sempre, daí decorre o direito a deixar de reproduzir a violência imperial e a participar na destruição do nosso mundo comum. Para exercer este direito, os descendentes dos perpetradores devem estender a mão àqueles que mantiveram esta opção aberta para eles: os descendentes das vítimas.
Devolver o que foi injustamente herdado não deveria ser um acto dependente de determinado pedido, mas uma forma de exercer o direito básico de poder partilhar o mundo. Sem criminalizar o que ainda é considerado neutro – a acumulação de riqueza, lucro e poder – denunciar os crimes imperiais associados a datas e lugares específicos não será suficiente para que as pessoas renunciem a posições de poder e à violência institucionalizada. Para que tal renúncia seja entendida como uma bênção desejável e necessária de fazer o que é correcto, as pessoas devem reclamar o direito a se afastarem e a reverterem posições de poder.
Para evitar o movimento imperial implacável, é necessário declinar participar no progresso – converter velocidade em lentidão, transformar crescimento em decrescimento, redireccionar as tecnologias existentes para as reparações em vez de inventar novas tecnologias, abrir mão da acumulação e redistribuir bens, rescindir a propriedade privada gratuita, renunciar à violência simbólica e redefinir os papéis através dos quais esta é exercida, e transmutar a “proficiência” em conhecimento local, sustentável e passível de ser partilhado fora das tecnologias imperiais. Simplificando, para que as reparações possam ser transformadoras, os perpetradores não podem continuar a ocupar as mesmas posições de poder e conhecimento, a partir do qual continuam a ser autorizados a decidir, com base em “proficiência” acumulada imperialmente, o que deve ser dado e quando e como deve ser dado às vítimas.
 Onça, AfricaMuseum, Tervuren, Bélgica. Cortesia IBB
Onça, AfricaMuseum, Tervuren, Bélgica. Cortesia IBB
O Trabalho de Perdão
Os perpetradores e os seus descendentes não podem decidir sobre a natureza das reparações e não podem estendê-las a outros. É necessário aqui um acto de imaginação que nos permita recordar que o âmbito político pode ser diferente, e não apenas aquele constituído por governantes e governados, perpetradores e vítimas, brancos e não brancos, outorgantes e reclamantes de direitos. Um acto de história potencial veria os descendentes de perpetradores na posição em que os seus antepassados deveriam ter estado quando os crimes foram perpetrados – o de devolver o que foi tirado e implorar para que lhes continuasse a ser permitido um lugar no mundo partilhado. Tal espaço é a causa e o efeito de um trabalho árduo através do qual os perpetradores e os seus descendentes se podem separar do crime; ou seja, não através da negação, mas através da sua transformação num crime imperdoável.
O trabalho de reparação não está, pois, prestes a começar – ele nunca parou. Nunca esteve dependente da duvidosa generosidade dos perpetradores. Estas reivindicações consistiam, antes de mais nada, no tedioso trabalho de reconstrução do mundo, assentando na declaração convicta de que a violência infligida era e é para sempre imperdoável, mesmo que os indivíduos pudessem ser e estejam a ser perdoados. Esta afirmação foi transmitida através de gerações, e nunca nenhum perpetrador a pôde roubar. Esta reivindicação começou no momento da despossessão.
O perdão, no sentido que aqui descrevo, não é um “acto de comunicação” entre aqueles que o pedem e aqueles que o concedem; não se trata de emitir as palavras certas que recompensarão os perpetradores com a graça das vítimas. Não é nem um termo abstracto, nem um “salto” de fé, decisão ou vontade, como alguns filósofos falsamente e arrogantemente argumentam. O perdão não se baseia no esquecimento do crime, nem é uma forma de renúncia à dor, saudade, raiva, frustração, ou o conhecimento íntimo de que a perda não pode ser recuperada. O perdão é, antes demais, trabalho: é o trabalho duro de traçar a linha do imperdoável antes mesmo de estar preparado para perdoar perpetradores individuais.
Tornar imperdoável a violência que foi institucionalizada como um desastre fabricado pelo regime imperial é o tedioso trabalho de recuperação do mundo. Só tornando os crimes imperdoáveis para sempre é que o mundo pode voltar a ser habitável. Para que os perpetradores ou os seus descendentes sejam perdoados, reconhecidos como pessoas com quem já não é uma fatalidade, uma ameaça e um perigo partilhar o mundo, os seus actos violentos ou os dos seus antepassados devem ser firmemente assumidos como não sendo mais possíveis e para sempre imperdoáveis. Não há lugar para explicações, razões, justificações, ou circunstâncias atenuantes no trabalho de perdão.
Para que os perpetradores participem no trabalho de perdão, devem estar sintonizados com as onto-epistemologias de reabilitação das vítimas. Estas têm pouco que ver com as políticas neoliberais, os organismos de conhecimento dos peritos e as intocáveis ideias de crescimento, lucro e progresso; é antes de mais, o trabalho regressivo de abrir todas as persianas, para que tudo o que foi quebrado possa ser atendido. Isto não é uma política de desculpas e perdão dirigida por políticos. Este é o tedioso trabalho de tornar o mundo apto a ser vivido em conjunto outra vez.
(…)
Só quando uma ordem onto-epistémica comum, na qual estes crimes sejam imperdoáveis, for acordada pelos descendentes dos perpetradores e das vítimas, é que o mundo pode deixar de ser vivido segundo linhas de diferença. Estas são as condições de reparação e de bem-estar.
O trabalho de perdão e reparação deve ser prosseguido independentemente da prontidão das vítimas. O perdão é o trabalho de tornar a vida na terra novamente sustentável. Por necessidade ou escolha todos aqueles que foram unidos pela violência continuam a partilhar o mesmo mundo, e por isso este trabalho deve ser prosseguido por todos, em coordenação ou não.
No mundo partilhado, o trabalho de perdão é ensaiado uma e outra vez e pode ser actualizado a qualquer momento. Nada pode ser considerado antecipadamente como suficiente e nada pode assegurar a sua conclusão. Que este trabalho seja prosseguido é já um sinal de que começar de novo – imaginando de outro modo – é possível.
Nota
Este pequeno excerto da obra Potential History: Unlearning Imperialism, de Ariella Aisha Azoulay (Verso, 2019) foi traduzido por Inês Beleza Barreiros para por ela ser lido no evento final do projecto ReMapping Memories Lisboa-Hamburg (https://www.re-mapping.eu/pt), a 28 de Maio de 2022, no Goethe Institute, em Lisboa.
A tradução brasileira da obra sairá em breve pela UBU editora.