A câmara e a nação: a criação de um país nos filmes de ruy duarte de carvalho
Entre 1975 e 1982, Ruy Duarte de Carvalho realizou uma série de filmes que retratam o processo de independência em Angola. Estes filmes destacam, entre outros temas, a celebração da independência, o povo Mumuíla (um grupo étnico angolano com muito pouca representação política) ou a experiência do colonialismo descrita por trabalhadores rurais angolanos. Neste ensaio pretendo analisar os filmes de Ruy Duarte neste contexto, examinando como a ideia de identidade nacional se articula na sua prática cinematográfica, e que estratégias o realizador usa para dar voz a diversos grupos até então silenciados pelo colonialismo português, imaginando assim um futuro para uma nova e independente Angola. Em 1984 o autor publicou em Luanda um pequeno livro intitulado O camarada e a câmara: cinema e antropologia para além do filme etnográfico, uma tradução da sua tese de mestrado de 1983 para a École des Hautes Études en Sciences Sociales, em França.100 Neste texto o autor nota que no território angolano convivem uma multiplicidade de culturas e vozes que, com a independência, devem fazer parte do processo de construção de uma identidade nacional. Os seus documentários pretendem dar voz a essa pluralidade de experiências, tanto rurais como urbanas, que contrastam com a versão oficial de nação promovida pelo governo angolano.
Aquando da independência, os estúdios da Televisão Popular de Angola (TPA) estavam praticamente prontos a funcionar, mas faltavam técnicos especializados para operar o equipamento. Luandino Vieira, que assumiu nesse momento a direção da TPA, trouxe de França técnicos do grupo Unicité para dar formação aos angolanos. Neste grupo vieram o engenheiro de som Antoine de Bonfanti, o diretor de fotografia Bruno Muel e o jornalista Marcel Trillat, todos eles colaboradores regulares de Godard e de Rouch e com vasta experiência na realização de cinema direto. Como notou Maria do Carmo Piçarra, “O cinema direto impunha‐se como aquele que podia traduzir a agitação política e a mobilização popular que se vivia” (Piçarra 2015, 107).
A formação de Ruy Duarte de Carvalho em antropologia influenciou não só a sua obra literária, mas também o seu cinema. Em O camarada e a câmara…, o autor explora a história do filme etnográfico em África, dando particular atenção às possibilidades de desenvolvimento deste género de cinema no continente, e à importância do cinema como instrumento da antropologia e da antropologia como ponto de referência para a criação de um cinema africano. Este texto, central para a compreensão dos filmes de Ruy Duarte, reflete sobre a importância do cinema na construção de uma identidade nacional no momento da independência.
Ruy Duarte começa por notar a importância da carta de Argel do Cinema Africano de 1975, adotada no Segundo Congresso da Federação Pan‐Africana dos Cineastas (FEPACI) que teve lugar na Argélia, e como as linhas de orientação desta vão ao encontro do enquadramento teórico da antropologia (Carvalho 2008, 393). Esta carta delineou três questões fundamentais que o cinema africano deveria sempre tentar responder: “Quem somos nós?”, “Como vivemos?”, e “Onde estamos?” (413). Como observa o autor, estas são as mesmas perguntas que um antropólogo deve ter em conta no seu trabalho científico. Tal como a grande maioria das nações em África, as fronteiras angolanas foram definidas por países europeus na conferência de Berlim, sendo Angola composta de uma enorme diversidade linguística, étnica e cultural (nove áreas linguísticas, quinze etnias diferentes). Um dos grandes desafios do novo país é, pois, criar uma ideia de nação com a qual todas estas populações se identifiquem. Normalmente, estas narrativas tendem a criar uma identidade unificada, esbatendo nessa tentativa as diferenças presentes num determinado território. No entanto, tanto os filmes como os textos de Ruy Duarte de Carvalho revelam a preocupação de dar conta dessa tamanha diversidade cultural, étnica e linguística do território angolano. Os filmes que realizou neste contexto pretendem mostrar um país heterogéneo, e fazer dessa heterogeneidade elemento fundamental da construção de uma narrativa de identidade nacional.
Neste contexto, a antropologia torna‐se um instrumento indispensável:
Numa situação como a de Angola tornada independente, quem é o actor principal? Seja qual for o regime que assume o poder num país que consegue afastar a dominação estrangeira, o discurso e a prática institucionais adoptam o conceito de “povo” como referência obrigatória de intenções ou de suporte. […] Conhecer e tratar esta realidade obrigará então a que se tome consciência das relações sociais que a tecem, dos papéis e da movimentação que nela assumem os próprios actores sociais. […] A 300 km do seu local de nascimento ou de aprendizagem da prática social, qualquer angolano se vê confrontado com dados culturais que lhe não são imediatamente apreensíveis”. (Carvalho 2008, 391)
Ruy Duarte salienta a grande desconfiança que os realizadores africanos têm em relação ao cinema etnográfico, e em particular aos filmes de Jean Rouch, porque estes tendem a exotizar o sujeito e as realidades africanas. No entanto, ele destaca a importância que Rouch teve em trazer um número considerável de africanos para o mundo do cinema e ao apoio que lhes deu nas suas produções (algo que também Manthia Diawara [1992, 24] realçou). Ruy Duarte defende que, em vez de se descartar, a priori, o cinema etnográfico, se deve ter em conta todas as suas práticas e possibilidades. Quando este tipo de imagens são produzidas por europeus, podem ser altamente problemáticas, mas se forem feitas por africanos podem oferecer abordagens completamente diferentes das do olhar estrangeiro e europeu que os filmes de Rouch tão bem exemplificam. O realizador lembra ainda que naquela época – os anos 80 – a antropologia estava a sofrer importantes transformações: por exemplo, os académicos europeus começavam a estudar as culturas europeias de um ponto de vista antropológico. Ruy Duarte acaba por concluir que em países tão jovens, como Angola, não é possível existir um cinema etnográfico, não porque seja incompatível com a construção de uma nova nação, mas porque a escassez de recursos, tanto humanos como técnicos, não o permite. Desta forma, um realizador africano precisa dos instrumentos facultados pela antropologia, mas não se pode circunscrever a estes, já que um dos seus objetivos mais importantes deve ser atingir o maior público possível – angolano, de preferência.
Aquando da independência, existiam ainda em Angola comunidades nativas que tinham tido pouco contacto com os portugueses, e que tinham conseguido preservar a sua cultura, como o povo Mumuíla (do grupo étnico Nyaneka‐Humbe), cuja experiência era bastante distinta da das realidades urbanas do país. Um dos projetos mais importantes do cinema de Ruy Duarte, logo após a independência, foi representar os Mumuíla através de uma série de dez filmes, intitulada Presente angolano, tempo mumuíla. O próprio título problematiza desde logo o conceito de modernidade, que é frequentemente confundido com ocidentalização. Os filmes do realizador tentam desconstruir essa oposição, valorizando de forma igual as culturas rurais e urbanas. Esta série de documentários não exotiza os Mumuíla, tentando antes iluminar uma outra cosmovisão, que, sendo diferente, não é representada nem como inferior nem como superior a outros modelos culturais encontrados no território africano.
No entanto, é preciso desde já notar uma importante contradição: a ideia de nação que Angola adota em 1975 é uma ideia extrínseca ao continente africano. Como destacou Benedict Anderson no seu livro Imagined communities, a ideia que hoje temos de nação nasceu nas revoluções latino‐americanas e foi depois adotada pelos países europeus, tendo tido um papel fundamental no projeto colonial. Ruy Duarte, nas respostas a um inquérito da revista italiana Lo Straniero sobre literatura e memória em Angola, aponta para a problemática do passado colonial como estruturante das novas nações africanas:
A memória do passado colonial será, em todos os casos de figura, e muito particularmente a partir das suas inevitáveis reelaborações e reformulações – que são obrigatoriamente trabalho de elites e logo assim nelas cabendo também a literatura e as outras artes modernas – uma memória de conflito, do conflito. A memória do passado colonial tenderá mesmo a constituir‐se, por esta via, como memória estruturante. É o conflito colonial que estrutura, justifica e legitima o devir dos estados‐nação que a colonização produziu, por mais decepcionante e conflituoso que ele venha a revelar‐se, e o poder fará tudo ao seu alcance para que assim seja e continue a ser. (Carvalho 2008, 71)
Um dos maiores desafios de Angola no processo de independência era então criar uma ideia de união nacional com a qual se identificassem todos os seus cidadãos, apesar da heterogeneidade das suas realidades culturais e linguísticas. A insistência numa identidade nacional homogénea acabou por promover a rasura da heterogeneidade étnica, cultural e linguística angolana, principalmente quando essa heterogeneidade ameaçava de alguma forma o poder instituído. Este tema tornou‐se assim central no cinema angolano (e, já agora, no cinema moçambicano) da segunda metade dos anos de 1970. Ruy Duarte não era de todo alheio a esta problemática, e o seu cinema, mais do que tentar resolvê‐la, assume a tarefa de a expôr e de a incluir como constituinte da(s) identidade(s) angolana(s), em vez de a(s) tentar apagar em nome de uma unidade fictícia.
A visão que Ruy Duarte tinha para o seu cinema acabava por chocar com o projeto de cinema nacional promovido pelo governo angolano, que passava por criar uma “arte indústria cinematográfica”, como notou Luandino Vieira:
Era para ir devagarinho. Eu sei que fui muito apressado, fui voluntarista. A gente queria fazer tudo naquela altura. Queria ter logo tudo. Mesmo assim, ainda tive a paciência de ir buscar os técnicos em Paris. Não era uma brincadeira e se calhar esse foi o mal. Aliás era essa a crítica fundamental do Ruy e do Ole: “Pensaram nas estruturas em vez de nos dar esse dinheiro e a gente fazer o cinema. Cinema é o que nós fazemos.” Eu disse: “Está bem, para ti é, e para o Ole evidentemente que é, a realização pessoal, mas eu não estou a fazer um cinema para o Ole, Ruy, Asdrúbal, Xuxo, Gouveia. Isto é para o nascimento do cinema angolano. A nossa literatura começou no século XIX ou no século XVII, não sei muito bem. E o cinema há‐de começar.” (Levin 2015, 96)
Luandino Vieira confirma pois que existiam duas visões diferentes para o cinema nacional: a da TPA, apoiada pelo governo de então, que queria criar uma estrutura similar à do Instituto Nacional de Cinema em Moçambique, com um projeto cinematográfico mais focado em promover o projeto político do MPLA, relegando para segundo plano as visões individuais de cada realizador; e a dos vários realizadores envolvidos no projeto, cada um deles com o desejo de fazer um cinema autoral que não estivesse submetido a regras impostas pela TPA e em que os realizadores gozassem de total liberdade para desenvolverem os seus filmes. Consequentemente, o trabalho de Ruy Duarte nem sempre se coadunava com a conceção de cinema preconizada pela TPA, e isso ia muito além da questão da liberdade artística: a própria ideia de nação do governo chocava com a visão de diversidade nacional do realizador.
No mesmo inquérito da revista italiana Lo Straniero, Ruy Duarte fala da sua tentativa de tentar trazer à luz outras memórias nacionais que nem sempre coincidem com a memória das elites nacionais:
É essa a configuração que pretende ter‐se em conta quando se refere uma “cultura da memória determinante para a cultura do país”? Nesse caso estaríamos antes a falar de “uma política cultural” que se traduziria mais por um processo de aculturação, dinamizado pelas instâncias de domínio e exercido sobre as memórias colectivas parcelares, mais como um quadro admitido de assimilação do que como a garantia de um espaço de revelação para as memórias individuais ou colectivas que integram o território de um país carente de uma memória histórica comum a toda a “nação”. (Carvalho 2008, 72)
A obra de Ruy Duarte pretende, pois, contrapor os processos de aculturação e assimilação que discursos de uma uniformização nacional direta ou indiretamente acabam por promover. Para o autor, o projeto de uma Angola e sua memória constrói‐se a partir do cruzamento de diversas memórias:
tenho cruzado as memórias dos grupos, e tenho‐as cruzado com a minha, enquanto elas mesmas se cruzam entre si e é daí que se há‐de urdir a nação, essa nação de que todos nós, institucionalmente Angolanos, precisamos para poder pensar, para poder recordar e até para poder comungar de lembranças. (2008, 73)
O cinema da independência de Ruy Duarte parte já deste pressuposto, tentando dar conta das diversas memórias e cruzá‐las entre si.
A série de filmes Presente angolano, tempo mumuíla revela a mundivisão de um grupo que costuma estar ausente dos discursos oficiais da identidade angolana. O presente angolano é o da independência, mas dele não fazem só parte as celebrações que se vivem em Luanda, e que podemos ver em filmes como Uma festa para viver ou até mesmo Faz lá coragem camarada. O título Presente angolano, tempo mumuíla inscreve os Mumuíla no presente nacional, contrariando toda a narrativa colonial que até aí descrevia estes povos como retrógrados ou não civilizados. Esta série, filmada no Sudoeste do país, no deserto do Namibe, é constituída pelos seguintes filmes: “A Huíla e os Mumuílas”, “Lua da Seca Menor”, “Ofícios”, “Kimbanda”, “Pedra Sozinha Não Sustém Panela”, “Makumukas”, “Hayndongo: o Valor de um Homem”, “Ekwengue” e “Ondyelwa: Festa do Boi Sagrado”. Destes filmes tive apenas acesso a “O Kimbanda Kambia”, “Kambia”, “Pedra Sozinha Não Sustem Panela” e “Ondyelwa: Festa do Boi Sagrado”.
Os filmes que pude ver abrem com um mapa de Angola localizando a província de Huíla, seguido de um outro mapa da província onde se identifica a localidade de Jau ou de Chibia, consoante o local da filmagem. O uso de mapas ilustra a necessidade de reforçar a imagem geográfica da nação, uma vez que o território era desconhecido para a maioria da população, precisando por isso de ser exemplificado visualmente. Por outro lado, o uso de mapas era já um recurso frequente nos documentários e os jornais cinematográficos coloniais, o que indica uma certa continuidade visual. Os angolanos que tinham tido contacto com o cinema antes da independência tinham visto de certeza os filmes coloniais e o uso de recursos visuais similares facilitava assim que o espetador pudesse acompanhar a narrativa visual do filme. Embora houvesse uma certa continuidade em termos de linguagem visual, os filmes de Ruy Duarte de Carvalho rompiam claramente com os temas e a mensagem política do cinema colonial. Presente angolano, tempo mumuíla pretendia então representar uma nação heterogénea, promovendo a unidade nacional através dessa mesma multiplicidade.
“O Kimbanda Kambia” (40’) de 1976, é um ótimo exemplo de como o cinema de Ruy Duarte tenta conciliar duas cosmovisões distintas sem cair na armadilha de criar hierarquias entre elas. Neste filme o realizador entrevista o Kimbanda, ou curandeiro, de uma aldeia, onde este explica os métodos curativos que costuma usar e que se destinam a tratar epilepsia, loucura, possessão, etc. Num segundo encontro com o Kimbanda, o realizador e a sua equipa fazem‐se acompanhar do Dr. Africano Neto, médico psiquiatra em Luanda, que dialoga com o Kimbanda e explica à equipa as diferenças entre medicina tradicional africana e medicina ocidental. O Kimbanda diz que se especializa em doenças do espírito e que, quando não consegue curar doenças do corpo, encaminha os seus pacientes para o hospital. Em vozoff, alguém lê um texto de investigação científica que fala da importância de incorporar na medicina ocidental os conhecimentos das diversas medicinas tradicionais, dando maior relevo ao aspeto fitoterapêutico destas (i.e., o uso de plantas medicinais). Por outro lado, o Dr. Neto afirma que o Kimbanda não age apenas a nível fitoterapêutico, mas também a nível ritual, transcendental, psicológico e biológico. Neste sentido, o conceito africano de doença é muito diferente do ocidental, que se foca no modelo biológico da doença, enquanto que nas sociedades africanas é muito importante a posição de cada indivíduo dentro do grupo, sendo a sua doença um problema coletivo. Enquanto que na medicina ocidental o médico não comunica com o paciente, na medicina mumuíla o kimbanda centra‐se nessa comunicação com o indivíduo e com a comunidade em que este está inserido, conciliando‐os e trazendo a ordem à sociedade. O filme conclui com uma pergunta da equipa de realização ao Dr. Neto sobre a possibilidade de integrar o kimbanda na medicina moderna (sic), a nível nacional. O psiquiatra nota que sim, que tal integração é possível, mas que é importante ter em conta que se tratam de dois modelos medicinais muito diferentes. O modelo de doença africano é essencialmente psicossomático, e por isso o kimbanda há‐de ter importância por muito tempo. O Dr. Neto conclui que o maior obstáculo à integração da medicina tradicional com a medicina ocidental é definir quem é o verdadeiro kimbanda. Desta forma, “O Kimbanda Kambia” ilustra a coexistência de duas visões da medicina bastante diferentes e, se por um lado aponta as vantagens de as unir, por outro nota as dificuldades em o conseguir.101
Em “Pedra Sozinha Não Sustém Panela” o principal tema do documentário é o confronto entre duas visões do mundo: a dos mais‐velhos de Jau e a dos estudantes da Faculdade de Letras do Lubango, capital da província de Huíla. O filme abre com um dos mais‐velhos a contar para a câmara como é que, segundo a tradição mumuíla, o mundo foi criado. No fim da narrativa, o mais‐velho nota que as novas gerações não mostram interesse pelas tradições antigas, rindo‐se das suas histórias e rejeitando a sabedoria mumuíla. A cena seguinte apresenta o grupo de estudantes do Lubango, que comentam o testemunho deste mais‐velho. Um dos estudantes critica o misticismo, notando que este ajudou a cimentar as divisões económicas angolanas, e insiste que os africanos precisam de entender as coisas de uma forma científica, material – numa clara alusão ao materialismo histórico marxista. Outro dos estudantes, nascido e criado numa aldeia mumuíla, contrapõe esta crítica defendendo a riqueza do conhecimento tradicional. Ele nota que este deve ser estudado e que ciência e tradição devem ser conciliadas, criticando o facto de os mais novos não ouvirem os mais velhos, em grande parte devido à influência europeia em Angola.
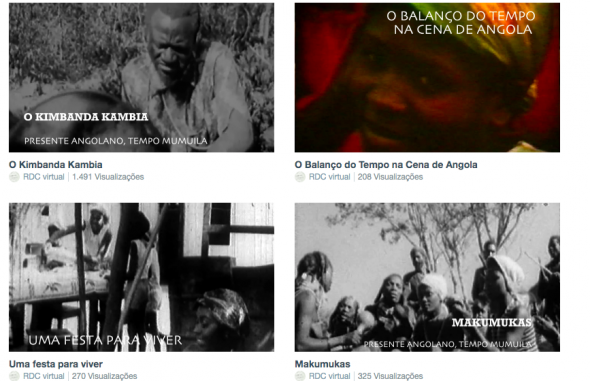
Os estudantes discutem ainda o problema da aculturação: um deles defende que esta é uma síntese dos valores africanos e europeus, sendo por isso impossível dissociá‐los. Um outro aluno vê a miscigenação como traço definidor da cultura angolana, realçando que esta não se deu apenas através do contacto entre portugueses e angolanos, mas também através do contacto entre as diferentes culturas africanas que coexistem em Angola. Um outro estudante conclui: “Tu queres dizer que não há culturas puras, é isso que tu queres dizer?” Esta pergunta é seguida de um raccord para os mais‐velhos na aldeia: é agora a vez destes comentarem o testemunho dos estudantes.
Os mais‐velhos observam que as duas visões do mundo, a deles e a dos estudantes, são bastante similares, sendo que os estudantes tiram dos livros aquela ciência que eles tiram das suas tradições. Ressaltam ainda que não confiam apenas na divina providência, e que para eles o que faz evoluir o mundo são três coisas: a chuva, a força do homem e a ajuda do governo. O filme fecha com imagens de uma charrua de bois, a lavrar a terra, e uma enxada a cavar o solo. A câmara continua com um travelling desde um riacho para uma árvore, para finalmente revelar duas gruas e algumas casas em construção. Neste último plano, o realizador faz a síntese visual da conciliação entre ciência e tradição sugerida pelos alunos e pelos mais‐velhos.
“Pedra Sozinha Não Sustém Panela” apresenta assim uma importante discussão sobre a nação angolana: como criar uma identidade nacional conciliando a diversidade cultural do país. Ruy Duarte fá‐lo precisamente através do cruzamento das diversas memórias dos vários grupos, mostrando que “cada memória individual é um ponto de vista sobre uma memória colectiva” (Carvalho 2008, 73). O título deste documentário aponta precisamente para essa necessidade de colaboração entre os diversos grupos, já que uma pedra sozinha não pode suster a panela sobre a fogueira. É importante notar que os mais‐velhos falam em Nyaneka‐Humbe e os estudantes em português e francês. As línguas parecem coexistir pacificamente, com a vozoff traduzindo discretamente para português as outras línguas. Outro ponto interessante deste filme é que a interação entre estudantes e mais‐velhos se dá mediada pela câmara – os grupos nunca se encontram pessoalmente, comentando os segmentos do filme que lhes vão sendo apresentados. Desta forma, o cinema cumpre a sua missão de cruzamento de memórias coletivas nacionais, servindo de emissário entre os dois grupos, aproximando‐os até quando vivem a quilómetros de distância uns dos outros. É também a câmara que cria a possibilidade de um diálogo mediado que resulta na síntese de duas visões do mundo, sem impor hierarquias ou juízos de valor ao longo do processo. A câmara de Ruy Duarte de Carvalho cria aqui a imagem de uma nação unida na sua diversidade, capaz de lidar com diferentes perspetivas e chegar a acordo através do diálogo.
“Ondyelwa: Festa do Boi Sagrado”, com a duração de 44’, regista alguns aspetos das cerimónias ao boi sagrado que tiveram lugar nos dias 26, 27 e 28 de Julho de 1978. O filme conclui com uma nota sobre as tensões entre tradição e progresso: na última cena o rei realiza um pequeno discurso, declarando que a festa será “a expressão de um poder em decadência”, e salienta que, com a situação geopolítica de então, o poder local atinge os seus limites. Em vozoff, o filme termina com a seguinte nota: “Perante a marcha do tempo e a progressiva conquista dos objetivos nacionais, a Ondyelwa não poderá deixar de, a certo prazo, acabar por assumir, quando muito, um caráter meramente folclórico, despojado de significado, que embora com dificuldade, ainda se esforce por conservar”. Note‐se ainda que esta série de filmes é uma exceção por se focar em contextos rurais, já que a maioria, não só do cinema mas também da literatura pós‐independência tem como pano de fundo contextos urbanos. Presente angolano, tempo mumuíla resulta também da necessidade de registar uma série de tradições que correm o risco de desaparecer, mas o realizador nunca romantiza o passado. Ruy Duarte de Carvalho reconhece que a coexistência de diferentes tempos e de diferentes formas de conhecimento é a condição natural do progresso histórico. O registo das tradições serve de memória histórica e nacional, e a nação angolana resulta do cruzamento de todos esses tempos e culturas.
Se a série de documentários Presente angolano, tempo mumuíla se concentra no registo dos modos de vida dos mumuíla, existem outros documentários que têm como objeto as populações urbanas. Exemplo disso é Uma festa para viver, realizado em Luanda em 1975, nas duas semanas que antecederam a celebração da independência de Angola, a 11 de Novembro. A equipa vai entrevistando vários cidadãos ao longo dessas duas semanas, e documenta como cada um se está a preparar para celebrar a independência, e quais as suas emoções e reflexões acerca da data que se avizinha. A segunda parte do filme mostra as celebrações que tiveram lugar no dia 10 de Novembro, e o hastear da bandeira angolana à meia‐noite do dia 11, acompanhado pelo discurso de Agostinho Neto. Todo o filme denota um tom eufórico de celebração, apesar da ameaça de guerra à entrada de Luanda. O uso da vozoff é um recurso importante neste filme, em particular no início do documentário, quando anuncia a festa que está prestes a ter lugar, refletindo sobre a sua importância histórica. A vozoff declara que a independência está a dar a Angola o direito à História. De facto, ter direito à História é ter o direito à auto‐representação e à criação de narrativas identitárias sobre si mesmo. O cinema era, para Ruy Duarte de Carvalho, um importante veículo para a construção da história e da cultura angolanas, já que permitia uma série de possibilidades de representação. Até ao momento da independência, todos os angolanos estavam sujeitos a uma posição subalterna, sendo representados no grande ecrã de forma sistematicamente negativa, ou completamente apagados. Uma festa para viver vai para além do registo histórico – e etnográfico – do momento da celebração da independência, como o próprio título indica: a festa deve ser, antes de tudo, vivida, o que denota uma vontade do filme de ir além da mera representação da realidade e agir sobre esta. Isto é, o cinema participa na história angolana, constrói‐a, vive‐a. Neste sentido, trata‐se de um cinema militante.
O último documentário que terei oportunidade de aqui analisar é Como foi, como não foi, de 1977, filmado na região de Tibala, numa aldeia chamada Balaia. Vários habitantes mais‐velhos contam à câmara como era a sua vida durante o regime colonial, e os abusos e a exploração a que eram submetidos. Embora durante os anos 40 e 50 a escravatura fosse já ilegal no império colonial português, estes homens descrevem práticas não tão distantes de formas de exploração associadas à escravatura, como por exemplo no que respeita a castigos corporais infligidos aos trabalhadores. Enquanto ouvimos os relatos, os mais jovens teatralizam o que está a ser contado. Desta forma, o realizador inclui toda a população no filme, mesmo os que são demasiado novos e não viveram o que está a ser contado. Por outro lado, os mais novos, ao teatralizarem o que os mais velhos contam, vão construindo uma memória histórica do passado da aldeia. Desta forma, a câmara de Ruy Duarte de Carvalho serve duas funções: a de registar os testemunhos da exploração colonial e a de educar os mais jovens. É também importante salientar que, neste documentário, a câmara de Ruy Duarte escreve a História não tanto através da criação de grandes narrativas nacionais (o que até certo ponto está presente em Uma festa para viver), mas antes através dos testemunhos individuais de cidadãos angolanos do povo, que até aí tinham sido silenciados. A pluralidade de histórias individuais facilita a construção de uma noção heterogénea de identidade nacional, e retrata Angola como uma sociedade plural em que coexistem diferentes tempos, línguas e culturas.
A escolha do formato de documentário para os seus filmes permite a Ruy Duarte de Carvalho dar voz aos que até então tinham sido silenciados pelo colonialismo, e estes podem pela primeira vez falar na primeira pessoa. O realizador quase não intervém nos testemunhos dados, e o uso da vozoff é reduzido ao mínimo, servindo sobretudo para adicionar informação que possa não ser do conhecimento do espectador. Este procedimento é o oposto dos documentários coloniais, em que uma vozoff autoritária domina a imagem e diz ao espectador que conclusões tirar do que vê. No entanto, importa salientar que a figura do realizador não é transparente nos filmes aqui discutidos. No seu ensaio “Can the Subaltern Speak?”, Gaiatry Spivak acusa Foucault e Deleuze de nos seus textos tornarem invisível a figura do intelectual, o que, em vez de dar voz ao sujeito subalterno, acaba por reforçar muitas das estruturas de poder que eles criticavam. Embora Spivak conclua que o subalterno não pode falar, ela insiste que cabe ao intelectual dar‐lhe voz tendo sempre a consciência de que essa voz é inevitavelmente mediada por ele. Ela sugere que se adote a máxima de Gramsci que apela ao pessimismo do intelecto aliado ao otimismo da vontade – e que não está muito longe do desejo do realizador de “estabelecer uma delicada zona de compromisso entre quem fornece os meios, quem os maneja e quem depõe, se expõe perante os mesmos” (Carvalho 2008, 391, grifo meu).
Ruy Duarte de Carvalho parece estar nos trilhos desse intelectual idealizado por Spivak: nunca apaga o seu papel de mediador dos sujeitos dos seus filmes, ao mesmo tempo que o género do documentário lhe permite minimizar a distância entre o espectador e os sujeitos desses filmes. Spivak também alerta o seguinte: “one must nevertheless insist that the colonized subaltern subject is irretrievably heterogenous.” (2010, 38) Tal heterogeneidade, como já vimos, é central para a conceção de nação angolana preconizada por Ruy Duarte de Carvalho. É importante salientar que estes filmes, que dão voz a sujeitos silenciados pelo colonialismo, são feitos no momento da independência, quando os angolanos têm finalmente a oportunidade de falar – e os documentários de Ruy Duarte criam essa possibilidade. Como nota Spivak,
When a line of communication is established between a member of subaltern groups and the circuits of citizenship or institutionality, the subaltern has been inserted into the long road to hegemony. Unless we want to be romantic purists or primitivists about ‘preserving subalternity’ – a contradiction in terms – this is absolutely to be desired. (2010, 65)
Convém ainda salientar que Ruy Duarte escreveu extensamente sobre todo o seu processo cinematográfico, problematizando nesses textos o papel não só do realizador, mas também do antropólogo e do intelectual em geral. Ele estava ciente dos desafios e dos problemas que podem surgir quando se tenta representar grupos que a história sistematicamente silenciou. É aqui que a Antropologia pode desempenhar um papel importante, dando ao realizador instrumentos que lhe permitam evitar manipular ou silenciar os testemunhos recolhidos. Para conseguir representar de forma justa as camadas da população a quem é sistematicamente negada a possibilidade de fazerem ouvir a sua voz, é essencial que o intelectual – neste caso, o realizador – esteja consciente do seu papel, do seu lugar, das suas ideologias e pontos de vista, uma vez que sendo ele o mediador, os que por ele são representados estão sempre vulneráveis a uma possível agenda do realizador. Só assim conseguirá estabelecer uma delicada zona de compromisso.
Bibliografia
Anderson, Benedict. 2006. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Londres: Verso.
Carvalho, Ruy Duarte de. 2008. A câmara, a escrita e a coisa dita…: fitas, textos e palestras. Lisboa: Cotovia.
Diawara, Manthia. 1992. African cinema: politics & culture. Bloomington: Indiana University Press.
Levin, Tatiana. 2015. “Dos filmes dos pioneiros aos ‘realizadores da poeira’: que cinema angolano?” In Angola: o nascimento de uma nação. Volume III. Maria do Carmo Piçarra e Jorge António (ed). Lisboa: Guerra & Paz.
Spivak, Gayatri Chakravorty e Rosalind C. Morris. 2010. Can the subaltern speak?: reflections on the history of an idea. Nova Iorque: Columbia University Press.
Piçarra, Maria do Carmo. 2015. “Ruy Duarte: um ‘cinema de urgência’ para resgatar Angola do ‘hemisfério do observado’”. In Angola: o nascimento de uma nação. Volume III, Maria do Carmo Piçarra e Jorge António (ed). Lisboa: Guerra & Paz.
____________
in Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho (2019), Marta Lança et all (org), Lisboa: BUALA - Associação Cultural I Centro de Estudos Comparatistas (FL-UL). ISBN: 978-989-20-8194-6