“Depois de Marte”
A Morte esconde / na sombra das cordas vocais / algum silêncio…
O livro abre assim, diria eu, em jeito de conclusão anunciada. A Morte esconde na sombra das cordas vocais algum silêncio, aponta, desde logo, ao lugar onde a leitura deste livro nos irá deixar: aquele lugar onde o que é dito apenas é dito para que algo fique por dizer. Refiro-me tanto ao que é a forma poética, como ao que surge como prosa, ficção ou jornalismo. A opção editorial de colocar no mesmo livro a obra poética e as peças jornalísticas põe a nu, simultaneamente, a força e a insuficiência da palavra. A força, porque a palavra é o que faz explodir a realidade, o que lemos é o que passamos a saber; a insuficiência, pela sede com que ficamos no fim de cada poema, no fim de cada notícia. E se o poema se refugia na sombra, no silêncio, a notícia põe tudo em cima da mesa, sem, ainda assim, se tornar real. É um jogo entre o que foi escrito para os outros (jornalismo) e o que é um diálogo interno (poesia) ― com ambas dimensões a convergir numa nova ferida. Com o poema, o mundo dói-nos / da palavra / e morremos por isso. É com o poema que Maria João nos atira para a volúpia da poeira / que cola o sangue aos soldados, e a partir dele, estamos, também nós, colados, sujos, mesmo feridos, para que cheguemos ao noticiário cientes de que há algo para além da estatística, da geopolítica, da complexidade, das facções. Há, também, e sobretudo, as ficções. Chegamos aos factos já cravejados de sombras, já a tremer da voz, cheios de medo. Mas não nos enganemos. Não é da guerra que temos medo, desta guerra que lemos, e que, aparentemente, se arquivou nos anos 90. Não, o nosso medo é que Um dia alguém vai olhar e ver-me como sou / a comer os raios das estrelas, essa espécie de espelho que nos coloca num frente-a-frente com o maior dos adversários e que prossegue com raiva para que não tenham dó / de como sói dizer-se, superficialmente, enredeada no próprio medo de mim… Somos nós, perante a poesia, num lugar novo onde a autora nos prepara e recebe. Oferece-nos o seu medo para que lhe juntemos o nosso. As pistas vão sendo lançadas: é mentira que sejamos capazes sozinhos, escreve. O que era eu / antes de repartir-me assim / e antes de perder meu sangue / quando procurei por mim. O que somos nós, Maria João, senão as palavras que escrevemos, à nossa procura?
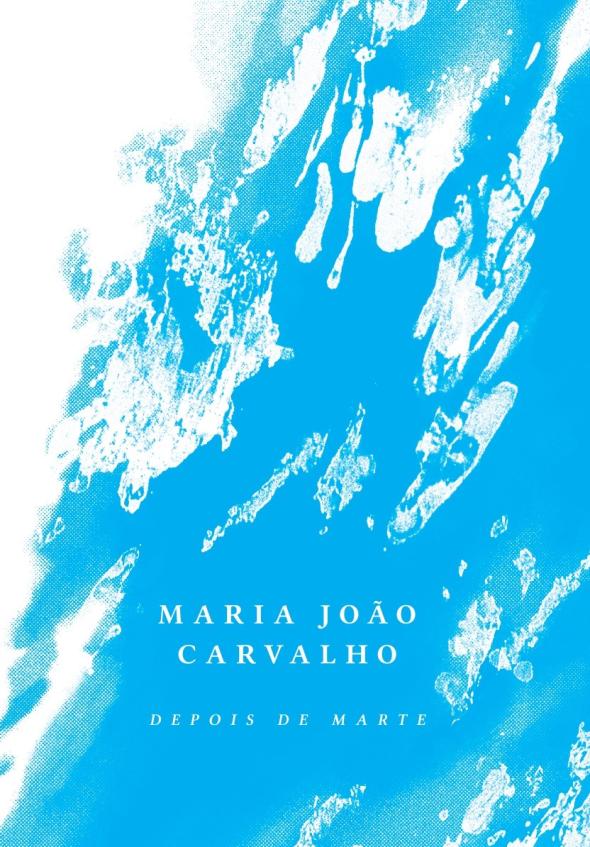
A poesia de Maria João Carvalho não faz de nós voyeurs, não nos faz ver beleza na violência e na morte. A sua poesia agarra-nos, sim, mas pelo facto de desenhar imagens que nos ferem, que nos envolvem na dor, rejeitando-a; na violência, experimentando uma espécie de desconforto; na guerra, antecipando o medo da noite. A escrita tem essa capacidade de, ao longe, nos tocar. Trata da imaginação, um termo nem sempre bem compreendido. Susan Sontag, que também visitou Sarajevo e escreveu sobre essa guerra (“Olhando o sofrimento dos outros”), teorizou sobre a estetização da guerra. Da forma como os jornalistas e fotojornalistas se terem, de alguma forma, “apaixonado” pelos cadáveres que fotografavam e enviavam para os jornais como troféus mediáticos. Mas se este texto de Sontag é um ensaio não só possível como justo, não encerra em si uma resposta completa. Sim, a forma como essas imagens nos chegam, ainda hoje, de todas as guerras, cruas, extremas, totais, constroem um plano de entendimento da guerra que se aproxima da pornografia, onde o sexo é visto sem restrições, é limpo de qualquer sombra e mistério, é uma atenção que dispensa a atenção, um olhar que dispensa o trabalho e que, no limite, cansa do próprio sexo. E tudo aquilo que descura o desejo, torna-se irrelevante. É o que parece acontecer com todas as imagens que nos chegam das guerras. Tornaram-se momentos irrelevantes entre as subidas das taxas de juro e a rubrica desportiva. Sontag, termina esse grande ensaio cometendo, no meu entender, um erro colossal. Diz ela:
Nós” — esse “nós” é qualquer um que nunca
passou por nada parecido com o que eles sofreram —
não compreendemos. Nós não percebemos. Não
podemos, na verdade, imaginar como é isso. Não
podemos imaginar como é pavorosa, como é aterradora
a guerra; e como ela se torna normal. Não podemos
compreender, não podemos imaginar.
Um erro porquê? Porque o que temos de compreender é o oposto desta desistência. Temos que perceber que o nosso dever é imaginar. Que a imaginação é um trabalho e não um objecto. Um meio e não um fim. É um labor. O que este livro da Maria João faz é, precisamente, ajudar-nos nesse exercício difícil, doloroso, frustrante e, sim, sempre insuficiente, que é imaginar. Porque a imaginação é a principal ferramenta de entendimento do outro, tão mais fundamental quão mais distantes estamos dessa outra entidade. É o que medeia cada mundo individual. E mesmo insuficiente, como disse, é a partir da imagem que tudo nasce.
Daí chegarmos a este ponto fundamental: a escrita como lugar de reunião. O momento em que as palavras deixam de pertencer ao autor e passam a fazer parte de um fluxo exterior a todos, e que todos alimenta, resvalando nas fendas de cada leitor. As imagens brotam no contacto do leitor com a palavra. Eu, que nunca estive na Guerra, aprendo com ela. Aprendo a temê-la e a condená-la. Aprendo com aquilo que Maria João Carvalho e outros heróis, arrancaram duas vezes à coragem: a coragem de ir e a coragem de voltar, escrevendo. Porque se trata de coragem, escrever. Não falo de qualquer tipo de síndrome do super-herói ― porque quem admite que está doente de ansiedade de fazer mais / do que na verdade importa, percebeu há muito que nunca se vem mais rico da guerra. Como dizia um filósofo das imagens, o que se passa de uma geração à outra são os silêncios, como das guerras restam senão os traumas silenciosos. Se me entretenho a reinventar cowboys / é apenas porque morri / com aquele menino de Sarajevo, diz-nos outro poema. E nós morremos também com ele, e com Alan Kurdi, o menino sírio que deu à costa numa praia da Turquia, com as 14 mil crianças que se estima já terem morrido em Gaza. Todos morremos várias vezes quando morre uma criança. Porque a criança é a potência da imagem por cumprir. Quando morre uma criança morre uma hipótese de mundo. A criança é o poema. A criança é esse símbolo sem pátria, porque carrega em si tudo o que é possível. Volto à Maria João: Devo ser apátrida / porque se / morrer é repatriar-se / e eu já morri tantas vezes / sem dar conta de onde morasse / voltando a outros lugares / de um mundo com tantos revezes! A pátria é um lugar inventado, não existe. Ou melhor, existe como existem todas as palavras e todos os mitos. A pátria é um mito que deve ser continuamente actualizado para que seja mais uma criança viva e menos uma fronteira ou um traço vincado num mapa. Que seja mais uma actualidade do que uma tradição de armas. Que a pátria desista primeiro de si, do que das vidas que diz honrar. Que seja antes um texto escrito em várias línguas e credos, e cujas raízes se envolvam na estantes, viajando como ficção, sem se fixar na facção. Que seja um lugar onde saibam viver os vivos, onde se possa Amar Amar Amar Amar, sem que se morra da palavra.
Termino esta minha primeira leitura do livro “Depois de Marte”, intuindo no título um trajecto. Um trajecto que se iniciou nesta cidade da Figueira da Foz, e que percebeu que o destino é impossível de prever. Percebeu que ao menos Marte não é a Morte, que há sempre um depois do mundo, para além do real ― o da imaginação, entenda-se. Que há sempre outra vogal que abre uma nova palavra e salva o mundo. Acabo assim, em jeito de adivinhação, porque não dormi a pensar no que estará para além do meu sono, depois de mais uma fronteira que o livro abriu, com a inteligência de quem escreve que A guerra não foi essa… / foi pensar apenas / que sabia viver. Será essa a maior virtude deste livro: a capacidade de nos dizer, sem nos dizer, o quanto da guerra está em não sabermos como viver. Deixo-vos com uma hipótese dada, talvez, pela própria autora e que poderia dispensar todo o tempo que vos tomei. Que resume, na confissão de uma alma errante, que a força da escrita, da palavra, da imagem, reside na abolição das fronteiras ou, melhor, no arco em esforço da imaginação: Hoje sou daqui / ontem fui de longe… / Quero-me assim / segundo a segundo / ponte / sempre ponte.
Maria João Carvalho nasceu a 24 de junho de 1961 e foi repórter de guerra em Angola, na Croácia e na Bósnia, primeiro para a RTP, RDP, Diário de Notícias e Tal & Qual e, depois para a SIC, Renascença e Diário de Notícias. Foi jornalista na Lusa, EuroNews, no Macau Hoje, RGT-Rádio Gest e correspondente do jornal Expresso das Ilhas de Cabo Verde; colaborou com a revista Homem Magazine, com a revista do Instituto do Emprego e Formação Profissional e com jornais regionais de todo o país. É fundadora da Associação Portuguesa de Jovens Jornalistas. Expôs fotografias de guerra em Macau, em Portugal continental e nos Açores e pinta a acrílico. Publicou o livro Da guerra e outros poemas (GRESFOZ, 1997) e os contos A Cobra e UMA na Coletânea Gabravo (Artdomus, 2002). Maria João Carvalho também assina como Janine de Medeiros.
Publicamos agora diários e poemas que correspondem a geografias e coordenadas diferentes mas fica a sensação de que pode ser sempre o mesmo lugar: Sarajevo, Palestina, Ucrânia, Angola… Os lugares onde Maria João Carvalho esteve e onde não esteve misturam-se na ideia de que a iminência da guerra é mais voraz que o receio ou o descaso que podemos ter em relação àquelas que aconteceram, às que acontecem agora ou às que acontecerão com ou sem avisos prévios. A paz é preciosa e é preciso ser cuidada: como o amor ou a temperatura de um chá ou a partilha de um qualquer biscoito. Os diários de guerra de Maria João Carvalho constituem um importante documento histórico-político e são um murro – vários murros! – no estômago. Os poemas são o contraciclo dos diários – a luz é a reminiscência, o que da guerra vem impresso na carne e a que não se consegue renunciar. O lastro do ódio reluz e trazêmo-lo estampado na pele, porque somos todos carne da mesma carne.
Cátia Terrinca e Ricardo Boléo