Heterobiografia e Artes Visuais: a estreia de Paulo Faria
A obra de estreia de Paulo Faria, Estranha Guerra de Uso Comum, é um romance híbrido com um ímpeto invulgar no desenvolvimento dos géneros que toca. Até agora conhecido pelas suas excelentes traduções de grandes romancistas de língua inglesa, contemporâneos (Cormac McCarthy, Don DeLillo) e clássicos (Dickens, Orwell), Paulo Faria escolhe para tema autoral a revisitação da guerra colonial que, não tendo vivido, reconhece como um momento de radical mudança para um pai a quem fez poucas perguntas e com o qual se quer agora confrontar, juntamente com seus demónios entrincheirados. Com esta premissa se tece uma espécie de ficcionalização heterobiográfica: ficção porque, embora o autor e narrador tenham circunstâncias comuns, como serem tradutores e filhos de pais médicos que serviram como oficiais milicianos em Moçambique, a distância dos nomes e episódios reduz porventura os danos colaterais da autodescoberta, ajudando a manter o enredo livre de pressões; heterobiográfico porque não só o narrador se projeta na vida paterna como a reconstrução desta aparece afinal refratada pelas histórias de vários camaradas de campanha do pai, ocupando a voz de cada um deles um capítulo desta obra. São, ao todo, dez depoimentos, com modos distintos de caracterização discursiva, atestando porventura o bom ouvido do tradutor. Com estas dez vozes, aliando o romance de investigação, ou ficção documental, ao género memorialista, alternam capítulos reflexivos onde o sujeito se desvenda, no presente suspenso do luto.
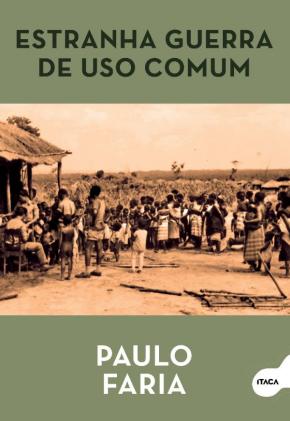 Convidada a apresentar o romance no seu primeiro lançamento no Festival Folio de Óbidos de 2016, decidi-me também por uma estratégia de alternância na minha reflexão sobre ele, intercalando-a com paralelos na arte contemporânea, nomeadamente em três obras que vi recentemente no museu de ARoS, na cidade dinamarquesa de Aarhus, no âmbito de uma exposição com título inspirado duplamente em John Donne e Salman Rushdie, “No Man is an Island / The Satanic Verses.” Estas obras, bem como a referência de Lobo Antunes e do seu modelo igualmente polifónico para o romance colonial português, nortearam um roteiro interpretativo que espero alicie à leitura deste notável resgate da guerra e da memória.
Convidada a apresentar o romance no seu primeiro lançamento no Festival Folio de Óbidos de 2016, decidi-me também por uma estratégia de alternância na minha reflexão sobre ele, intercalando-a com paralelos na arte contemporânea, nomeadamente em três obras que vi recentemente no museu de ARoS, na cidade dinamarquesa de Aarhus, no âmbito de uma exposição com título inspirado duplamente em John Donne e Salman Rushdie, “No Man is an Island / The Satanic Verses.” Estas obras, bem como a referência de Lobo Antunes e do seu modelo igualmente polifónico para o romance colonial português, nortearam um roteiro interpretativo que espero alicie à leitura deste notável resgate da guerra e da memória.
1. Os miúdos grandes e a banalização do mal
Na ombreira da sala da referida exposição, apresenta-se um painel com um texto explicativo, em que se relembra Eichmann em Jerusalém de Hannah Arendt, conspicuamente subtitutlado “Relatório sobre a Banalidade do Mal” (1963). É um possível subtexto de Estranha Guerra do Uso Comum e do retrato que aí se faz da conivência em atos vergonhosos (assédio de nativas, homicídio à queima-roupa) sob a pressão de uma autoridade diluída e de um coletivo amedrontado pela representação difusa do Outro, de mistura com a má consciência: “aquilo era deles… os turras éramos nós” (217). Sobre o discurso, porém, a boa arte impõe a imagem forte e desconcertante: na exposição, o que de imediato atrai é a escultura hiper-realista Boy de Ron Mueck (1999); no livro de Paulo Faria, será o contido “canto do meu pai menino (…) um pai sem telhados de vidro (…) que não sabe que vai morrer” (183). Boy, Ron Mueck (Foto de Anders Sune Berg)Ninguém sabe o que está a fazer agachado o rapaz de quatro metros e meio e 500 kg em fibra de vidro. As suas mãos estão quase certamente na posição de apontar, o torso contraído entre a vigilância e o medo. Diz-se que o escultor se terá inspirado na posição de agachamento dos aborígines australianos, vigias das montanhas. Mas este rapaz é branquinho e de olhos azuis, quase dinamarquês, ou quase como, em Estranha Guerra do Uso Comum, poderiam ter sido em crianças quer o Dr. Silveira, o médico alferes miliciano cujo retrato se procura recuperar, quer o seu filho, o narrador-recuperador. Encabeçando, com olhos que para mim são de medo e raiva, uma mostra cheia de destroços, vejo Boy como a ironia do adulto num mundo que afinal não pode compreender e onde comete grandes atos temerários por desvalimento.
Boy, Ron Mueck (Foto de Anders Sune Berg)Ninguém sabe o que está a fazer agachado o rapaz de quatro metros e meio e 500 kg em fibra de vidro. As suas mãos estão quase certamente na posição de apontar, o torso contraído entre a vigilância e o medo. Diz-se que o escultor se terá inspirado na posição de agachamento dos aborígines australianos, vigias das montanhas. Mas este rapaz é branquinho e de olhos azuis, quase dinamarquês, ou quase como, em Estranha Guerra do Uso Comum, poderiam ter sido em crianças quer o Dr. Silveira, o médico alferes miliciano cujo retrato se procura recuperar, quer o seu filho, o narrador-recuperador. Encabeçando, com olhos que para mim são de medo e raiva, uma mostra cheia de destroços, vejo Boy como a ironia do adulto num mundo que afinal não pode compreender e onde comete grandes atos temerários por desvalimento. Boy é um soldado, um desses que mais tarde se pode vir a representar como heróico galã, mas não passava de um bebé a fazer a guerra, como já Kurt Vonnegut o denunciou na comédia negra Matadouro #5 ou a Cruzada das Crianças (1969). Também o soldado neste texto de Paulo Faria nos surge trazido pela memória como um miúdo que se abandalha no mato, descalço, de tronco nu, apavorado.
Boy é um soldado, um desses que mais tarde se pode vir a representar como heróico galã, mas não passava de um bebé a fazer a guerra, como já Kurt Vonnegut o denunciou na comédia negra Matadouro #5 ou a Cruzada das Crianças (1969). Também o soldado neste texto de Paulo Faria nos surge trazido pela memória como um miúdo que se abandalha no mato, descalço, de tronco nu, apavorado.
“Vi gajos de dedo apontado, a fazer «pum! pum!» com a boca como miúdos a brincar às guerras, enquanto os guerrilheiros atiravam sobre nós. Juro que não estou a inventar. Gajos deitados no chão, com o ar mais sério desse mundo, dedo espetado, mexiam o polegar para fingir que disparavam e faziam «pum! pum!» com as bochechas saídas” (150-151) – diz Baltazar Ney Gomes, o furriel são-tomense que lutou do mesmo lado dos que chamavam “turras” aos negros.
2. «Porque é que os homens se matam»? Narrador e vozes alheias
Neste livro experimental a que hesito a chamar romance, antes “objeto fictício-documental”, encontramos uma diferença ética no tratamento do drama da guerra colonial em relação aos autores anteriores, os que experienciaram a guerra e instituiram as «ficcções de alferes», conforme lhes chamou Azevedo Teixeira em A Guerra Colonial e o Romance Português (1998). É que se a multiplicidade de perspetivas ocorre em ambos os casos, a contaminação entre vozes a que se outorga a narrativa é absolutamente evitada pelo narrador-testemunha de A Estranha Guerra, fugindo ao modelo do narrador-maestro de que Lobo Antunes será o exemplo mais marcante. Sendo inevitável o peso da influência, uma breve comparação entre Estranha Guerra e Fado Alexandrino (1983) poderá elucidar semelhanças mas também a distância do posicionamento do contador. O «Capitão», narrador autodiegético de Fado Alexandrino, delega também a primeira pessoa na recapitulação narrativa e entrecruzada de quatro outros personagens, ex-camaradas de postos diferentes numa companhia expedicionária a Moçambique. Neste, como em Estranha Guerra, há um crime partilhado, ocultado, e contraditoriamente desvendado, obrigando o leitor à reconstrução e relativização de factos cuja verdade absoluta nunca saberá. Porém, a maneira de contar acaba por diferir, do mesmo modo que diverge o alinhamento que podemos retirar da relação autor-narrador-personagens. Em Fado Alexandrino, o narrador trata o desvendar da memória enquanto consciência coletiva, e acaba por sugerir causas supra-coletivas, políticas e instrumentais, para a banalidade do mal. Nos relatos orquestrados por Carlos em Estranha Guerra não há nenhuma personagem que demonstre uma consciência política aprofundada ou se pense vítima de uma trama totalitária: Salazar, a Pide, a Ditadura, não são especialmente benquistos, mas pouco vêm a baila.
A diferença deve bastante à circunstância de Carlos, em Estranha Guerra, ser um narrador de primeira pessoa que não é participante mas ouvinte das narrativas que quer relatar, e, assumindo-se como testemunha empática, predispõe-se a aceitar como absurda a roda da sorte que determina quem mata, quem morre, e quem se vê remoto de qualquer das duas ações. Em Conhecimento do Inferno há uma pergunta que serve de leitmotiv para várias páginas de prosa: “Porque é que os homens se matam?” A pergunta deriva diretamente do confronto com o suicídio de um soldado, mas pode pressupor, além da auto-inflição, um objeto direto, “porque é que os homens se matam uns aos outros?”. À grande questão, repetida pelo alferes responsável, o narrador procura dar várias respostas, que, embora se revelem todas insatisfatórias, têm todas causas maiores, como: “Têm medo, em Luanda, que a gente saia daqui: com que cara os tipos bem fardados, bem alimentados, bem dormidos nos enfrentariam? Somos o remorso deles.” (p. 201) Em Estranha Guerra de Uso Comum, Carlos não mimetiza nenhum despotismo discursivo. Não interfere, por isso, com o relato caricato do «homem que matou o funeral»; por muito que seduza o potencial narrativo de episódios macabros e anedóticos contados pelos ex-combatentes, há pudor em impor-se-lhes um esquema interpretativo, além do de homens comuns discorrendo sobre o anormal: “Sem ele dar por isso, com um azar do caraças, matou mais gente de uma só vez do que em todo o massacre de Wiryamu” (74).
Por outro lado, em relação àquela que seria a voz principal a ouvir, mas que permanece praticamente indistinguível — a do pai —, reconhece-se na recapitulação de Carlos um esforço de presentificação, de comando dessa voz (“Vá, pai, fala… sinto falta das tuas verdades absolutas”, 63), que sai todavia gorado, sendo ilusório o diálogo que possa restituir um futuro pai. A imaginação de qualquer coisa parecida com um diálogo faz-se constantemente nos capítulos do narrador, mas é de reiterar que estes não se cruzam com aqueles que são depoimentos. O que aproxima o livro de Paulo Faria do documentarismo é aquilo que o distancia do expressionismo e do surrealismo de tempos, vozes e personagens entrechocadas nos romances de Lobo Antunes. O rigor heterobiográfico deve ser afinal uma das principais qualidades de um grande tradutor.
3. Aprofundamento do plano e rigor de perspetiva
Apesar de a parte introspetiva deste livro demonstrar mestria na complexidade de tempos sobrepostos – leia-se a belíssima “Quarta Carta ao Pai” em que se intercalam a memória da ausência afetiva paterna, o ciúme da relação com o menino que este achou na guerra e uma cena de domador de feras no circo da infância — há a prudência do realismo e da racionalização. O narrador caracteriza-se como pessoa metódica, obstinada nas suas manias e acumuladora das observações pertinentes ao estudo de um dado fenómeno. O que torna por vezes a descrição de um procedimento científico numa metáfora de auto-análise: “Sem eu dar por isso, os primeiros cristais já se tinham começado a agregar em volta do aramezito. O arame eram as tuas fotografias de África, espalhadas sobre a minha cama, como eu nunca as vira até então. O arame era a tua guerra de África, que senti poder tornar um pouco minha. As fotografias tinham um cheiro indefinível. O gato saltava para cima da mesa, pesado e quente e articulado, fustigava-as com a cauda gorda e mole, trazia uma remela gelatinosa matinal em cada olho. Eu agarrava-o, lutava com ele para lhe limpar os olhos.” (33)
 Scene after Sunset, Leonard Rickhard (2008-09)
Scene after Sunset, Leonard Rickhard (2008-09)
Esta relação com o rigor permite-me transitar para uma segunda obra da exposição do museu ARoS, “Scene After Sunset” (2008-09), do pintor norueguês Leonard Rickhard. “A experiência do pós-guerra” é “matéria-prima da sua arte”, informa-nos o curador. Paulo Faria faz o seu primeiro romance sobre a guerra vivida por interposta pessoa, a guerra trazida pelo luto de um pai que talvez a literatura possa levar além do que não se viveu. Esta é sempre temperada, sublinhe-se, pela contenção da testemunha, tal como em Paul Rickhard se assinala uma “tensão entre o plano e a perspetiva, entre o familiar e o estranho.” A maioria do que é dito sobre Rickhard — sobre “figuras de costas” que são “autorretratos capturados na fração de segundo antes de a tranquilidade dar lugar ao ruído perfurador de tímpanos dos aviões próximos” e a inserção de objetos de medição como indicativa de “uma mania pela ordem racional e matemática” que se estilhaça com a “inserção de elementos que quebram a moldura” — poder-se-ia aplicar ao movimento alternado de reportagem metódica e transferência introspetiva do autor de Estranha Guerra.
O narrador Carlos será a figura que, autorretratando-se de costas, procura ir ao outro, através da reconstituição de biografias alheias que só espectralmente lhe devolvem aquela do pai. O homem iluminado num plano retangular será o pai, visto através das cinquenta e uma fotografias e um negativo que deixou para a pós-análise da sua guerra, cujas dimensões, de retrato e moldura, são medidas com precisão, e cujos elementos – pessoas, animais, objetos, terrenos – são examinados por meio de ampliações, viagens de campo, telefonemas, gravações, motores de pesquisa. O plano e a perspetiva são vetores de um eixo que revolve. As reflexões e os devaneios de Carlos são pontuados por referências a caixilhos, portas envidraçadas, quadrados. E há, no seu caso, não só a incongruência dos planos bem traçados a estilhaçar interseções, mas também o terrível assalto da matéria mole e informe, figurada no “cotão do meu novelo da infância (…) encapelado, em abalos sísmicos” (84).
4. O Repto da Testemunha
Para pensar a relação do livro de Paulo Faria connosco, leitores, tornados testemunhas de testemunhos, recorro a uma última obra da exposição no Museu ARoS, Sawdy 46 (1971) do norte-americano Edward Kienholz, falecido em 1996. Faz parte de uma série sobre ocorrências que “ultrapassamos”, num carro, enquanto podemos ver no vidro do condutor a cena de fora e o reflexo da nossa própria imagem. Nesta obra, a janela da porta desvenda, algures atrás, uma cena com um negro deitado no chão e outras personagens à sua volta. O condutor não é participante mas é responsável. E o visitante da exposição? E o narrador deste livro? E nós, leitores? Sawdy 46 (1971), Edward Kienholz.
Sawdy 46 (1971), Edward Kienholz.
Em Estranha Guerra do Uso Comum nem sequer os depoentes foram participantes em tudo: e mesmo quem diz que foi para uma guerra que não lhe pertencia mas que acabou por tornar sua, procura, de alguma forma, isentar ou mitigar a sua participação nalguns atos mais escabrosos da mesma. Porém, a desistência da denúncia nestas personagens, ou a sua incapacidade de um gesto temerário que, por uma ínfima nesga, pudesse salvar ou ao menos remediar a situação, torna-os, não podemos deixar de o pensar, individualmente responsáveis. E o pai de Carlos, o Dr. Silveira, torna-se responsável. E Carlos, o narrador, torna-se responsável, e nós tornamo-nos responsáveis, não só pela dificuldade em destrinçar a testemunha do cúmplice ou a voz do relator daquela dos depoentes, como por percebemos que a nossa complacência para com a banalidade do mal no humano pode nascer dessa absurda inação que nos irmana. A incapacidade de tomar a atitude correta é dramaticamente representada neste livro não só como esperança de que seja o outro a fazer o gesto mais nobre como também pela dúvida de sermos nós capazes de o fazer estando no seu lugar. Um momento relevante é o depoimento do furriel Gamito: “Até ao fim houve em mim aquela crença que o seu pai ia ser mais forte do que eu, ia assumir aquela responsabilidade, ia-me tirar aquele peso dos ombros.” (276)
Gamito é também aquele que ao mesmo tempo nega e assume a sua propriedade da guerra, e nos faz sentir, dentro do comboio que o levou a África, como o visitante do lado de dentro da porta do carro de Sawdy 46, assistindo à vilificação de semelhantes de outra raça com algum desconforto, é certo, mas em medida igual à procura de espaço para as pernas, nos transportes desta vida: “no comboio que mais parecia um caracol, dezassete horas seguidas depois de um dia inteiro à espera em Nacala, tantas horas sem nada para comer, o dia mais comprido da minha vida, os pretos a perguntarem ‘Meu furriel, quer uma sandes, que eu vou buscar?’, os pretos a saltarem da locomotiva com as pás na mão, a atirarem pazadas de terra vermelha para cima dos carris, a saltarem outra vez para a locomotiva no alto da colina, todos vermelhos, pareciam estátuas de barro, mas não disse nada a ninguém, aquela guerra não era minha mas não criei atrito, ‘Desvia lá a perna, pá, que preciso de esticar a minha, não posso mais com o formigueiro, já estou todo partido e esta merda nunca mais chega a Nova Freixo’” (251-252).
Que alternativa temos? No Museu ARoS, dois pisos abaixo da exposição aqui ilustrada, havia uma impressionante retrospetiva de Mapplethorpe. Numa das salas, a frase “a beleza é como o diabo” fez-me pensar na amplitude do espírito do curador humanista, cujo pendor para o tipo artístico da denúcia, ética e melhoramento do mundo, não descura a admissão de um outro tipo, aquele para quem a arte reside talvez quer na empatia quer na cobardia de não querer sofrer sozinho, expurgando um cativante horror. Haverá algo disto também anunciado num título como O Conhecimento do Inferno, de António Lobo Antunes. Paulo Faria está porventura mais próximo do primeiro tipo, o ético, mas a sua resposta para a banalidade do mal contorna também de modos significativos uma improdutiva responsabilização.
Introduz-se uma força porventura menos reivindicativa ou nobre do que a interrogação, mas de forte inspiração existencialista, a inércia como resistência passiva: “lembrei-me da história que ele contou do soldado que se recusou a cavar, e percebi que um ser humano é uma montanha formidável, tem uma força que ele próprio não imagina. Um ser humano, enroscado em bola, a exercer a força colossal da inércia, pode ser o grão de areia que emperra as rodas dentadas da engrenagem, pode ser a gota de água que faz transbordar o copo.” (157-158). Enfrenta-se com estoicisismo, além disso, a possibilidade de perguntas sem resposta, perguntas cujo desespero não se nega mas se contempla: “perguntas que queimam, que põem a nu o nosso mundo tal como ele é. (…) Há perguntas que pelo simples facto de serem feitas devoram todo o oxigénio à sua volta, como napalm” (183).
Termina o livro, por fim, no que toca a esta urgência da questão, com uma terceira via porventura menos heróica mas que na verdade só resulta de algum modo consoladora quando há disponibilidade para um tempo que se vem perdendo: o de contar e ouvir as histórias, levando o narrador/observador a perceber o papel catártico de se contar na primeira pessoa, papel que alterna entre o seu próprio e o dos dez escolhidos para serem apresentados no seu relato. Mesmo que a premissa tenha sido a de alguém procurando a voz dos outros para reconstruir a imagem do pai, o resultado provisório é da conciliação de si com os outros: “Quando me sento a ouvi-los, sei que antes de mim nunca houve outra pessoa a ouvi-los desta maneira, alguém que não esteve no Ultramar, que não tem outras histórias da guerra para contrapor às deles, só tem ouvidos e papel e uma caneta e tempo, todo o tempo que há, e é esta a minha guerra de África, não devo fidelidade a nenhuma narrativa, somente às impressões que colhi. Percebo que fui ao fundo quando nos olhos deles já não vejo fúria nem vergonha, mesmo ao contarem-me gestos grotescos, coisas obscenas e vis. (…) Não respondi a nenhuma questão, não resolvi nenhum problema. Fui ao fundo do fundo” (293). Trata-se de um processo em que contar uma história nos permite partilhar uma comum humanidade. O rapaz gigante agachado à laia de aborígine vigilante curva o corpo em forma de bola e exerce porventura a força da inércia. Mas a transferência daquela que seria a lição do pai, em forma de heterobiografia, talvez nos dê a chave para aplacar o seu olhar: “Sozinho neste mundo, o ser humano anda em círculos. Foi isso que o seu pai me ensinou” (274).