Para lá da metáfora. Violência sexual e (pós-)colonialismo no romance Os Pretos de Pousaflores de Aida Gomes
A violação é uma das metáforas do colonialismo mais antigas e recorrentes. A esta dimensão metafórica subjaz uma realidade concreta, já que os processos de conquista e de ocupação colonial foram acompanhados por violações em larga escala de mulheres colonizadas – e também de crianças e homens – e por estruturas sociais permissivas à ocorrência de situações de violência sexual, normalmente dentro de um sistema mais vasto de exploração laboral. A metáfora do colonialismo como violação opera, porém, segundo códigos de género precisos que postulam um ator masculino que se apodera de uma terra e/ou nação transfigurada em entidade feminina. É esta constelação rígida que permitiu que a imagem fosse usada tanto para representar a conquista colonial como aventura de satisfação e empoderamento masculino1, como para denunciar a opressão e violência inerentes ao colonialismo2. The Rape of Africa3 é precisamente o título de uma obra conhecida sobre as consequências do imperialismo e da exploração europeia no continente africano. Os discursos de líderes históricos independentistas bem como as literaturas comprometidas com esses ideais fazem uso amiúde da imagem da terra violada enquanto recurso estilístico para exortar à resistência e à luta anticolonial. As palavras do líder nacionalista Javaharlal Nehru sobre a colonização do subcontinente indiano são emblemáticas neste sentido: “They seized her body and possessed her, but it was a possession of violence. They did not know her or try to know her. They never looked into her eyes, for theirs were averted and hers cast down through shame and humiliation.”
 Postal fotográfico da 1º Exposição Colonial Portuguesa. 'Indígenas balantas – Guiné (Rosita)'. Coleção Particular
Postal fotográfico da 1º Exposição Colonial Portuguesa. 'Indígenas balantas – Guiné (Rosita)'. Coleção Particular
A crítica feminista tem vindo a apontar as implicações problemáticas da transfiguração do corpo feminino violentado em símbolo de um processo histórico, alertando para os códigos de género tradicionais que sustentam a metáfora: conotações de fragilidade e necessidade de proteção atribuídas ao feminino e estigmas de vergonha e culpa associados à violência sexual. Por isso, Sara Suleri argumenta que a violação enquanto imagem do imperialismo já não é culturalmente libertadora, mas antes uma figura cuja obsolescência a tornou insuficiente para uma leitura sustentada das valências do trauma implicadas no simbolismo sexual do colonialismo. As complexidades dos contextos de violência sexual a que foram sujeitas as mulheres colonizadas e os contributos destas últimas enquanto agentes históricos nos destinos e nas lutas das suas comunidades dificilmente se deixam abarcar por scripts binários e pela concomitante imagem da “vítima perfeita”. Para além disso, como notaram autoras como Sarah Deer, são necessárias abordagens à violação como experiência de violência e exploração moldada pelos processos históricos coloniais cujos legados continuam a promover, em determinados contextos, uma vulnerabilidade acrescida de mulheres racializadas a crimes de natureza sexual4.
O contexto português apresenta-se como estudo de caso de grande pertinência para explorar a complexidade dos discursos e das (pós-)memórias relativas à violência sexual no colonialismo, nomeadamente os seus legados no Portugal contemporâneo. Durante as guerras pela independência nas colónias, a população portuguesa tendia a associar a violência sexual no contexto de guerra aos massacres de colonos e seus empregados no Norte de Angola em 1961. A disseminação de fotografias de cadáveres de bebés e de mulheres violadas nestes massacres obedeceu a um claro objetivo político da parte do governo português com vista à justificação do destacamento de tropas para as colónias e da guerra contra os movimentos independentistas, sem qualquer cedência às suas reivindicações5. Em contrapartida, nas décadas pós-25 de abril, a popularidade dos romances de guerra de Lobo Antunes – nos quais são numerosas as imagens de exploração e violência sexual contra mulheres negras – contribuiu para o alargamento dos imaginários nacionais relativos à violência sexual no contexto colonial. No entanto, a violação surge nestes textos essencialmente como recurso narrativo para significar a brutalidade do colonialismo e visibilizar a ambiguidade do soldado da guerra colonial enquanto vítima e perpetrador. As subjetividades das mulheres colonizadas e os danos emocionais da violência sexual permanecem secundarizados em textos cujo foco são os traumas dos combatentes de guerra.
Ao trauma dos combatentes da guerra colonial juntou-se a despossessão dos “retornados”6 como prismas privilegiados de recordação do fim do colonialismo português enquanto processo doloroso. O romance Os pretos de Pousaflores (2011), de Aida Gomes, inscreve-se na literatura do “retorno”. No entanto, ao revisitar a conquista e a perda de Angola através da perspetiva dos despossuídos, a estrutura polifónica do texto traz para o centro da economia narrativa matizes secundarizadas ou mesmo silenciadas tanto no que diz respeito ao imaginário português sobre a “guerra nas colónias” como à própria memória do “retorno”. A história é-nos contada por um conjunto de vozes interiores: Silvério, que, em 1975, após 40 anos em Angola, regressa à sua aldeia natal na Beira; a sua irmã Marcolina, que nunca deixara a província portuguesa; Justino, Belmira e Ercília, os três filhos mestiços que traz de Angola; e Deodata, a mãe de Ercília, que vem para Portugal posteriormente como refugiada de guerra. Com grande vivacidade, algum humor e certa ironia, estas personagens oferecem um retrato desolador do interior rural de Portugal (pobreza, racismo, preconceitos, fortes hierarquias e normas sociais rígidas), dos contactos entre brancos pobres e mulheres negras nas colónias e da discriminação e racismo sofridos pela juventude racializada no Portugal democrático. O romance vem assim visibilizar um segmento tendencialmente ignorado nas memórias hegemónicas do “retorno” (os negros e os mestiços que vieram para Portugal no programa de repatriamento), questionando decisivamente a narrativa celebrativa da “boa integração” dos “retornados”. Neste processo, ganham destaque as vozes femininas negras, que permitem não só revisitar lugares de memória estruturantes do colonialismo português (o lusotropicalismo e a celebração da miscigenação), como também representar a violência sexual como experiência individualizada e multifacetada enquadrada pelo contexto socioeconómico do colonialismo com repercussões nas gerações que vieram a seguir.
No centro do enredo está Silvério que, em 1939, se alista num contingente indígena na “pacificação do interior” de Angola, eufemismo usado para designar uma guerra devastadora para punir e esmagar comunidades que resistiam ao ordenamento colonial. As experiências bélicas de Silvério sinalizam que a guerra não começara em Angola em 1961. O texto representa o domínio português em algumas regiões das colónias como processo recente marcado pela violência contínua, massacres, escravização e guerras, frequentemente com recurso ao exacerbamento de rivalidades locais. Para além disso, através da personagem secundária de Munueme, o romance alude à dimensão massiva da violência sexual durante a conquista do território, assim apontando para a violação como fator de mestiçagem. Expõe também a colusão entre poderes locais patriarcais e o poder colonial no abuso de mulheres. É o chefe da aldeia quem obriga Munueme a viver com Silvério e, posteriormente, quando este a assassina, quem lhe entrega uma filha de 15 anos, Geraldina. É também o chefe quem posteriormente força Geraldina a renunciar à própria filha, Belmira, trazida para Portugal por Silvério, uma linha do enredo que pode ser lida como desmitificação do apego dos brancos aos filhos mestiços, tão romantizado nos imaginários portugueses.
Enquanto o corpo repetidamente abusado de Munueme perpetua a tradição do uso de corpos femininos violados silenciosos para significar a violência colonial, as personagens femininas com voz narrativa adicionam complexidade à abordagem à violência sexual. Veja-se como Deodata, tratada por Silvério como instrumento de trabalho e de gratificação sexual e violada por homens armados no rebentar da guerra civil, sugere não só certas linhas ténues entre submissão e agência feminina no contexto colonial, como também expõe a continuidade da violência sexual entre no período colonial e o pós-colonial.
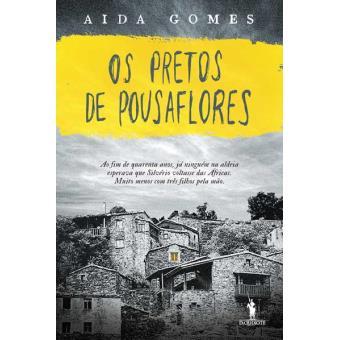
É, porém, sobretudo através das filhas de Silvério (Belmira e Ercília) que o romance adota estratégias narrativas que confirmam o potencial da literatura para complexificar o próprio sentido da violência sexual. As primeiras experiências sexuais das irmãs são com o mesmo homem, Mário, para quem as jovens mestiças não passam de conquistas exóticas. Através da voz interior das duas e do privilegiar das suas subjetividades, a narração desvenda como essas vivências se traduziram em experiências de degradação e abuso sexual para as jovens. Na sua abordagem filosófica à violação, Louise Du Toit argumenta que a violência sexual transforma o espaço físico da vítima num lugar hostil no qual ela é reduzida a objeto7, uma observação que poderá ajudar a desvendar o comportamento de Belmira. Após o encontro sexual com Mário na floresta, este espaço deixa de promover a sensação de pertença e magia que até então oferecera à jovem. Belmira abandona a aldeia, indo trabalhar inicialmente como criada doméstica e sobrevivendo posteriormente como prostituta num percurso que é representado como degradação. De facto, ainda que a descrição do encontro na floresta seja lacónica (“Ontem no escuro, o Mário pediu que me deixasse de tretas. (Desflorou-me, não é assim que se diz?)”)8, o comportamento posterior da personagem é representado no romance como “ferida espiritual”, conceito proposto por Du Toit para descrever como a violação, ao tornar as mulheres em “pura carne” – carne como mortalidade e carne como objeto sexual – consegue destruir o sentido do eu em relação ao mundo9. A objetivação sexual das mulheres negras herdada do colonialismo surge como peça central neste processo. Não será por acaso que um dos clientes regulares de Belmira é um veterano da Guerra Colonial, cujos comportamentos na intimidade desvendam o enraizamento de sexualidades violentas em posturas (neo-)coloniais: “O coronel passou muitos anos em África e às vezes tem saudades de berrar alto e espancar pretos, é por isso que gosta tanto de mim.”10 Por sua vez, a gravidez e o aborto traumático da irmã mais nova, Ercília, permitem revisitar (e desvendar) as falácias do lusotropicalismo relativas à celebração da miscigenação. As experiências sexuais degradantes das duas irmãs (não serem amadas, serem tratadas como objetos e o seu corpo reduzido à sua corporeidade) sugerem “desigualdades no amor”11 resultantes de um sistema de discriminação racial enquadrada pelos legados de objetivação da sexualidade da mulher negra no colonialismo. Belmira identifica corretamente as origens dessa vulnerabilidade no estatuto com que ingressara no tecido social português como “bagagem” do pai colono: “[…] a bagagem pode contar a sua história? Levaram-me ali, fui naquele sítio, voltei, carregaram-me e deixaram-me lá? Não, a bagagem não tem como contar a sua própria história. A bagagem nunca se apodera da viagem.”12
A subalternidade aqui exposta é, porém, desafiada pela própria estrutura polifónica do romance, ao contrabalançar a voz do colonizador com as vozes dos/as colonizados/as e dos/as que foram afetados/as ou produzidos/as pelo colonialismo. No processo destacam-se as mulheres racializadas como narradoras das duas próprias histórias. O alargamento do espetro das (pós-)memórias do colonialismo encetado no romance sustenta-se precisamente na questão de “quem conta a história”. Aproveitando as potencialidades da focalização interna, o romance corrobora a capacidade de a literatura formular as perspetivas das vítimas de violência sexual, a complexidade das suas subjetividades e da sua agência, bem como a interceção entre género, classe social e racismo como fontes de vulnerabilidade. É assim que a violência sexual é representada no texto como algo profundamente enraizado em estruturas patriarcais, nas relações de poder e nas pressões político-económicas do colonialismo. Manifestando-se de forma multifacetada através do período colonial e das sociedades pós-coloniais, é vivida por corpos individualizados cuja diversidade, complexidade e subjetividades não cabem numa metáfora uniformizadora. Desta maneira, o romance supera os impasses da metáfora do colonialismo como figura de retórica. Ao narrarem as suas próprias experiências a partir de uma posição apresentada como parte do tecido social português herdeiro do “retorno”, as vozes femininas racializadas desafiam imaginários portugueses que recordam a guerra colonial como o lugar de violência colonial. Aida Gomes traz para o centro da teia narrativa experiências que tendem a ser secundarizadas ou estar ausentes das memórias hegemónicas do fim do Império: a violenta conquista dos territórios colonizados; a exploração sexual e laboral como base da economia colonial; a objetivação sexual das mulheres racializadas no Portugal pós-colonial. Em suma, embora a violência sexual seja apenas uma entre várias temáticas que contribuem para a originalidade do romance de Aida Gomes, e apesar de para muitos/as leitores/as não ser provavelmente sequer a questão central do texto, a forma como a autora aborda a questão faz com que se trate de uma obra que, ao alargar e aprofundar as representações do colonialismo e dos seus legados no presente, contribui para a criação e circulação de narrativas mais complexas sobre as ambivalências e o trauma da violência sexual.
O presente artigo contém resultados parciais de investigação apresentada nas seguintes publicações: Garraio, Júlia (2019), “Framing Sexual Violence in Portuguese Colonialism: On Some Practices of Contemporary Cultural Representation and Remembrance”, Violence Against Women 25 (13), pp. 1558-1577; Garraio, Júlia (2019), “Scripts, Metaphors and the Evasiveness of Sexual Violence as an Individualized Gendered Experience”, in: G. Zipfel, R. Mühlhäuser, K. Campbell (org.), In Plain Sight. Sexual Violence in Armed Conflict. New Dehli: Zubaan, pp. 439-446.
- 1. As fotografias de “Rosita” aquando da Exposição Colonial Portuguesa (Porto, 1934) fazem parte de uma longa tradição de hipersexualização dos corpos das mulheres colonizadas em que o poder colonial se confunde com o olhar masculino: Carvalho, Clara (2008), “Raça,” género e imagem colonial: representações de mulheres nos arquivos fotográficos”, in J. Machado et al. (org.), O visual e o quotidiano. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, pp. 145-174; Vicente, Filipa Lowndes (2012), A arte sem história. Mulheres e cultura artística. Lisboa: Athena; Vicente, Filipa Lowndes (25-08-2013), “Rosita e o império como objecto de desejo”, Público, https://www.publico.pt/2013/08/25/jornal/rosita-e-o-imperio-como-objecto...).
- 2. Suleri, Sara (1992), The Rhetoric of English India. Chicago: University of Chicago Press, pp. 16-17.
- 3. Middleton, Lamar (1936), The Rape of Africa. New York: Random House.
- 4. Deer analisa assim a situação das mulheres indígenas na sociedade norte-americana, com taxas significativamente mais elevadas de violência sexual do que as mulheres em geral: Deer, Sarah (2015), The Beginning and End of Rape. Confronting Sexual Violence in Native America. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- 5. Ramos, Afonso (2014), “Angola 1961, o horror das imagens”, in F. L. Vicente (org.), O Império da visão. A fotografia no contexto colonial português (1860-1960). Lisboa: Edições 70, pp. 399-434.
- 6. Ferreira, Patrícia Martinho (2015), “O conceito de “retornado” e a representação da ex-metrópole em O Retorno e Os Pretos de Pousaflores”, Ellipsis 13, pp. 95-120.
- 7. du Toit, Louise (2009), A Philosophical Investigation of Rape: The Making and Unmaking of the Feminine Self. New York: Routledge, p. 94.
- 8. Gomes, Aida (2011), Os Pretos de Pousaflores. Alfragide: Dom Quixote, p. 189.
- 9. du Toit, p. 83.
- 10. Gomes, p. 256.
- 11. Clarke, Averil Y. (2011), The Inequalities of Love: College-Educated Black Women and the Barriers to Romance and Family. Durham, N.C.: Duke University Press.
- 12. Gomes, p. 284.