Opressão da mulher e capitalismo
O capitalismo não inventou a opressão das mulheres, mas criou a família moderna. A análise desta última é indispensável para compreender a opressão das mulheres na sociedade moderna.

“Opressão e capitalismo feminino”: muitos acharão este título algo arcaico (ou talvez nostálgico). É um título que soa como algum artigo escrito na década de 1970 ou 1980. Em certa medida, a ressonância é voluntária. Afinal, durante esse período, ligado ao desenvolvimento do movimento feminino, vieram à luz discussões e trabalhos que ainda hoje são relevantes. Um bom exemplo disto é o recente trabalho de Christine Delphy, L’ennemi principal (Syllepse, 1998), que compila textos publicados entre 1970 e 1978. Por outro lado, Masculine Domination, de Pierre Bourdieu (Anagrama, Barcelona, 2006) tem uma particularidade de silenciar que funciona. Esta dissimulação não pode deixar de representar um problema para qualquer autor que pretenda colocar os seus conhecimentos ao serviço das lutas de emancipação, dado que ignora as elaborações teóricas que foram produzidas a partir dessas mesmas lutas.
É verdade que este “esquecimento” se refere a certas discordâncias na abordagem geral. Com efeito, para Pierre Bourdieu, “o princípio de perpetuação” da relação de domínio entre os sexos, “não reside realmente nem fundamentalmente, num dos lugares mais visíveis do seu exercício, ou seja, no coração da unidade doméstica, no qual certos discursos feministas concentraram todos os seus olhares” (Ibid., p. 15). Voltaremos à abordagem de Pierre Bourdieu. Digamos simplesmente que - embora a frase possa parecer lapidar - o seu modelo de análise do domínio masculino, elaborado com base na sociedade cabilenha, na qual as relações de parentesco desempenham um papel central na produção e reprodução de todas as relações sociais, não considera as rupturas introduzidas pelo capitalismo em relação às sociedades pré-capitalistas no que diz respeito à situação das mulheres. Em todo o caso, o nosso artigo irá focar esta questão. Não pretendemos dar uma imagem completa do estatuto da mulher e da sua evolução, mas simplesmente apontar certas rupturas decisivas do ponto de vista das lutas de emancipação.
Análise de Engels
Embora se tenha prestado alguma atenção à questão da família nos anos 70, fê-lo com base em pressupostos fundamentalmente empíricos sobre a situação da mulher no contexto da evolução capitalista. Como salienta Christine Delphy, ao contrário do que aconteceu no final do século XIX e início do século XX, o movimento feminista tivera tempo suficiente para diagnosticar o da tese de Engels de que o trabalho assalariado poria fim ao patriarcado. Engels não foi o único a desenvolver esta perspectiva, mas é importante compreender que a relação fundamentalmente crítica com a sua tese “superdeterminada” pensando na opressão da mulher durante esse período. Isto deve-se em parte ao lugar da referência ao marxismo nas lutas de emancipação, mas também à abordagem radical da emancipação das mulheres por parte de Engels, que foi colocada contra a ideologia dominante do movimento operário na sua versão social-democrata e estalinista e a sua participação activa no processo de naturalização da família moderna.
Não será irrelevante recuperar esta análise em traços largos, citando A Origem da Família
“No antigo lar comunista […], a gestão do lar, confiada às mulheres, era também uma indústria pública socialmente tão necessária como o cuidado de fornecer mantimentos, que era dedicado aos homens. As coisas mudaram com a família patriarcal e ainda mais com a família monogâmica individual. A gestão do agregado familiar perdeu o seu carácter público. A sociedade já não teve nada a ver com isso. Tornou-se um serviço privado; deslocada da participação na produção social, a mulher tornou-se a primeira criada. Apenas a grande indústria dos nossos dias reabriu - embora apenas ao proletário - o caminho da produção social” (Planeta, p. 137 [tradução ligeiramente modificada]).
O problema colocado por esta citação reside não só na visão idílica das chamadas “sociedades primitivas”, mas também na análise da família. Emergindo com a propriedade privada e as sociedades de classe, Engels define-a fundamentalmente como uma forma social de origem pré-capitalista mesmo que, através da propriedade privada, a burguesia consiga preservá-la. Em qualquer caso, o desenvolvimento do capitalismo ao longo do século XX mostra não só que a família se tornou uma instituição chave para a classe trabalhadora, mas também que as mulheres são proletarizadas - elas participam na produção social - como mulheres. Ou seja, fazem-no de acordo com o estatuto que lhes foi concedido pela família moderna que, longe de desaparecer, se tornou o principal enquadramento para a socialização dos indivíduos.
É surpreendente que, apesar desta observação, quase todos os autores marxistas da época - não estou a falar da tradição estalinista ou da sua naturalização da família - retomem a análise de Engels: a família é essencialmente percebida como uma força social de origem pré-capitalista. O único problema seria que a Engels teria sobrestimado o ritmo do seu desaparecimento sem ter em conta os modos do capital pô-lo ao serviço dos seus próprios fins. Deixando de lado as nuances, é assim que Claude Meillassoux procede em Mujeres, graneros y capitales (Editorial S. XXI, 1977), um trabalho muito interessante que tem tido uma grande repercussão. Segundo o autor, depois de se ter constituído “como o apoio da célula de produção agrícola, a instituição familiar perpetuou-se sob formas constantemente modificadas, como o apoio social do património da burguesia mercante, agrária e depois industrial. Serviu para a transmissão hereditária do património […]. Mas hoje, com excepção de certos meios burgueses, a família carece de infra-estruturas económicas” (p. 139). Certamente, continua o autor, “continua a ser o local de produção e reprodução da força de trabalho” (p. 139). Contudo, prossegue: “O modo de produção capitalista depende assim, para a sua reprodução, de uma instituição que lhe é estranha mas que permaneceu até hoje como a mais confortavelmente adaptada a esta tarefa” (p. 140).
Dado que estes autores, justificadamente e seguindo Engels, fazem da família o lugar privilegiado em que se estrutura o domínio masculino, concebem a opressão da mulher no capitalismo como um traço persistente gerado pela manutenção de formas pré-capitalistas, a que se junta a evolução lenta de uma ideologia milenar, o peso das mentalidades, etc. O nosso objectivo não é entrar nos pormenores das análises das várias funções atribuídas à chamada família “patriarcal”, que teria sido preservada pelo capitalismo. É simplesmente para salientar que, neste quadro, torna-se difícil explicar aquilo que é gerado pelo sistema capitalista, de modo sui generis, uma forma específica de opressão das mulheres.
O desejo de romper com este tipo de abordagem explica o trabalho de investigação sobre a família desenvolvido depois. Neste sentido, Christine Delphy, que define o seu método de análise em termos materialistas, afirma ter trazido à luz a existência de um sistema particular (patriarcado) de subordinação das mulheres aos homens nas sociedades industriais, que teria uma base económica específica: o modo doméstico de produção. Muitos estudos de diferentes autores salientam outras nuances neste mesmo sentido, mas estamos interessados em salientar que em todos eles parece existir um interesse comum: realizar uma análise materialista da família (portanto, da opressão feminina) que consiga dar conta de um processo de trabalho particular, de um modo de produção específico que lhe dê estrutura.
A família moderna como invenção do capitalismo Comentei estas discussões na minha crítica ao livro de Christine Delphy. Contento-me aqui em retomar a avaliação geral de Bruno Lautier, que assinala o erro basear a análise “no processo do trabalho doméstico, definido em si mesmo, e não no estatuto da família” (Critiques de l’économie politique, Outubro-Dezembro, 1977, p. 83). É verdade que a família moderna cumpre certas funções económicas, mas - voltaremos a isto - o que caracteriza o capitalismo na sua diferença com as formas pré-capitalistas é a dissociação das relações de parentesco das relações de produção. Se considerarmos que as categorias de análise devem ser ajustadas ao seu objecto, é um erro de método pensar que é possível dar conta desta família, analisando o modo de produção (ou o processo laboral) que a estruturaria.
Comentei estas discussões na minha crítica ao livro de Christine Delphy. Contento-me aqui em retomar a avaliação geral de Bruno Lautier, que assinala o erro basear a análise “no processo do trabalho doméstico, definido em si mesmo, e não no estatuto da família” (Critiques de l’économie politique, Outubro-Dezembro, 1977, p. 83). É verdade que a família moderna cumpre certas funções económicas, mas - voltaremos a isto - o que caracteriza o capitalismo na sua diferença com as formas pré-capitalistas é a dissociação das relações de parentesco das relações de produção. Se considerarmos que as categorias de análise devem ser ajustadas ao seu objecto, é um erro de método pensar que é possível dar conta desta família, analisando o modo de produção (ou o processo laboral) que a estruturaria.
Ao mesmo tempo, não vejo porque desenvolver uma análise materialista de uma instituição seria sinónimo de trazer sistematicamente à luz a sua “infra-estrutura económica”. Isto só é válido em referência a uma certa tradição marxista para a qual o único modo de objectividade social existente é a economia. É exactamente isto que Danièle Leger defende: trata-se de “elaborar uma análise da família e da situação das mulheres na família agregada não só nos aspectos ideológicos internos da família, mas também na base real e económica das relações familiares” (Le Féminisme en France, le Sycomore, 1982, p. 95).
Em qualquer caso, é evidente que existe uma diferença entre o tipo de análise feita por Claude Meillassoux e o modo como os historiadores lidam com o “nascimento da família moderna”, de acordo com o título do livro de Edward Shorter (Anesa, 1977). Assim, no seu livro The Child and Family Life in the Ancien Régime (Taurus, 1988), Philippe Ariès não enfatiza a continuidade, mas sim a convulsão dos quadros de socialização que nos permitem explicar como a infância, no sentido que hoje a entendemos, é uma categoria social sem precedentes, produzida pelo aparecimento de novas instituições: a escola moderna e a família moderna. Esta é definida como o lugar onde uma nova categoria social é estruturada: a vida privada. No seu livro Orígenes de la familia moderna (Crítica, 1979), Jean-Louis Flandrin especifica os dois níveis em torno dos quais a ruptura é produzida. Por um lado, a distinção público/privado é estruturada, ao contrário do que aconteceu nas sociedades monárquicas, em que a instituição familiar tinha as características de uma instituição pública e as relações de parentesco serviam de modelo para as relações sociais e políticas. Por outro lado, a coincidência entre a unidade de produção e a unidade de consumo, que era a regra durante o Antigo Regime, é questionada.
Esta abordagem é tanto mais interessante quanto os historiadores em questão criticam a abordagem evolucionista que emergiu da sociologia do século XIX, segundo a qual a família nuclear teria sucedido linearmente a uma família patriarcal alargada (ver Lebrun F., La vie conjugale sous l’Ancien régime, Armand Colin, 1975). Embora não houvesse um único modelo de família sob o antigo regime, a “pequena família” - para pedir emprestada a fórmula de Jean-Louis Flandrin - era generalizada, como mostram os estudos detalhados dos historiadores ingleses (ver History of the Family, 1988, Vol. 2). Mas se nos mantivermos no quadro de uma análise meramente estatística do número de pessoas que vivem sob o mesmo tecto, a fim de tentar realçar, através de uma simples caracterização da família nuclear, a continuidade entre o antigo regime e o mundo ocidental moderno, perdemos a oportunidade de lidar com a história da família como instituição e de assinalar as rupturas acima assinaladas. Além disso, o termo em si não se refere à mesma realidade social. Sob o antigo regime, o que melhor caracteriza a família é a noção de “maison” ou “maisonnée”, que inclui, por exemplo, os criados.
Tratar a família moderna como instituição implica relacionar as suas condições de existência com esse movimento histórico mais amplo que, com o advento do capitalismo, reorganizará o corpo social como um todo e favorecerá o aparecimento de dois níveis historicamente sem precedentes de práticas sociais. Por um lado, sob o efeito da generalização das relações mercantis, a economia deixa de estar “incorporada no social” - para utilizar a fórmula de Karl Polanyi - e a fábrica moderna surge como lugar específico em que a produção social é organizada. Por outro lado, constrói-se o “estado político separado”, para retomar uma fórmula do jovem Marx, como representante do “público” em oposição ao “privado”, uma dissociação que não existia sob o Antigo Regime, ainda marcado pelas formas patrimoniais do poder político. As relações de parentesco que, no passado e como mostra a dupla ruptura assinalada por Jean-Louis Flandrin, estavam também embutidas noutras relações sociais, são separadas da “sociedade civil” para constituir aquela instituição - também historicamente sem precedentes - que é a família moderna, através da qual se estrutura um novo espaço, o do “privado”, que é completamente diferente do espaço económico e do espaço político.
A família e a construção da relação salarial
O nosso objectivo aqui não é dar conta da família moderna, referindo-se à sua génese histórica (não é possível explicar o funcionamento de uma instituição num sistema social desenvolvendo uma abordagem histórico-genética), mas sim apontar algumas das suas características gerais, comparando-a com formas pré-capitalistas. Deste modo, diremos que no século XIX a família tornou-se uma instituição central dentro da burguesia e uma das suas funções seria “a transmissão hereditária do património”. Mas depois a família moderna tornou-se um modelo dominante em todas as classes sociais. Embora o desenvolvimento do trabalho de mulheres e crianças durante a primeira metade do século XIX, juntamente com o rasgar do tecido social (separação entre habitação/local de trabalho) gerado pela grande indústria, tenha destruído maciçamente as estruturas familiares urbanas populares, durante a segunda metade do século XIX começou a desenvolver-se um movimento inverso que continuou durante o século seguinte.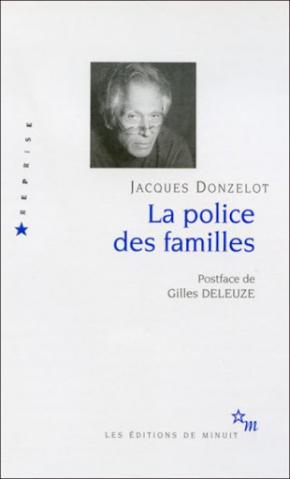 A genealogia desta “estratégia de familiarização dos estratos populares”, segundo a fórmula de Jacques Donzelot (La police des familles, New Vision, 2011), deu origem a estudos detalhados (Lion Muraut e Patrick Zyberman, Le petit travailleur infatigable, Recherches, 1976; Isaac Joseph et Philippe Fritsch, Disciplines à domiciles, Recherches, 1977), embora frequentemente unilateral, na medida em que tratam da questão em termos de política de normalização e “tácticas e números disciplinares”, em referência a Michel Foucault (Vigiar e Punir, ed. 70, 2013). Um problema semelhante pode ser observado nessa altura, no que diz respeito ao desenvolvimento da escolaridade. No entanto, esta normalização estabelece ao mesmo tempo um quadro (capitalista) de socialização que implica uma certa melhoria da existência e que, em termos mais gerais, põe em causa formas de socialização pré-capitalistas que são frequentemente sobrevalorizadas por uma visão “romântica”.
A genealogia desta “estratégia de familiarização dos estratos populares”, segundo a fórmula de Jacques Donzelot (La police des familles, New Vision, 2011), deu origem a estudos detalhados (Lion Muraut e Patrick Zyberman, Le petit travailleur infatigable, Recherches, 1976; Isaac Joseph et Philippe Fritsch, Disciplines à domiciles, Recherches, 1977), embora frequentemente unilateral, na medida em que tratam da questão em termos de política de normalização e “tácticas e números disciplinares”, em referência a Michel Foucault (Vigiar e Punir, ed. 70, 2013). Um problema semelhante pode ser observado nessa altura, no que diz respeito ao desenvolvimento da escolaridade. No entanto, esta normalização estabelece ao mesmo tempo um quadro (capitalista) de socialização que implica uma certa melhoria da existência e que, em termos mais gerais, põe em causa formas de socialização pré-capitalistas que são frequentemente sobrevalorizadas por uma visão “romântica”.
Este movimento de “familiarização”, que se cristaliza especialmente em torno da habitação (Rémy Butel e Patrice Noisette, De la cité ouvrière au grand ensemble, Maspero, 1977), refere-se a um conjunto de características que revelam o nascimento da família moderna. Este é o caso da nova arquitectura da habitação que Philippe Ariès descreve em pormenor e através da qual a intimidade familiar é organizada. Existem numerosas diferenças sociológicas entre as famílias burguesas do século XIX e as famílias de classe trabalhadora que começaram a desenvolver-se durante o período. É possível mencionar, entre outros, a inserção destas últimas em redes de sociabilidade específicas. Mas para além disto, o quadro de socialização dos indivíduos que está em jogo é o mesmo, especialmente se olharmos para a forma como a instituição define a mulher no espaço doméstico.
Estas observações sobre a política de “familiarização” concomitante com a estruturação da relação salarial mostram que não se deve compreender a tipologia do espaço social capitalista - em particular a distinção público/privado - que inclui também a económica, no mesmo sentido que o liberalismo clássico. O privado não é um dado espontâneo gerado por algo que seria a auto-organização da sociedade civil face ao Estado. Esta última desempenhou um papel central na construção da família, tal como o fez na construção da relação salarial. Portanto, a distinção público/privado não se refere apenas a uma categoria “ideológica” que pode ser desconstruída através de uma crítica aos seus mecanismos de constituição.
É uma divisão objectiva do espaço social gerada, repetimos, pela “dissociação” das relações de parentesco do quadro das relações políticas e das relações de produção. “Dissociação”: esta fórmula não significa que as relações, que antes estavam embutidas umas nas outras, estejam agora separadas como se fosse um simples jogo de construção. Pelo contrário, neste movimento, as relações são sujeitas a uma profunda reestruturação da qual emergem formas sociais específicas. O social, como objecto de estudo, não é um dado transhistórico homogéneo que cruza, indiferenciadamente, a história das sociedades.
Se, como a antropologia e a história nos ensinam, as relações de parentesco desempenham um papel decisivo no estatuto social atribuído às mulheres, este movimento de “dissociação” só pode transformar as suas condições gerais de socialização e as relações homem/mulher resultantes. Voltemos à fórmula de Engels: “A gestão do agregado familiar perdeu o seu carácter público. A sociedade já não teve nada a ver com isso. Foi transformado num serviço privado”. Esta tese é decisiva no que diz respeito à família moderna, mas é falsa se for projectada (um erro que Engels comete) em sociedades de “classe” pré-capitalistas.
Nas famílias camponesas do antigo regime, as mulheres não só tinham outras tarefas para além dos cuidados “domésticos” (o nome é anacrónico), mas estas tarefas não eram separadas da produção social, uma vez que a família camponesa era uma unidade de produção. O trabalho das mulheres está presente em todas as actividades da comunidade camponesa, o que estipula uma divisão sexual explícita do trabalho que afecta toda a produção social. O que Engels chama “o funcionamento do lar” - as tarefas atribuídas às mulheres pela divisão sexual do trabalho e não confinadas a actividades dentro do lar - não é um serviço privado que se oponha ao trabalho realizado no quadro da produção social.
A oposição homem/mulher não coincide com a distinção público/privado. Mesmo que o façam em menor grau que os homens, as mulheres estão presentes na “esfera pública” (no sentido lato da expressão, ou seja, não no sentido estritamente moderno), embora o façam em espaços que são diferentes dos dos homens e que são delimitados pelo papel que desempenham na divisão sexual do trabalho. Em contraste, na família moderna, onde “gerir a casa” se tornou um serviço privado, a oposição entre homem/mulher coincide com a divisão pública/privada. Se entendida desta forma, o advento da família moderna não implica simplesmente um mero reforço da “especialização” das mulheres no trabalho doméstico, mas uma verdadeira ruptura no espaço que elas habitam.
“A mulher habita um outro mundo”
Esta ruptura manifesta-se nas profundas transformações no estatuto concedido às mulheres e na forma como as relações entre os sexos são pensadas. Para resumir numa fórmula, podemos dizer que foi posto em marcha um processo contraditório. Por um lado, no quadro mais geral do movimento de individualização que começa a desenvolver-se, a mulher é especificada, nas suas relações com o homem, enquanto indivíduo. Deste ponto de vista, ela é reconhecida como indivíduo igual ao homem. Mas, por outro lado, este reconhecimento ocorre através de uma naturalização da nova distribuição do espaço social e do lugar que a mulher ocupa nele: por natureza, o domínio da mulher é o privado, o “interior” da nova habitação criada pela família moderna. A mulher é reconhecida como indivíduo, mas no quadro desta diferença natural através da qual a feminilidade é construída de acordo com as formas definidas pela cultura moderna, que se cristalizam especialmente na categoria social da mãe, simétrica à da infância, que é então construída (Knibieheler e Fouquet, Histoire des mères, Montalba, 1980).

O discurso de Rousseau é explícito neste sentido e, se um pouco exagerado, a essência do seu tema está presente na maioria dos representantes político-ideológicos da Revolução Francesa. Este ponto já foi suficientemente demonstrado e não é necessário voltar aqui a ele. Mas é importante salientar que a naturalização acima referida deve ser entendida no forte sentido do termo. Deriva de um movimento mais amplo no âmbito do qual foi estabelecida a diferenciação entre as ordens da natureza e da sociedade, que anteriormente estavam embutidas umas nas outras. A oposição natureza/cultura, tematizada no campo das ciências sociais (e introduzida por Lévi-Strauss), ainda ostenta a marca deste movimento.
Nas sociedades pré-capitalistas, a legitimação da ordem social era ainda conseguida (embora de formas diferentes) pela sua inscrição numa ordem sobrenatural, um cosmos. A forma como a sociedade estava organizada era um dado da natureza, na medida em que era apenas um aspecto dessa ordem cósmica maior. Assim, de acordo com Aristóteles, a organização familiar e a cidade remetem para a mesma “lei natural”. A cidade-Estado é um agregado de famílias (mais precisamente, de famílias) e o destino do homem, que deve ser um “animal político”, só pode ser cumprido através do oikia (Sissa, La familia en la ciudad griega, in Historia de la familia. Volume 1, Alianza Editorial, Madrid, 1988)1.
Pelo contrário, após a Revolução Francesa e, em termos mais gerais, no quadro da política moderna, assistimos - como explica Pierre Rosanvallon - a uma “auto-instituição do social”. A ordem política da sociedade não reflecte a natureza das coisas, no sentido aludido acima, mas refere-se a um contrato entre homens, ou seja, torna-se convencional:
“A relação entre os sexos é profundamente afectada por isto, pois a sua antiga divisão funcional é redobrada com uma nova separação: a identificação do masculino com a ordem da sociedade civil e do feminino com a ordem natural. A partir de agora, as mulheres deixarão de ser compreendidas apenas nas suas diferenças físicas ou funcionais em relação aos homens; a partir do seu próprio papel social, passarão a habitar um mundo fora do seu.”
(La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal, Instituto Mora, México, 1999, p. 129).
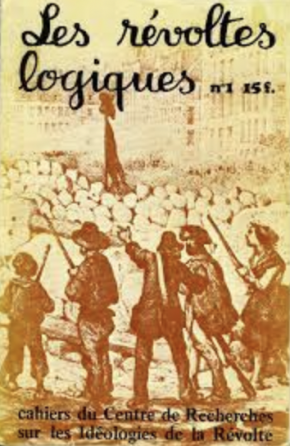 O tema que se desenvolve no seio do movimento operário a partir do final do século XIX está inscrito nesta mesma problemática. É muito significativo que os trabalhadores que aderem a esta perspectiva sejam apoiantes da emancipação da raça humana. Afirmam, como a burguesia iluminada do século anterior, respeitar a individualidade das mulheres. Mas, como Jacques Rancière e Patrice Vauday explicam (Les Révoltes logiques, Winter 1975, pp. 17-18), a libertação da mulher implica que ela recupere a sua vocação natural, que está ligada à existência de um domínio reservado. Deste modo, as mulheres contribuem para a manutenção de um espaço fechado à intrusão dos empregadores e do Estado: a ordem natural da família. Este discurso é reproduzido por muitas feministas. Embora se afaste - por exemplo, ao aceitar a união livre - de certos valores da família burguesa, a sua estrutura é a mesma do discurso sobre a feminilidade do século XVIII: a mulher é reconhecida como um indivíduo igual ao homem, mas na sua diferença, ou seja, no que diz respeito a esta vocação “natural”. A conclusão é ainda mais surpreendente se tivermos em conta que, ao mesmo tempo, a historicidade da família tornou-se um problema para as ciências sociais incipientes. É difícil evitar a tentação de fazer de tal discurso o mero efeito de certos “preconceitos” decorrentes da velha família patriarcal no processo de desaparecimento e alimentado pela competição do trabalho feminino. Pelo contrário, está especificamente ligada à construção da nova família moderna.
O tema que se desenvolve no seio do movimento operário a partir do final do século XIX está inscrito nesta mesma problemática. É muito significativo que os trabalhadores que aderem a esta perspectiva sejam apoiantes da emancipação da raça humana. Afirmam, como a burguesia iluminada do século anterior, respeitar a individualidade das mulheres. Mas, como Jacques Rancière e Patrice Vauday explicam (Les Révoltes logiques, Winter 1975, pp. 17-18), a libertação da mulher implica que ela recupere a sua vocação natural, que está ligada à existência de um domínio reservado. Deste modo, as mulheres contribuem para a manutenção de um espaço fechado à intrusão dos empregadores e do Estado: a ordem natural da família. Este discurso é reproduzido por muitas feministas. Embora se afaste - por exemplo, ao aceitar a união livre - de certos valores da família burguesa, a sua estrutura é a mesma do discurso sobre a feminilidade do século XVIII: a mulher é reconhecida como um indivíduo igual ao homem, mas na sua diferença, ou seja, no que diz respeito a esta vocação “natural”. A conclusão é ainda mais surpreendente se tivermos em conta que, ao mesmo tempo, a historicidade da família tornou-se um problema para as ciências sociais incipientes. É difícil evitar a tentação de fazer de tal discurso o mero efeito de certos “preconceitos” decorrentes da velha família patriarcal no processo de desaparecimento e alimentado pela competição do trabalho feminino. Pelo contrário, está especificamente ligada à construção da nova família moderna.
Um processo contraditório
Portanto, o movimento histórico através do qual a feminilidade é constituída é contraditório. O outro lado da naturalização é a “biologização e sexualização do género e da diferença sexual”, segundo uma fórmula de Michelle Perrot (La place des femmes, La Découverte, 1995, p. 42) que se refere ao livro de Thomas Lauquer (La construcción del sexo, Cátedra, Madrid, 1994). Esta obra situa-se na linha de Michel Foucault e, precisamente por esta razão, oferece-nos uma visão unilateral do processo histórico. Neste mesmo sentido, seria interessante analisar com mais detalhe os diferentes pontos de vista adoptados pelos estudos históricos sobre a medicalização, nas mãos dos homens, de um problema como o parto. Assim, Mireille Laget (Naissances, Seuil, 1982) insiste na perda de poder da comunidade de mulheres, que no passado eram responsáveis pelo parto, e, no prefácio do trabalho, Philippe Ariès oferece-nos um olhar nostálgico sobre as velhas formas de sociabilidade e “saber-fazer” feminino. Por outro lado, Edward Shorter (Le corps des femmes, Seuil, 1982) centra-se exclusivamente nos progressos trazidos pela medicalização e sugere que a “aliança” entre médicos esclarecidos e mulheres é um dos factores que emancipou as mulheres dos constrangimentos tradicionais que pesavam sobre os seus corpos.
Da mesma forma, existem diferentes apreciações das características do casamento ligadas à nova família que surgiram no século XVIII. Segundo Elisabeth de Fontenay, “o casamento submete as mulheres, uma vez que transforma o contrato familiar entre famílias patriarcais num vínculo conjugal inter-individual esvaziado de todas as dimensões sócio-políticas. Ao privatizar este vínculo, as mulheres são expulsas e mantidas à distância da vida pública” (Les Temps Modernes, Maio de 1976, p. 1792). Neste sentido, o autor destaca um dos aspectos do processo, contra uma visão linear do progresso histórico que Edward Shorter nem sempre consegue evitar em El nacimiento de la familia moderna (Editorial Crea, Buenos Aires, 1977). Este autor rejeita qualquer visão idílica das antigas formas de sociabilidade e destaca apenas as possibilidades abertas pelo processo. Em qualquer caso, Elisabeth de Fontenay esquece a dinâmica de transformação que está inscrita nesta ligação inter-individual. Como aponta Jean-Louis Flandrin, algo semelhante acontece no campo das relações sexuais após o reconhecimento das mulheres como parceiras. Mais uma vez, seria interessante aprofundar o esquematismo de certas análises que ligam o advento da burguesia com um processo de normalização sexual e o confinamento da sexualidade e do amor no âmbito da família. A ênfase colocada numa suposta amplitude da liberdade sexual que teria existido nas sociedades do Antigo Regime (Solé, El amor en Occidente, Argos, 1977), faz-nos perder de vista o facto de ser essencialmente uma liberdade sexual masculina que se expressa em relações de opressão brutal contra as mulheres.
Em termos mais gerais, deve dizer-se que a transformação do casamento “num laço conjugal inter-individual” implica que tende a ter lugar como um contrato entre dois indivíduos que se assume serem livres e iguais. No entanto, no mesmo movimento, pressupõe-se a dependência milenar dos homens que afectaria as mulheres. Esta situação também se encontra a nível jurídico. Sob o antigo regime, certas mulheres podiam votar, uma vez que a tradição feudal ligava este direito a um estatuto (por exemplo, à propriedade de um feudal) e não à pessoa. A Revolução Francesa aboliu o direito de voto das mulheres, mas introduziu alguns progressos no direito privado, por exemplo, pelo menos inicialmente, um direito relativamente igualitário ao divórcio.
Produção capitalista e divisão sexuada do trabalho
Não irei mais longe nestas observações e salientarei outro aspecto da dimensão contraditória deste processo de socialização da mulher, que não cobre exactamente o que descrevi acima. Está ligado à relação das mulheres com a produção social e à evolução da chamada divisão sexual do trabalho. De facto, embora seja apresentada como prova, esta categoria funciona mais como uma “prenotação” do que como uma categoria de análise rigorosa. Em primeiro lugar, no que diz respeito à própria noção de divisão do trabalho, uma vez que o trabalho concebido como uma categoria específica é uma invenção da modernidade. Em segundo lugar, a categoria da divisão sexual do trabalho é frequentemente utilizada para falar de duas realidades diferentes. No sentido estrito do termo - ou, em qualquer caso, é esse o sentido em que o utilizarei - designa o facto de as actividades de produção serem organizadas de acordo com o princípio da divisão do trabalho entre os sexos. Mas também pode ser usado para dizer que a divisão do trabalho é sexuada, no sentido de que, sem se referir a um princípio de organização do social segundo a diferença de sexo, abrigaria relações assimétricas entre os sexos.
Voltemos à família moderna. Dissemos que o seu advento não implica um mero reforço da “especialização” das mulheres no trabalho doméstico, mas uma verdadeira ruptura no espaço que elas habitam. Na medida em que são determinadas por relações de parentesco, as mulheres já não existem como um grupo social específico que teria, de acordo com o lugar atribuído pela divisão do trabalho entre os sexos, os seus próprios espaços na “esfera pública” (no sentido lato do termo) estruturados pela produção social. Por outro lado, as mulheres habitam actualmente “outro mundo” que é diferente do dos homens.
Assim, a divisão do trabalho entre os sexos deixa de funcionar como um meio de delimitar os espaços respectivos de dois grupos sociais dentro da produção social, e começa a traçar uma fronteira entre dois espaços sociais de natureza diferente. Presas na família e no “funcionamento da casa” que se tornou um serviço privado, as mulheres, na medida em que são determinadas por relações de parentesco, são expulsas da produção social. Mas, ao mesmo tempo, as suas condições de participação no quadro da produção social são profundamente transformadas uma vez que, ao contrário do que acontecia no contexto das formas pré-capitalistas, a divisão do trabalho entre os sexos já não é um princípio organizador da produção capitalista.
Esta conclusão pode parecer surpreendente de alguém que se refere ao trabalho do período 1970-1980, durante o qual a investigação visava precisamente mostrar que, na produção social capitalista, a divisão do trabalho é consideravelmente sexuada (Kergoat, Critiques de l’économie politiques, Out-Dez 1978). De facto, isto é assim. Mas uma coisa é salientar a dimensão sexual da divisão do trabalho, e outra é afirmar que a divisão do trabalho entre os sexos é um dos princípios organizadores da produção, tal como o era nas formas pré-capitalistas. Ou seja, que a produção é organizada de acordo com a diferença entre os sexos e que, portanto, esta divisão é explícita. Nas sociedades “primitivas”, nas quais as relações de parentesco funcionam como relações de produção, a produção social é estruturada pelas relações sexuais. Maurice Godelier (The Production of Great Men, Akal, 1986) mostra como entre os Baruya, a legitimação da ordem social - ou seja, a sua inscrição na ordem sobrenatural - é completamente construída em torno das relações de dominação dos homens sobre as mulheres. Nas sociedades de “classe” pré-capitalistas, outras divisões sociais tornam-se dominantes, mas a organização da produção de acordo com as relações de género mantém toda a sua relevância, como é o caso, por exemplo, nas várias comunidades camponesas exploradas pelas “classes” dominantes.
Em Masculine Domination, Pierre Bourdieu assinala, com razão, que não devemos projectar nestas sociedades uma visão retirada do mundo moderno. Porque o trabalho, no sentido em que o entendemos, como uma prática diferenciada de outras actividades, não existe nestes casos. Nestas sociedades, “trabalho” é “uma função social que pode ser chamada “total” ou “indiferenciada” que, além disso, não diz respeito apenas a actividades produtivas (p. 65). O que disse sobre o lugar da divisão sexual do trabalho é importante porque se refere, não só à actividade específica de um indivíduo (trabalho no sentido moderno), mas a uma “função social” global que atribui um estatuto aos indivíduos na comunidade. Esta divisão estrutura uma hierarquia desigual que define um grupo social - neste caso, as mulheres - em todo o espaço social da comunidade em questão.
Se a divisão sexual do trabalho já não existe como princípio organizador da produção social capitalista, é porque as relações de parentesco são totalmente “dissociadas” das relações de produção. E também porque, em termos mais gerais, dado que o trabalho assalariado capitalista não especifica os indivíduos segundo os estatutos, a divisão do trabalho numa empresa moderna não é estruturada, nas suas formas de legitimação, através de uma hierarquia definida pelos estatutos sócio-políticos, mas através daquilo a que o jovem Marx chamou a “hierarquia do conhecimento”, que é legitimada apenas em função das condições da organização técnico-científica da produção. Naturalmente, não se trata de dizer que esta divisão do trabalho é “neutra”, que está livre de relações de domínio e que não tem uma dimensão sexuada. É simplesmente uma questão de destacar a relação contraditória das mulheres com a produção social.
A relação salarial não especifica os indivíduos de acordo com os estatutos
As mulheres são “proletarizadas” (tornam-se assalariadas) como um grupo social específico. Este estatuto manifesta-se em fenómenos que foram analisados em profundidade: duplicação do horário de trabalho, variação das taxas de emprego de acordo com o desemprego, trabalho a tempo parcial, as chamadas ocupações “femininas”, etc. Contudo, neste último caso, a variação de acordo com as mudanças na situação económica ou evolução histórica mostra que o carácter sexuado dos diferentes sectores de trabalho não se refere a uma definição social rigorosa do masculino e do feminino na esfera da produção. É verdade que este último não se limita a observar as relações assimétricas entre os sexos, mas contribui para a sua reprodução. Mas, em última análise, esta situação não deriva das propriedades da produção capitalista, mas do estatuto atribuído às mulheres pela família moderna. Por outro lado, é isto que os estudos sobre o carácter sexuado desta instituição mostram em geral. A contradição também opera na direcção oposta. As mulheres são proletarizadas como mulheres, mas no mesmo movimento tornam-se assalariadas. Uma das conquistas do feminismo é ter demonstrado que a participação na produção social não equivale à emancipação. Mas, pelo menos na sua maioria, as feministas não questionam o facto de que tornar-se assalariadas é um factor importante, mesmo decisivo, no caminho para a emancipação. Não vou insistir neste ponto. Quero apenas salientar que não se trata simplesmente de uma questão de independência económica, participação em actividades sociais, etc. A relação salarial não especifica os indivíduos de acordo com os estatutos. Na medida em que troca esta mercadoria muito particular que é a força de trabalho no âmbito desta relação social específica, que é a relação salarial capitalista, o assalariado é concebido como um indivíduo que é ao mesmo tempo livre e igual a todos os outros indivíduos. E esta determinação não é meramente formal, mesmo que, por outro lado, o trabalho assalariado seja uma relação social que medeia a exploração capitalista.
Embora esta relação seja sexuada, a mesma determinação opera no caso da mulher assalariada que, ao participar nesta troca mercantil, é concebida como um indivíduo ao mesmo tempo livre e igual a outros indivíduos. Deste modo, ela entra plenamente na esfera jurídico-política moderna, na qual a questão do direito à liberdade e à igualdade é enunciada como uma exigência constantemente repetida. Contudo, a categoria de igualdade em questão aqui não é exactamente a mesma de que estamos a falar em relação à família moderna, que especifica a mulher como um indivíduo com sexo. Contudo, como explica Marx, o processo de troca de mercadorias não pressupõe a liberdade e igualdade dos indivíduos, mas dita a sua equivalência: para ele a diferença entre indivíduos não existe. Neste sentido, o que caracteriza o sujeito jurídico-político moderno é a sua abstracção no forte sentido do termo: o indivíduo é abstraído das suas condições relacionais de existência. Por conseguinte, não é sexuado.
É verdade que com o desenvolvimento do direito social, toda uma esfera do direito moderno toma forma que trata os indivíduos como pertencendo a um grupo social particular. De facto, podemos ver neste quadro o estatuto que a família moderna atribui às mulheres, por exemplo, na construção do Estado Providência. Embora muitos países se tenham afastado desde então desta norma, “a maioria dos Estados estabeleceu um modelo de acesso aos direitos sociais com base no género, que define e trata as mulheres como mães e/ou esposas” (Lewis, La place des femmes, La Découverte, 1997, p. 406). No entanto, no seu núcleo duro, através do qual o assunto jurídico-político é especificado, o direito moderno ainda é definido pela abstracção. É precisamente isto que permite compreender o lugar que ocupava (e ainda ocupa) nas lutas pela emancipação que se desenvolvem em nome de uma procura infinitamente repetida de “egaliberté”, uma vez que existe “uma tensão permanente entre as condições que historicamente determinam a construção de instituições em conformidade com a proposta de egaliberté e a universalidade hiperbólica da afirmação” (Balibar, Les frotières de la démocratie, La Découverte, 1992, p. 138). Desta forma, nada é dito sobre a diferença entre os sexos. Posta nestes termos, a questão da igualdade e da diferença - recorrente, sabemos, no feminismo - é uma questão específica da modernidade.
Referi-me em mais de uma ocasião ao processo contraditório de socialização que o capitalismo impõe às mulheres. Esta fórmula não deve levar-nos a acreditar que estas contradições funcionam, por assim dizer, em si mesmas, para fazer evoluir o sistema. Uma contradição em si mesma é muda a menos que se torne uma contradição social, ou seja, a menos que exista como um conflito social, luta social, etc. através do qual os agentes sociais são estruturados. E este é o movimento que faz evoluir o sistema. Sabemos, por exemplo, que foram necessárias muitas lutas, em particular em torno da questão da cidadania, para que o assalariado se tornasse um sujeito jurídico-político. Mas não é menos certo que explicar um processo geral de socialização contraditório é importante para compreender não só o que alimenta as lutas pela emancipação, mas também o que estrutura o seu horizonte.
Observações sobre o livro de Pierre Bourdieu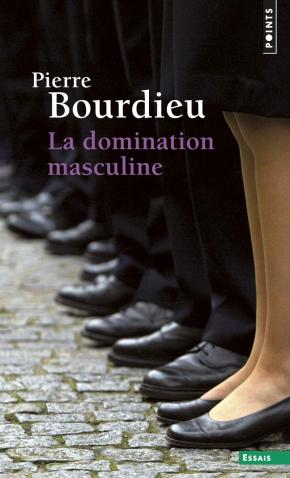 É toda esta dimensão que desaparece no livro de Pierre Bourdieu. Voltemos à forma como o autor fala da dominação masculina a partir da sua análise da sociedade cabileña, desenvolvida em Masculine Domination:
É toda esta dimensão que desaparece no livro de Pierre Bourdieu. Voltemos à forma como o autor fala da dominação masculina a partir da sua análise da sociedade cabileña, desenvolvida em Masculine Domination:
A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar o domínio masculino sobre o qual repousa: é a divisão sexual do trabalho, distribuição muito rigorosa das actividades atribuídas a cada um dos dois sexos, do seu espaço, do seu tempo, dos seus instrumentos; é a estrutura do espaço, com a oposição entre o local de encontro ou o mercado, reservado aos homens, e a casa, reservada às mulheres, ou, dentro desta última, entre a parte masculina, como o lar, e a parte feminina, como o estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura do tempo, do dia, do ano agrário, ou do ciclo de vida, com os momentos de ruptura, masculino, e os longos períodos de gestação, feminino (ibidem). , p. 22).
Pierre Bourdieu descreve com precisão uma sociedade pré-capitalista na qual, evidentemente, as relações de parentesco funcionam como um quadro importante para a reprodução das relações sociais como um todo.
O problema é que ele pretende construir a partir desta descrição um modelo teórico para dar conta da dominação masculina em geral (pelo menos no caso das sociedades mediterrânicas), um modelo em que a sociedade Kabyle desempenharia o papel de “forma canónica” (ibid., p. 130).
De facto, embora as condições “ideais” que a sociedade cabileña oferecia aos impulsos do inconsciente androcêntrico tenham sido largamente abolidas e o domínio masculino tenha perdido algumas das suas provas imediatas, alguns dos mecanismos que sustentam este domínio continuam a funcionar, tais como a relação causal circular que se estabelece entre as estruturas objectivas do espaço social e as tendências que elas geram, tanto no caso dos homens como das mulheres. As mudanças visíveis que afectaram a condição familiar escondem a permanência das estruturas invisíveis (ibid., pp. 75, 131).
Se na sociedade Cabilia o domínio masculino é apresentado como “prova imediata”, é porque as relações de parentesco não são “dissociadas” de outras relações sociais. Já assinalei que esta “dissociação”, característica do capitalismo, faz parte de um movimento mais amplo de reorganização do social (das “estruturas objectivas do espaço social”) que estabelece novas condições gerais para a socialização das mulheres e dos indivíduos como um todo. Obviamente, para Pierre Bourdieu, à excepção desta perda de visibilidade, a estrutura objectiva do “mundo sexualmente hierárquico” permanece e produz as mesmas disposições entre homens e mulheres.
É portanto particularmente impressionante que, para ele, a categoria do inconsciente não se refira obviamente a um problema freudiano. Designa simplesmente a existência de estruturas cognitivas não-conscientes que se articulam numa “construção social dos corpos”. Não vou discutir aqui a teoria da violência simbólica de Pierre Bourdieu. No que diz respeito à construção social dos corpos, prefiro as fórmulas de Maurice Godelier, por exemplo, quando afirma que o corpo humano funciona como uma máquina ventriloquista da ordem social e cósmica e que as representações do corpo encarnam a ordem social. Se for este o caso, a análise deve tomar como ponto de partida a forma como a ordem capitalista estrutura “um mundo sexualmente hierárquico”, a fim de o considerar na sua diferença em relação à das sociedades pré-capitalistas. Desta forma, encontramos aqui uma questão geral que se refere ao método de análise do capitalismo. Para retomar uma fórmula de Daniel Bensaïd, a ordem lógica tem precedência sobre a ordem histórica, no sentido de que - como Marx nunca se cansa de repetir - o ponto de partida da análise deve ser o das condições estruturais de reprodução do sistema social. Em contraste, Pierre Bourdieu adopta uma abordagem histórico-genética, neste caso uma “sociologia genética do inconsciente sexual” (ibid., p. 130).
Quanto ao resto, embora o seu livro apresente um quadro coerente das formas de dominação masculina na sociedade cabileña, ao lidar com a situação das mulheres na sociedade moderna ele contenta-se em apontar uma perspectiva geral e algumas observações de método, sem se preocupar em elaborar um quadro detalhado, ou pelo menos um que nos permita observar elementos de continuidade e diferença. Seria interessante retomar mais detalhadamente as análises da dominação masculina a fim de trazer à tona todas as diferenças que não são tematizadas; em particular, as que dizem respeito à produção social e ao espaço social que, na sociedade cabileña, têm uma estrutura característica das formas pré-capitalistas: são completamente estruturadas de acordo com os princípios da divisão sexual (com a sua dimensão cósmica). A organização interna da habitação Caibile descrita por Pierre Bourdieu reproduz esta divisão sexual do espaço, mas de uma forma invertida. Pelo contrário, a habitação moderna de que fala Philippe Ariès é parte integrante da estruturação do espaço social (público/privado) que descrevemos acima. A sua distribuição interna (tipologia dos quartos, etc.) não é a mesma que a da habitação Caibile. Neste caso, a organização do espaço doméstico visa o desenvolvimento da “intimidade conjugal”, que por sua vez visa “reforçar o casal e não a distinção homem/mulher” (Lefaucher, Segalen, La Place des femmes, La Découverte, 1995).
É verdade que se nos contentamos com o raciocínio segundo “oposições pertinentes” que, neste caso, são traduzidas como uma homologia transhistórica da oposição masculina/feminina, externa/internamente, pública/privada, é difícil perceber a ruptura introduzida pelo capitalismo na estruturação objectiva do espaço social. Mais importante ainda, nada é dito sobre um dos aspectos essenciais do que chamei o processo contraditório de socialização da mulher gerado pelo capitalismo: a igualdade (e, mais geralmente, o egaliberté). Em Introdução Geral à Crítica da Economia Política/1857, Marx explica que “em cada ciência histórica, social […] há que ter sempre presente que o tema - a sociedade burguesa moderna neste caso é algo dado tanto na realidade como na mente, e que as categorias, portanto, expressam formas de ser […] desta sociedade dada” (Editorial S. XXI, México, 198, p. 56). Ou seja, para dar conta da sociedade moderna, não é possível analisar primeiro qual seria a sua objectividade social, para depois lidar com as “ideias”, as formas de representação que acompanham o seu desenvolvimento. A igualdade, tal como enunciada pelo mundo moderno, é uma categoria social, que se refere à existência de uma forma social objectiva.
Imaginário social e “economia de bens simbólicos”
A ausência da análise da igualdade como forma social objectiva é particularmente evidente quando Pierre Bourdieu afirma que tem a vontade de “escapar à alternativa desastrosa entre o “material” e o “espiritual” ou o “ideal” (Male Domination, op. cit., p. 13). Contudo, devemos concluir que este esquecimento é recorrente dado que, por exemplo, quando trata das formas de dominação simbólica do Estado moderno, consegue a proeza de não falar da especificidade do sujeito jurídico-político moderno: o leitor destes textos ignora simplesmente que, pela primeira vez na história, existe um Estado que enuncia a liberdade e a igualdade dos indivíduos-cidadãos.
Além disso, em Masculine Domination, Pierre Bourdieu dificilmente trata do problema da relação salarial moderna. Sem dúvida porque, de acordo com a divisão esquemática da sociedade em campos produzidos pela sua sociologia, ele coloca-a no campo “económico”. Mas é uma relação social decisiva para aqueles que querem compreender as condições gerais de socialização do indivíduo moderno e as suas diferenças com as formas pré-capitalistas.
Mais uma vez aqui Pierre Bourdieu justifica a sua continuidade. Em ambos os casos, as mulheres funcionam como “meios de troca”, uma vez que o seu estatuto é principalmente determinado pelo lugar que ocupam na “economia de bens simbólicos”:
Da mesma forma que, nas sociedades menos diferenciadas, eram tratados como meios de troca que permitiam aos homens acumular capital social e capital simbólico através de casamentos, investimentos autênticos que permitiam estabelecer alianças mais ou menos amplas e de prestígio, hoje também contribuem decisivamente para a produção e reprodução do capital simbólico da família, e em primeiro lugar manifestando, através de tudo o que contribui para o seu aparecimento - cosméticos, vestuário, manutenção, etc. - o capital simbólico do grupo doméstico. Portanto, colocam-se do lado de aparecer, de gostar (Ibid., p. 106)2.
Tudo isto acontece como se o advento do capital simbólico do grupo doméstico fosse o resultado do capital simbólico do grupo doméstico.Tudo acontece como se o advento do capitalismo se traduzisse num simples processo de diferenciação “da economia de bens simbólicos” - em que o casamento é uma peça central - que só se tornaria autónomo se conservasse a mesma estrutura. Mas não é assim que as coisas acontecem. E se quisermos questionar uma abordagem “economicista” da família, é melhor referir, por exemplo, Maurice Godelier: “as relações de parentesco constituem os suportes do processo de apropriação e utilização de terras ou títulos, de estatuto, em suma, de realidades tangíveis e intangíveis, que são apresentadas aos actores sociais como essenciais para a reprodução de si próprios e da sua sociedade” (“O Ocidente, espelho partido” em Taller. Journal of Society, Culture and Politics, vol. 2, No. 5, p. 59). Na sociedade do Antigo Regime, onde as “classes” dominantes são “propriedades”, a questão da “aparência” é decisiva porque é o sinal de uma hierarquia. Isto permite compreender por que razão, ao contrário do que é considerado racional do ponto de vista económico das nossas sociedades, os grandes senhores gastaram fortunas para construir mansões: eram sinais de uma certa hierarquia (Elias, La société de cour, Flammarion, 1985). Permite-nos também compreender as estratégias matrimoniais da burguesia da época, que visavam a nobreza e que, sempre de um ponto de vista “económico”, não eram particularmente rentáveis. Neste contexto, a acumulação de “capital simbólico” através do casamento de mulheres foi um elemento importante, se não mesmo decisivo.
As obras simbólicas a partir da dimensão imaginária de uma relação social. E se este imaginário é constitutivo da objectividade do social, então é difícil referi-lo sem o articular com uma análise mais ampla das relações sociais que regem as condições específicas de reprodução do conjunto de uma dada sociedade. Assumindo que a categoria de “capital simbólico” é pertinente (penso que não é, mas este é outro problema), não pode ser feita como se as condições de produção e reprodução do capital simbólico da família permanecessem as mesmas após o advento da família moderna. A menos que a sua novidade seja ignorada, como faz Pierre Bourdieu quando, mais uma vez, sublinha a continuidade: “As mulheres permaneceram durante muito tempo fechadas no universo doméstico e nas actividades associadas à reprodução biológica e social da linhagem” (La domination masculine, ob. cit., p. 104).
Linhagem: a palavra é significativa. Refere-se a outras categorias tais como maisonnée, mansão, linhagem, que são características, por exemplo, da família do antigo regime, pelo menos a das “classes” dominantes. Neste caso, a reprodução do capital simbólico é decisiva, uma vez que, como salientei em relação à mansão, diz respeito à representação pública (a encenação) de um estatuto sócio-político numa sociedade estruturada em “herdades”. Se, para além da reprodução biológica, as mulheres cumprem uma certa função na reprodução social desta família, não o fazem essencialmente através do estatuto de mulher/mãe que lhes é concedido pela família moderna, que as envolve no espaço do privado. Em vez disso, a sua função desdobra-se ao nível das aparências, na encenação deste estatuto, essencial para a reprodução da linhagem. E, por esta mesma razão, as mulheres neste caso não estão “encerradas no universo doméstico”, dado que esta encenação não é da ordem do privado: a mansão é um espaço “público”, tem um salão, e o papel “público” desempenhado pelas mulheres nos salões durante o século XVIII é bem conhecido.
Vimos que Elisabeth de Fontenay observa que, com o advento da família moderna, o casamento perdeu a sua “dimensão sócio-política” para se tornar um vínculo privado, expulsando as mulheres da vida pública. É precisamente todo este jogo de “aparecer”, com a sua correspondente dimensão pública, que se opõe então à imagem da mulher-mãe cujo domínio é o privado. Este será o ponto de partida para a construção social da feminilidade na sua versão moderna. A mulher já não está do lado do “aparecer”, mas do lado do “privado”. É neste quadro, e do imaginário que o estrutura, que as mulheres começam a participar na “reprodução biológica e social”, não da linhagem, mas desta nova família. E - última observação - a função constitutiva desta família não é a de representar publicamente um estatuto social numa sociedade estruturada de acordo com hierarquias sócio-políticas.
Naturalmente, algumas nuances devem ser acrescentadas para mostrar como, por exemplo, na burguesia do século XIX, onde as estratégias matrimoniais estão ligadas a problemas de transmissão de património e estatuto social ao mesmo tempo, as mulheres funcionam frequentemente como “meios de troca”. Da mesma forma, é evidente que, em certa medida, os “sinais de distinção” de que Pierre Bourdieu fala estão a trabalhar na família (como em outros espaços). Mas o que quero enfatizar aqui é que o modelo teórico (e não esta ou aquela descrição concreta) que propõe para explicar o estatuto da mulher no casamento é completamente exagerado por formas anteriores, nas quais, de facto, a mulher funcionava como “meio de intercâmbio” e a encenação pública da família como “capital simbólico” desempenhava um papel central.
Artigo publicado originalmente por Jacobin América Latina a 15.03.2021
- 1. Sem entrar em pormenores, deve dizer-se que o casal polis/oikia não é homólogo ao casal público/privado moderno, como por vezes parece ser sugerido. Pelo contrário, é interessante notar que, após a emergência da cidade e da cidadania, o único exemplo de uma forma de poder político pré-capitalista e não patrimonial (ou seja, onde o espaço não é estruturado por relações de parentesco), não são apenas as mulheres excluídas do exercício da cidadania, mas Atenas, que é a cidade que mais radicalmente questiona a estrutura do lar (oikia), é também a cidade em que, em comparação com outras cidades, as mulheres são mais enfaticamente excluídas da comunidade cívica.
- 2. Feminilidade situada do lado da aparência, do aspecto e do gosto. Estas fórmulas ecoam as de Piera Aulagnier-Spairani (Le désir et la perversion, Seuil, 1966, p. 72). 72), que se refere a Lacan quando fala da constituição do feminino nas suas relações com o falo: “Onde o rapaz tentará tranquilizar-se afirmando que o que falta à mulher, ele possui […], a rapariga, por outro lado, só pode confessar que o desejo da mãe, se quiser continuar a ser o seu apoio, a obriga a renunciar ao seu ser para parecer, e a parecer aquilo que ela precisamente não é e não tem”. É todo o seu corpo que funciona como um equivalente fálico. Esta abordagem da feminilidade como aparência, como mascarada, é discutida mesmo no âmbito da psicanálise (André, La sexualité feminine, Cruz Publications, 2000). Não sei se Pierre Bourdieu conhece este texto de Aulagnier-Spairani, que na altura teve bastante repercussão, mas em todo o caso permite dar conta da forma como funciona a sua abordagem sobre o estatuto da mulher na chamada “economia de bens simbólicos”. Tudo acontece como se Bourdieu “copiasse” certos elementos da psicanálise a fim de, de certa forma, os dotar de espessura sociológica. Mas se se tiver em conta o estatuto do inconsciente freudiano, esta sociologia do inconsciente é um pouco problemática. E não se pode “emprestar” análises da psicanálise se se “esquece” o que elas pressupõem: um inconsciente que, precisamente, tem muito pouco a ver com a sociologia. Pierre Bourdieu procede de forma semelhante a Lévi-Strauss. Por um lado, toma como dado adquirido - sem o discutir - a tese segundo a qual, ligada à proibição do incesto, o intercâmbio de mulheres é uma dimensão simbólica constitutiva do vínculo social (da passagem da natureza para a cultura). Por outro lado, tenta desenvolver uma abordagem sociológica do fenómeno (na qual se refere, precisamente, à economia dos bens simbólicos), mesmo que para Lévi-Strauss isto não seja, de todo, o que está em causa.