Resistir às Máquinas Identitárias
Sobre Portugal Hoje. O medo de Existir, de José Gil, e «Fado, Futebol, Fátima, Foices e Martelos. Combates pelo senso comum no século XX Português», de Luís Trindade.
Il n’est pas étonnant que la voix du fascisme se fasse entendre lorsque la voix politique se tait. Jean-Luc Nancy
La ligne de fuite est une déterritorialization…[…] Fuir, ce n’est pas du tout renoncer aux actions, rien de plus actif qu’une fuite. C’est le contraire de l’imaginaire.
Gilles Deleuze e Claire Parnet
“O combate (não a guerra) é uma condição da existência. Dele se pode dizer que é fuga: às instâncias molares, dispositivos, que constituem saberes e fixam formas de vida. O combate, diz-se com Nietzsche e Deleuze, faz-se contra o julgamento, o qual estabelece uma relação de dívida infinita para com uma origem, a divindade. Mas, diz também Deleuze, o combate nunca é apenas «combate contra», o que faria da destruição alguma coisa de «justo», nem a fuga ao julgamento é algo que «nos priva dos meios de fazer diferenças entre existentes, entre modos de existência, como se tudo então se equivalesse»” (Critique et clinique, p. 168).
As leituras que me proponho fazer dos dois textos referidos no subtítulo deste ensaio têm o sentido de um combate: combate contra a ideia de que o Homem é uma matéria a moldar ideologicamente; combate contra a lógica do julgamento, «que se confunde com a psicologia do padre», a qual invoca um conhecimento superior inacessível; combate que é exercício de afirmação da existência através das suas decisões, e como tal é fuga a um enquadramento em termos da oposição objectivo/subjectivo.
Compreender a actualidade não é algo que admita uma distinção entre teoria e prática, segundo a qual seria possível limitar-se a uma delas ou à articulação das duas como realidades distintas. Daí que o recurso a conceitos e problemas oriundos de leituras só faça sentido se for parte da construção de textos que os afirmam, isto é, que tornam evidente a sua pertinência, o que pode justamente corresponder à sua deslocação segundo estratégias desviantes e intempestivas. Caso contrário, ou se trata de uma aplicação, que transforma em regra aquilo que é da ordem do exemplo, ou da repetição como reivindicação de uma garantia prévia para uma enunciação, uma espécie de «argumento» de autoridade. Quando há pensamento, um texto pode ser difícil, mas não pode ser um aglomerado de ideias feitas e metáforas gastas dissimulado pela alusão a teorias e nomes que dêem ao conjunto o toque de a la page e o quantum satis de legitimação.

A referência a um conceito e à sua proveniência exige quase sempre que se faça a apresentação do mesmo, sendo essa apresentação uma leitura que fará parte da existência múltipla do apresentado. Um escritor, um pensador, nunca repete um texto anterior. Cito Walter Benjamin: «O bom escritor não diz mais do que pensa. E muitas coisas daí decorrem. Com efeito, o dizer é não somente a expressão mas a realização do pensamento.» (Images de pensée, Christian Bourgois, 1998, p. 236). Tendo Walter Benjamin usado e afirmado a citação como parte importante da escrita, este considerar a inseparabilidade do dizer e do pensar conduz a um entendimento da citação como um dos modos do pensamento enquanto fuga ao automatismo do dizer (dizer o que não se pensa). Com excepção da transcrição exemplificativa, o recurso à citação implica desde logo, e apesar de todas as ressonâncias que pode introduzir, a deslocação do texto citado para um novo texto, passando a significar, por conseguinte, na nova composição. Escrever é sempre fuga em relação a textos (incluindo aquilo que se designa por contextos), a qual se traça diferentemente em relação àqueles que nos incitam, àqueles que, passando despercebidos, fixam os nossos hábitos e àqueles que os vão fixando pela espectacularização da escrita (desenvoltura para épater le bourgeois). Estes vários modos de fuga estão presentes quando se escreve, quando se pensa; são eles que fazem do pensamento um resistir que é simultaneamente um afirmar.
Que «fuga» não seja sinónimo de «evasão», de simples movimento de negação de um estado de coisas que, como no caso das derivas do exotismo, tende a refigurar um Outro como nova ancoragem, mas que corresponda a uma inaugural potência do humano, a uma permanente resistência à codificação, eis o que permite afirmar a primazia do devir e das linhas de fuga em que ele se constitui, sem que isso seja retirar-se do campo social. É que este deixa de ser entendido segundo lógicas binárias que, opondo maiorias e minorias, constituem máquinas identitárias de codificação e sobrecodificação, adjuvantes da consolidação dos poderes de pastoreio e da abdicação da política em nome da redução da vida ao administrável.
A resistência às máquinas identitárias também passa pela sua compreensão, pela análise de exemplos, que são efectivações e não modelos. Por isso, neste texto pretende-se analisar alguns aspectos de dois textos recentemente publicados e que se propõem reflectir sobre a actualidade em Portugal – O texto de Luís Trindade, «Fado, Futebol, Fátima, Foices e Martelos. Combates pelo senso comum no século XX português», e o livro de José Gil, com o título Portugal Hoje. O Medo de Existir. Desenvolvendo perspectivas diferentes e pressupondo narrativas históricas por vezes contrárias, ambos os textos fazem referência a uma instância, o povo português, que o primeiro apresenta como dividida pelo combate enunciado no título do seu texto e o segundo aceita remetendo a discussão da sua unidade para mais tarde e dedicando-se a desenhar-lhe um rosto.
I
O texto de Luís Trindade publicado no nº 2 desta revista (Intervalo) – Fado, Futebol, Fátima, Foices e Martelos. Combates pelo senso comum no século XX português –, reflectindo sobre as condições daquilo que designa como combates pelo senso comum, descreve esses combates como organização de dois campos – o do salazarismo e o das forças organizadas pelo Partido Comunista, sob cuja tutela se desenvolveu o neo-realismo português : «Apesar da sua pluralidade estética e ideológica […], o neo-realismo na sua versão mais institucional e visível compôs o processo de estalinização cuja eficácia permitiu, nas circunstâncias da censura e repressão salazaristas, garantir o único foco de combate permanente à ditadura. O neo-realismo nasceu dialecticamente como antítese da imagem do nacionalismo no exacto momento em que esta atingiu o seu apogeu celebratório pela propaganda salazarista.»

Afirma ainda LT:
Ao longo das décadas de 40 a 70, o movimento [neo-realista] foi-se tornando hegemónico no interior do campo literário e cultural. Por aí, os portugueses puderam ver-se como um povo oprimido, revoltado e insubmisso, rigorosamente ao contrário do povo pré-moderno do nacionalismo.
Deixando agora de lado a afirmação da hegemonia do neo-realismo no campo literário e cultural, sublinhemos que se a imagem alternativa foi construída como antítese, por conseguinte, uma das explicações para o seu desaparecimento, para o desaparecimento da evidência de «um povo de esquerda» é o fim da ditadura. As circunstâncias actuais, caracterizadas como dos «felizes dias televisivos», fazem com que os portugueses aceitem cegamente a imagem que lhes impõem, sem suspeitarem de que ela é a mesma que combateram, ou que está em continuidade com aquilo que combateram:
[…] enquanto entretenimento, na medida em que menos ideológicas parecem, tanto mais as ideologias das formas da cultura de massas agem com eficácia. Por outras palavras, o nacionalismo – que é forçosamente do que falamos quando falamos, hoje, de cultura portuguesa –, enquanto ideologia, inscreve-se profundamente nos automatismos quotidianos precisamente porque não se assemelha a uma construção: é divertido, atraente e não requer esforço (a identidade parece inata, como se fizesse parte da natureza das coisas)
LT considera que algo aproxima as imagens identitárias dos anos 30 e 40 das da actualidade, na qual a televisão veio substituir o papel do jornalismo massificado: «Num caso como no outro, o mecanismo dominante procedia a uma eficaz ocultação ideológica da realidade.» É por referência a uma tal ocultação que LT vai estabelecer uma distinção entre a realidade e a percepção social dela. Diz ele: «A esquerda, as suas tradições e a sua cultura política, desapareceu menos da realidade do que dos mecanismos que constroem as novas percepções sociais.» O texto de LT está preso à noção de ideologia, o que é solidário do seu não-distanciamento face ao combate descrito, o qual, enquanto luta pelo senso comum (e quaisquer que tenham sido as vantagens materiais que os portugueses dele tenham retirado), não deixou de constituir uma força contra a afirmação de cada indivíduo enquanto multiplicidade heterogénea criadora. Ao retomar uma reformulação da noção de ideologia proposta por Zizek, LT não tem em conta que esta mesma noção pretende conciliar duas ideias inconciliáveis: a ideia de uma realidade que pode ser referida independentemente da representação e a da representação como construção da realidade. Zizek aprofunda e esclarece a noção marxista de ideologia acrescentando que esta não é apenas uma visão falsa da realidade, mas uma visão que constrói a realidade nas representações que dela faz.
Ora, quando se concebe o entrelaçamento de representação e construção da realidade, qualquer ideal de transparência se torna inconsequente, o que põe em causa a designação de «realidade falsa» e o seu oposto, «realidade verdadeira». A ideia de transparência é ela própria parte de um uso que, ao iludir a impossibilidade de averiguar a coincidência ou afastamento entre representação e realidade, só pode supor algures uma instância, um tirano, que os ateste, de modo absolutamente autoritário. Por outro lado, se se continua a considerar que a ideologia tem uma função enganadora como suporte da exploração, isso deveria levar a admitir que o combate antitético por um senso comum correspondeu igualmente à imposição de um desígnio unificador, identificado com uma necessidade histórica – a construção do Homem Novo e de uma sociedade totalitária –, da qual a tirania de Estaline se reclamou para impor um Estado assente no terror e na aniquilação de qualquer suspeita de crítica ou discordância.
Pôr em evidência a construção de discursos e/ou espectáculos que iludem a sua função legitimadora da exploração implica uma reflexão sobre a produção de discursos, os procedimentos que os sobredeterminam e as práticas de resistência a essa sobredeterminação. A complexidade que se torna evidente e que impede qualquer naturalização (assente em doutrinas deterministas da história) de uma ideia de esquerda não impede que se encontrem linhas de um antagonismo fundamental – aquele que opõe a afirmação da igualdade como um axioma à naturalização da desigualdade – e que se perceba que só daquela afirmação, que passa pela crítica, pode decorrer um combate aos mecanismos de destruição da vida dos indivíduos (física ou espiritualmente).
Qualquer que tenha sido o contributo do neo-realismo para o advento do 25 de Abril, não é possível separá-lo do conteúdo doutrinário do horizonte político que o suportou e através dele prosseguiu a pretensão de contenção da literatura nos limites de um uso instrumental que efectivamente a anularia e com ela a capacidade (política) humana de fugir ao rebanho. Porém, também não é correcto considerar tudo o que se construiu sob a designação «neo-realismo» como se não passasse do cumprimento de um programa. Sabemos que efectivamente assim não é. Por outro lado, importa não esquecer que qualquer obra literária pode funcionar como um documento para o historiador (Walter Benjamin: «todo o documento de cultura é também um documento de barbárie»), mas é sobretudo pelo que nela não é documento (a capacidade de devir, que é a da sua forma) que sobrevive.
Encontrando na manifestação aquando do funeral de Álvaro Cunhal a evidência de que existe um povo de esquerda, LT confronta-se com a afirmação Existe uma cultura, um povo e uma história de esquerda em Portugal e interroga-se que povo era aquele?
Segundo a imagem com que nos habituámos a identificar o povo português, não é normal vê-lo a tomar posições políticas, e muito menos celebrando alguém que se sacrificou até aos limites da resistência física por uma causa comum. Precisamente ao contrário, os portugueses hoje parecem estar antes de mais preocupados com o seu conforto privado.
Embora a designação «povo» e as suas adjectivações «povo de esquerda» e «povo de direita» sejam bastante equívocas e dificilmente possam ser hoje usadas sem confusão, é possível admitir que a afirmação Existe uma cultura, um povo e uma história de esquerda em Portugal tenha sido suscitada pela referida manifestação exactamente por se ter tratado de uma celebração que, estando distante de um qualquer gesto de afirmação hegemónica, podia acolher uma memória suscitada por alguém que, não podendo ser reduzido a alguns símbolos, aparecia ele próprio como memória de luta e resistência.
Estou de acordo com LT ao admitir que a situação actual se apresenta em larga medida como a de abandono da política. Considero que esse abandono não pode ser contrariado em termos de reactualização de um combate pelo senso comum, importando sublinhar a dissimetria dos «combates», a qual torna imperiosa a necessidade de pensar a política fora da oposição/complementaridade entre o comum e o privado, pois sobre ela se constrói o paradigma do bio-poder, que é em si mesmo negação da política e, como viu Foucault (É preciso defender a sociedade, ed. Bertrand, pp. 255-280), assentando na afirmação de uma identidade contra outra ou outras, é inevitavelmente racista. Impõe-se então pensar a política, na medida em que esta é combate pela justiça, pela liberdade enquanto afirmação da singularidade que cada um possui em comum com os outros, abrindo no em-comum o espaço da não-identidade.
Num texto também recentemente publicado, encontro uma formulação desta em-comum ausência de comum que passo a citar:
O vazio não é o abismo – que é o inverso exacto do totem comunitário (é mesmo para muitos o último totem). E nem sequer é um «buraco» que daria para uma dimensão outra que política, ou para uma outra-política […]. O vazio é a falta de substância identificatória (ou a falta de um Sujeito – qualquer que seja a sua proveniência histórica e ideológica: Pátria, Raça, Classe, etc.: toda a galeria das figuras de um Pai ausente ou meurtri). O vazio é a inexistência de Causa comum entre os humanos. Num sentido, ele não deixa de coincidir com a linguagem (que nos distingue enquanto humanos sem que seja nossa Causa). É portanto o que permite aos seres singulares relacionar-se na sua singularidade absoluta, e eis porque não há política sem voz e que se não articule de viva voz, quer dizer, sem experiência singular da linguagem. (Federico Ferrari, Tomás Maia, Federico Nicolao, La convocation, Chorus, 2006, p. 9, trad. minha)
A ideia de povo é uma daquelas através das quais se confere unidade ao que não tem medida comum – uma população na sua heterogeneidade irredutível. Mas não só. Desde sempre carregada de ambiguidades e equívocos, a palavra «povo» é muitas vezes usada como sinónimo de «classes populares», por oposição a «classes altas», ou sinónimo de «classes trabalhadoras», por contraponto a «capitalistas», usando essa oposição como ampliação da ideia marxista de luta de classes assente na oposição entre proletários e detentores dos meios de produção. É neste sentido que ela parece ser usada no texto de LT, onde se fala de um «povo de esquerda», mas o que se designa como «direita» não é chamado «povo». Assim sendo, «os portugueses» não aparecem como um povo, mas como uma nação dividida, o que significa que para além da pertença ao «povo de esquerda» ou à «direita» se estabelece uma outra pertença – a nação. O que significa que independentemente de se ser de esquerda ou de direita se é «português». E este ser português não é apenas residir num território comum, falar a mesma língua e estar sujeito às mesmas leis e à mesma administração, é assumir a pertença a uma unidade mítica, a nação portuguesa. E essa unidade sobrepõe-se de tal modo à divisão que a partir dela LT diz «a nossa direita». O uso insensato do «nós», aquele que fazemos quando há encontro, acontecimento, vai contra a ideia de pertença: alguém que diz «nós» afirma uma ligação ao outro, sendo a ligação ao mesmo tempo o desfazer de si e do outro como identidades e aquilo que mantém a tensão diferenciante. Mas quando se diz «a nossa direita» está-se a assumir uma identidade comum (acima dos indivíduos, dos grupos, das classes), que corresponde a uma comunidade nacional. LT apresenta o combate da direita por um senso comum como sendo ideológico e portanto, como vimos, não só afastado da realidade, mas também legitimador da exploração. Não poderia então ignorar que o «mito» de uma identidade de carácter e história, acima de todas as divisões, permanece quando se diz «a nossa direita», permanece portanto a construção nacionalista de uma unidade orgânica em que cada um tem o seu lugar estabelecido por um sistema de divisões e hierarquias decorrentes da repartição de dons e riquezas tidos como naturais. Nesta tradição naturalizadora, a palavra «povo» é usada de dois modos diferentes – para designar a comunidade («o povo português») ou para designar uma parte do conjunto, a maioria, tida como inferior («povo» corresponde então a «naturalmente incultos», «trabalhadores», «massas»). Tal ambiguidade é interior à palavra «povo», que, significando uma unidade natural, significa também no seu interior as divisões «naturais», a partir das quais cada um tem lugar marcado. A afirmação política supõe pois que se pensem as naturalizações que o uso espontâneo da linguagem carrega consigo, isto é, supõe que não se perca a memória de resistência à opressão, mas também não se esqueça que tudo aquilo que pretenda unificar essa resistência e impor-lhe finalidades, a limita, debilita e acaba por negá-la.
Daí que a afirmação de LT na conclusão do seu texto deva ser questionada.
Diz ele:
O testemunho revolucionário é útil, nos nossos felizes dias televisivos, para mostrar o caos que nos espera se pusermos em causa uma felicidade que já ninguém se lembra como custou a conquistar.
Podemos dizer que a afirmação da importância do testemunho revolucionário é pertinente, mas somente na medida em que este seja mais do que memória, seja disposição para pensar a política fora da subordinação ao combate por um senso comum e à crença de que a luta pela manutenção de direitos adquiridos pode constituir o essencial da política. Mas essa subordinação parece estar no horizonte político de LT, o qual coloca como causas ou sintomas de todos os males a perda de uma felicidade conquistada, conforme excerto acima, e a inexistência actual do neo-realismo, como se lê em seguida:
Hoje, sem política nem literatura, o poder actuante do neo-realismo desapareceu. Todos os dias, pela televisão, os portugueses reaprendem a ser portugueses nas telenovelas, nos telejornais e na publicidade.
II
É inegável que o poder de amestramento da televisão é um contributo importante para a dita «reaprendizagem», isto é, para que a voz do fascismo se faça ouvir. Como se lê numa das epígrafes deste texto, quando a voz política se cala tal não é surpreendente. E a televisão, Pasolini bem o viu nos anos 60, é usada como uma máquina de calar a política.
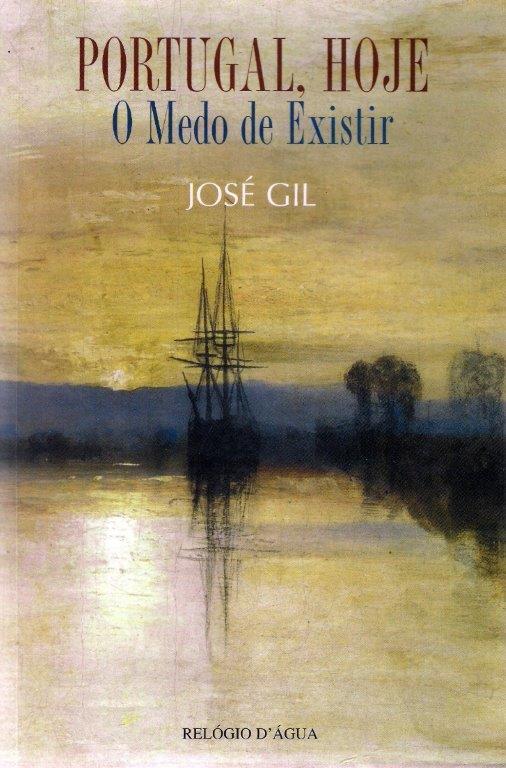
Surpreendente a «fortuna crítica» do livro de José Gil Portugal Hoje. O medo de Existir na televisão?
Não, não surpreende, porque: 1. a televisão é cada vez mais o lugar do sensacionalismo, e é como tal que recebe um livro que vem de um autor recentemente apresentado numa selecção de «25 grandes pensadores do mundo inteiro» (de e não dos) feita pelo Nouvel Observateur, apresentação que a notícia dada por um jornal português, o JL, converteu, primeiro (5/01/05) em «um dos “25 grandes pensadores do Mundo”» e em seguida (19/01/05) em «José Gil é considerado pelo Nouvel Observateur um dos “25 pensadores mais importantes do mundo inteiro”»; 2. o livro possui um título sensacionalista, um título que promete pensar Portugal na actualidade e que sugere uma conclusão «dramática», ao gosto das grandes audiências – o medo de existir; 3. o livro é fundamentalmente constituído por um conjunto de estereótipos de que o mau jornalismo tem usado e abusado, apresentando-se no entanto como pensamento; 4. o livro é composto por repetição e confusão: diz-se repetidamente que os portugueses têm medo de existir e atribui-se-lhes uma série de qualidades negativas – dominados pela inércia, distraídos e apáticos, não-cumpridores da lei, pícaros (o «Chico-esperto»), medrosos e invejosos – e estabelece-se a confusão através do permanente recurso a pseudo-explicações, que assentam num «raciocínio» central: os portugueses não inscrevem porque têm medo, têm medo porque não inscrevem, e daí advêm todos os seus vícios. Os leitores que «imaginam» conseguir ver o que o autor vê sentem-se bem, pois isso significa que estão na companhia de quem sabe (como na história «O Traje Novo do Rei»), e de alguém que tem «boas referências», que recorre a Deleuze e Foucault com à-vontade, mas também sabe reconhecer os méritos políticos de Cavaco Silva.
JG propõe-se pensar uma figura do senso comum, «os portugueses», dizendo:
Discutiremos mais adiante a legitimidade de falar dos «portugueses», como uma entidade una e indiferenciada – o que põe imensos problemas. Vamos supô-los em parte resolvidos. Notemos apenas, por ora, que todos os portugueses falam constantemente dos «portugueses» que são «assim» ou «assado». Mesmo como ficção, ou ilusão da opinião, essa entidade existe e merece que se pense nela (p.15).
Só a aposta na confusão pode supor resolvidos ao longo de todo o livro os imensos problemas que a substancialização de «portugueses» implica, e admitir que em lugar da prometida discussão bastam umas «notas finais» ( já exteriores ao texto, que se encerra com uma data, Setembro de 2004), onde se diz que «o objecto do texto aproxima-se mais do que os historiadores chamam “mentalidades”». A noção de mentalidades não aparece ao longo do livro, e no entanto nessas «notas finais» ela aparece como a noção importante nele, enquanto que as análise psicológicas, que constituem o essencial das «explicações» apresentadas, são completamente ignoradas pela afirmação final de uma intenção que se diz que foi a do livro: «Então as “mentalidades”, os comportamentos sedimentados, equivalem a regras sociais e institucionais e devem ser tratados como tais, e não como características da “psicologia dos povos”. Foi nesse sentido que se tratou cada exemplo que foi dado, cada facto-anedota descrito» (p. 147). O livro não analisou, descreveu, ou sequer referiu quaisquer «regras sociais e institucionais», mas diz que sim nas «notas finais», como se isso bastasse, e pelos vistos bastou, para aqueles que se apressaram a caucionar a campanha publicitária.
Voltando à leitura do excerto citado acima, nele JG entende que «Mesmo como ficção, ou ilusão da opinião, essa entidade [os portugueses] existe e merece que se pense nela». Nem todas as ficções ou ilusões merecem com certeza para JG que se pense nelas. O que justifica que se pense nela é então o que se dizia imediatamente antes: «todos os portugueses falam constantemente dos “portugueses”». Ou seja, o que justifica que se pense nos portugueses como unidade é que eles fazem de facto uma unidade, nem que seja só porque têm em comum uma ficção, a da unidade dos portugueses. O que JG não diz é que a expressão «todos os portugueses falam constantemente dos portugueses» não tem, não pode ter, nenhum fundamento empírico. Se recorresse à estatística poderia, eventualmente, quando muito, dizer «uma maioria», e isso obrigá-lo-ia desde logo a deixar de se referir aos portugueses como uma unidade. Admitindo agora que, em certas circunstâncias, seja interessante pensar as ficções de uma maioria, importa saber em que consiste o pensá-las: por exemplo, saber como se constituíram tais ficções, como é que elas funcionam, que dispositivos as mantêm e pretendem perpetuá-las. Nada disso JG faz, limita-se a recolher elementos de ficções que circulam e a propor para eles uma justificação construída segundo um figurino «moderno», que os seus leitores «mais cultos» não terão vergonha de caucionar e usar.
As características que JG considera definidoras dos portugueses são na verdade uma compilação de estereótipos que se faz passar por um pensamento apoiado na observação do imperceptível, numa atenção a casos aparentemente insignificantes, os «factos-anedota». A apresentação dos «factos-anedota» ignora porém duas coisas: uma é que facto e ficção não são separáveis; outra, correlata da primeira, é que a selecção ou invenção dos exemplos pode ser feita em função daquilo que se pretende demonstrar. Haveria «factos» que, enquanto exemplos, As características que JG considera definidoras dos portugueses são na verdade uma compilação de estereótipos que se faz passar por um pensamento apoiado na observação do imperceptível, numa atenção a casos aparentemente insignificantes, os «factos-anedota». A apresentação dos «factos-anedota» ignora porém duas coisas: uma é que facto e ficção não são separáveis; outra, correlata da primeira, é que a selecção ou invenção dos exemplos pode ser feita em função daquilo que se pretende demonstrar. Haveria «factos» que, enquanto exemplos, serviriam melhor para demonstrar aquilo que JG pretende, haveria outros que serviriam para demonstrar outros traços. Mas não é isso que importa aqui. JG poderia ter construído uma ficção dos portugueses a partir das suas leituras de autores portugueses, da sua observação do comportamento de alguns indivíduos, ou apenas da paisagem, da arquitectura, etc.; e essa ficção poderia ser interessante se, enquanto inscrição de uma singularidade fosse abertura, pensamento, e consequentemente fuga aos lugares comuns. Mas a ficção a que chegou não corresponde em nada a um testemunho, naquilo em que ele é único e insubstituível. Ela é uma ficção já gasta, cujo único efeito, se lida com alguma atenção, seria o de colocar o seu autor entre aqueles de que fala Eduardo Lourenço em O Labirinto da Saudade:
Não desmente esta análise o reflexo pícaro por excelência de uma «maledicência» quotidiana de café sobre nós mesmos. Quando não é o sintoma mesmo de uma degradação masoquista é um jogo que faz parte intrínseca do acriticismo, do irrealismo de fundo de um povo que foi educado na crendice, no milagrismo, no messianismo de pacotilha, em suma, no hábito de uma vida pícara que durou séculos e que uma aristocracia indolente e ignara pôde entreter à custa de longínquos Brasis e Africas. (LS, p. 49)
Que interessa que JG diga, nas «notas finais», que «nenhum pressuposto catastrofista ou optimista quanto ao futuro do nosso país subjaz ao breve escrito agora publicado»? Pode-se até admitir que seja essa a intenção, porém o que não se pode ignorar é a dimensão performativa de uma escrita que, em primeiro lugar, traça um retrato dos portugueses, não podendo esse traçar, qualquer que fosse a figura obtida, corresponder senão à construção/ratificação de ficções (combates pelo senso comum) que constituem forças asfixiantes das singularidades (sem as quais o em-comum não poderia ser subtracção a modelos e ideais) e que, em segundo lugar, constrói uma figura onde o que domina é a impotência, a inércia, a inveja e o medo. As pseudo-justificações psicologistas desses traços de carácter constituem em grande parte essa força performativa pela capacidade de sedução que apresentam: contrariamente ao que poderia parecer de imediato, a explicação que rebaixa um «nós» para o lugar do último dos homens pode ser sedutora para esse «nós». Isso acontece quando há vontade de identificação com o promotor do «nós». Aquele que consegue ver os defeitos dos outros nunca se identifica inteiramente com eles, o seu dizer «nós» supõe sempre uma certa distância (que poderá ser a distância da crítica, ou não), por conseguinte aqueles que o lêem e com ele se identificam participam dessa mesma distância, reforçam o seu narcisismo por identificação com uma operação de vexação de um outro com cuja ficção se não podem identificar se querem estar à altura de também ver. As indústrias do entretenimento televisivo prestam-se a este tipo de identificações na medida em que prescindem do pensamento e colocam em primeiro plano a retórica, a performance persuasiva, ela própria engendrada pela continuidade entre informação, divulgação e preenchimento de tempos livres, que não é mais do que a amálgama confusa que manipula os telespectadores e os prepara para outros tipos de manipulação.
Ao traçar o retrato dos portugueses nos termos em que o faz, JG coloca-se desde logo numa posição que está nos antípodas daquela que é a de Eduardo Lourenço em O Labirinto da Saudade, pois neste livro as imagens, ficções, são associadas a vários tipos de poder exercidos por alguns, que se colocam sempre como educadores ou modeladores de outros, a quem consideram como a massa educável:
Aceitemo-nos com a carga inteira do nosso passado que de qualquer modo continuará a navegar dentro de nós. Mas não autorizemos ninguém a simplificar e a confiscar para benefício dos privilegiados da fortuna, do poder ou da cultura uma imagem de Portugal, mutilada e mutilante através da qual nos privemos de um Futuro cuja definição e perfil é obra e aposta da comunidade inteira e não dos seus guias. (LS, p.118)
Este excerto de EL, que é apelo e promessa, supõe um conhecimento da função que as várias ficções dos portugueses tiveram ao longo da História de Portugal, que não é só essas ficções, mas também é essas ficções. Elas fazem parte de um passado que, sublinhe-se, «continuará a navegar dentro de nós». O passado, tal como é concebido nesta passagem, não é algo inscrito ou não-inscrito em definitivo, mas sim a inscrição do irreversível que infinitamente se reescreve: enquanto navegação, essa reescrita está para além de diagnósticos, profecias e doutrinações, modos de cercear a errância. Não é preciso concordar com todas as ideias e análises de O Labirinto da Saudade para reconhecer nele um pensamento que não se centra na averiguação de quem, ou como, são os portugueses, mas que se dedica a compreender que forças sociais e intelectuais estiveram/estão implicadas nos retratos de si aceites ou recusados por portugueses e como é que esses retratos foram performativos.
É estranho que JG não refira nunca O Labirinto da Saudade, livro que não se limita a analisar imagens de Portugal literária e filosoficamente construídas – dividindo-as no fundamental em dois grupos, as que se pretendem retrato da mediocridade que é o presente dos portugueses nas épocas a que dizem respeito e as que colocam um passado mítico como fundamento de uma visão exaltante do futuro –, mas vai muito para além disso pois permite ver que há na literatura portuguesa vários momentos (Pascoaes, Pessoa, o surrealismo) em que a ideia do ser português, da identidade do português, foi desconstruída ou abandonada, emergindo nesses momentos a possibilidade de pensar um outro messianismo (aproximável da ideia exposta por Derrida de um messianismo sem Messias)? É estranho que o livro de JG insista numa explicação psicanalítica e não diga que essa sugestão vem do livro de EL? É estranho que repita outras sugestões do mesmo livro, como veremos mais adiante, e nunca o refira? Não, não é estranho, se reparamos que um livro que se pronuncia sobre «os portugueses» em momento nenhum recorre a textos da cultura portuguesa, que formam em grande parte o meio em que vivemos. Uma tal ausência configura o tipo de menosprezo referido em O Labirinto da Saudade, nestes termos:
Fragmentos preciosos do conhecimento de nós mesmos […] não faltam na nossa insatisfatória mas sempre activa produção cultural. O que é mais grave –porque é até em parte de ordem técnico-cultural – é que esses fragmentos existem eles mesmos num espaço de comunicação fragmentada, à mercê de um tipo de existência quase clandestina […] e mais tristemente ainda menosprezada, sem leitura produtiva, pelo simples facto de serem nossos. Citar um autor nacional, um contemporâneo, um amigo ou inimigo, porque nele se aprendeu ou nos revimos com entusiasmo, é, entre nós, uma raridade ou uma excentricidade como usar capote alentejano. (LS, p. 72)
Em Portugal, Hoje, os portugueses, e não apenas os de hoje, são vistos como inferiores a outros povos: é um povo que não inscreve, e daí lhe advém o carácter medroso e invejoso. Apontar esta imagem aos outros, também é, diga-se de passagem, uma espécie de seguro contra todos os riscos – se alguém afirmar a sua recusa de pactuar com tal retrato isso justificar-se-á, logicamente, ou porque não é português, ou porque é invejoso, porque não gosta de ver o sucesso dos outros, como se diz no livro.
O psicologismo que, através da noção de não-inscrição, é dominante no livro de JG, vem de uma longa tradição do nacionalismo português, que também ele usou e abusou do psicologismo, admitindo que os portugueses são diferentes dos outros povos (outros homens) por sentimentos específicos (veja-se a filosofia portuguesa, o saudosismo). O Portugal, hoje, do livro de JG, com prédios mais altos e mais fartura do que no passado, é determinado por um medo que vem de longe, não se sabe de onde. A «capacidade» de ver muito longe no passado, é comum a JG e aos ideólogos do nacionalismo, sendo nestes assumida como fundamento para o paternalismo no presente. E com efeito, educar e/ou dar um puxão de orelhas, a que mais poderão corresponder os avisos protectores de quem sabe? Na actual «democracia», Fado, Futebol e Fátima rolam por si, até os mentores vivem já só do espectáculo e do entretenimento, têm só que aparecer. O livro de JG, na medida em que parece distanciar-se, capta um público que pode participar de um «coro de descontentes», que gostaria de compatibilizar os privilégios «intelectuais» de um regime anterior de poder com os ideais tecnocráticos actualmente vigentes (progresso e desenvoltura acima de tudo).
Vejamos mais em pormenor como é que se constrói a confusão em Portugal, Hoje, começando por prestar atenção às suas referências. A História de Portugal que serve de referência a JG está nos antípodas daquela que serve de referência a Luís Trindade no texto publicado no nº 2 de Intervalo. Assim, quanto ao que JG apresenta como momentos importantes da História mais recente:
Mais recentemente, a partir do fim dos anos 80 […] um acontecimento único na história de Portugal, o enriquecimento súbito, possível, para uma grande parte dos cidadãos […]. Para compreendermos melhor este último factor de transformação das mentalidades, num processo ainda em curso de abandono da pequenez e da conquista de uma outra dimensão […]. O corte operou-se com o cavaquismo, e com a torrente de dinheiro que choveu sobre Portugal vinda da Comunidade Europeia. «Enriquecei!», eis a palavra de ordem da política económica cavaquista, que ecoou aos ouvidos dos portugueses como uma libertação. […] Que significava poupar? Restringir o desejo ao mínimo indispensável para criar um «pé-de-meia». (pp. 67-68)
Uns prédios altos, umas auto-estradas, uns megacentros comerciais, e já agora, uns megaestádios de futebol, e lá se vai a pequenez dos portugueses… Seria preciso citar na sua totalidade as páginas 68 e 70 para ver as surpreendentes relações entre a riqueza e a libertação, entre o abandono da poupança e a intensificação do desejo. O que foi citado já dá uma ideia, mas sublinhe-se ainda o modo como a referida «poupança» é a causa de tantos males:
Redução do espaço de expansão dos corpos, dos movimentos próprios de exploração, de investimento afectivo, de liberdade corporal, de espontaneidade do desejo. Controlo permanente, autodisciplina mutiladora da vontade de vida (e da vida da vontade). Além do desenvolvimento de um certo egoísmo social que limita a generosidade e a solidariedade, tão largas em geral nas sociedades de pobreza. (p. 69)
Enfim, os portugueses de antes do cavaquismo nem sequer eram como os outros pobres (generosos e solidários). Se a poupança em Portugal foi, como se diz, uma estratégia de sobrevivência, porque é que os portugueses adoptaram essa estratégia que outras sociedades de pobreza não adoptaram? Sobre isso nada se diz, e por conseguinte, é mais uma vez o fatalismo confuso a insinuar-se. Mas, perguntase, que portugueses? E o que será a espontaneidade do desejo? É o consumo? A riqueza e o esbanjamento, opostos de pobreza e poupança, não são evidentemente mais favoráveis à solidariedade e generosidade, as quais estiveram (estão) associadas, também em Portugal, à resistência à injustiça e ao aviltamento. Dê-se como exemplo o poema de Sophia de Mello Breyner «Catarina Eufémia», onde a descrição de um gesto de resistência é ela mesma afirmação de resistência. Mas como é que alguém pode aplaudir a vontade de enriquecimento e a consequente destruição de espaços urbanos e naturais pelas construções dos endinheirados e a especulação imobiliária? Será isso solidariedade ou generosidade? No dizer de JG, a palavra de ordem «enriquecei» está na base de uma abertura do horizonte do espírito. Leia-se:
Compreende-se como a nova ordem cavaquista veio, primeiro, perturbar, depois revolucionar estes hábitos rígidos do homem português. […] O «enriquecei» cavaquista provocou talvez as primeiras brechas profundas na experiência do espaço e do tempo do povo português desde há séculos. Se não a modificou ainda, iniciou um processo que, vindo de fora, atingiu estratos de hábitos e mentalidades que começaram enfim a deslocar-se. Porque foi o próprio espaço exterior – rodoviário, urbanístico, territorial – que sofreu transformações radicais. Ao mesmo tempo, os corpos portugueses foram, muito lentamente, adquirindo novos gestos, perdendo velhas estereotipias. Eles próprios vão modificando o seu metabolismo interno. O horizonte do espírito e do pensamento leva mais tempo a abrir-se e a alargar-se. (p.70-71)
Comentário: como diriam os franceses, «Portugais, encore un effort, si vous voulez être cavaquistes». Mais adiante, o mesmo assunto regressa:
Tudo mudou, com o cavaquismo. Enquanto o tema do «povo que não presta», «não trabalha», da «falta de competência» inscrito no código genético dos portugueses continuou – e continua – a sobreviver, se bem que de modo menos constante e agressivo, o queixume privado quase desapareceu. Para ocupar o seu lugar desenvolveu-se neste princípio do século XXI, o protesto, a indignação, a contestação. (p. 101)
Seria bom que JG dissesse como é que obteve as informações sobre o «código genético» dos portugueses. Como metáfora, sem metáfora, com ironia ou sem ela, a expressão «o código genético de» (qualquer povo) é de muito má memória.
Quanto à ideia de uma tradição de resistência e de combate político, leia-se:
Com efeito, no tempo de Salazar «nada acontecia» por excelência. Atolada num mal difuso e omnipresente, a existência individual não chegava sequer a vir à tona da vida. (p.17); [O salazarismo] criou um clima de anestesia e de obediência generalizadas. (p. 24)
Não é que JG não reconheça que houve «clivagens – verticais, hierárquicas ou de classe» (p. 62). Delas nada diz, mas curiosamente acha outras dignas de «um longo estudo», que apenas esboça, e resumidamente apresenta. É uma história em que a repressão cultiva a virtude e se deleita com os seus infortúnios:
Digamos apenas que o próprio espaço urbano se fracturava em dois, desenvolvendo-se na zona clandestina uma outra cidade, com outros sujeitos, outros códigos de comportamento, vivendo como que uma liberdade ao avesso e uma vida amorosa intensíssima. (p. 65)
Estranha concepção, esta, de «vida amorosa intensíssima», a qual não pode senão redundar num elogio da situação que a propicia.
JG não dá só a visão da história que consta dos excertos citados acima, embora essa seja a visão que domina, por vezes ele «dá uma no cravo e outra na ferradura», o que, tomando mais ou menos à letra essa expressão popular, quer dizer que, em certas passagens, poucas, também admite uns cravos, também dá os seus elogios ao 25 de Abril, embora diga:
O 25 de Abril não libertou os corpos senão formalmente, como não alargou o horizonte dos espíritos senão teoricamente. (p.68)
Depois de apresentada mais esta distinção de «alta filosofia», vejamos, ainda no domínio dos factos, como é que JG vê a relação dos portugueses com a lei:
A não-inscrição surge, talvez, como o factor mais importante para o que podemos chamar a estagnação actual da democracia em Portugal. Apesar das liberdades conquistadas herdámos antigas inércias: irresponsabilidade, medo que sobrevive sobre outras formas, falta de motivação para a acção, resistência ao cumprimento da lei, etc,etc. (p. 43)
A resistência ao cumprimento da lei não era fácil, como todos sabem (o grande rol de presos políticos decorreu dessa resistência), o que significa que tinha que haver motivação para essa acção e que ela não pode ser considerada como uma das antigas inércias. Veja-se agora outra passagem:
O que faz então o português esperto? Nada. «Anda por aí.» Reserva-se o direito (privado e, por isso, humano por essência), de não obedecer à lei. É a sua tendência à não-inscrição que opera. Faz desse espaço de tolerância um espaço de não-inscrição por excelência. Daí a verdadeira repugnância em cumprir as leis – que não deriva de um qualquer espírito de rebeldia ou de negação do poder, mas de vocação lusitana para o não-acontecimento. (p. 85)
Apagada que fica qualquer hipótese de os portugueses assumirem a rebeldia como parte da sua herança de resistência às leis fascistas, vem o outro lado, para completar o retrato:
A burocracia, o juridismo pertencem curiosamente àquele mesmo fundo que engendra a deambulação barroca do «ando por aí». […] daí a necessidade imperativa e maníaca de notar, de registar o menor desvio, a mínima falta, como se a vida virtuosa e a cidadania perfeita resultassem do mais rigoroso cumprimento da lei. (p. 89)
Concluindo, os portugueses podem cumprir a lei ou não cumprir a lei, porque vai sempre dar ao mesmo (preso por ter cão, preso por não ter…), o principal é mesmo que nascem com o defeito da não-inscrição e a ele ficam condenados. Passando das referências históricas às referências teóricas, dão-se em seguida alguns exemplos.
1. Foucault e Deleuze
Se empregássemos a terminologia de Foucault e Deleuze, diríamos que Portugal está em fase de transição de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controlo (noutros termos ainda: está entre uma modernidade em que nunca entrou e uma pós-modernidade que nos vai aos poucos invadindo). (p. 45)
Note-se que aquilo que está entre parêntesis, apresentando-se como expressão equivalente da anterior, de facto não o é: a sociedade disciplinar, descrita por Foucault, não corresponde ao antes da modernidade. Aquilo que se diz entre parêntesis corresponde sim ao que foi dito da sociedade portuguesa por Boaventura 20 de Sousa Santos em Pela Mão de Alice. Deve ser essa confusão que permite que do parágrafo citado acima em que se fala de transição de uma sociedade para outra, se passe no parágrafo seguinte a falar de neutralização:
A normalização da sociedade actual resulta da tensão, e consequente neutralização, destes dois pólos: o pólo disciplinar que perpetua velhos reflexos de obediência, suscitando subjectividades pré ou protomodernas, e o pólo de controlo, em que os mecanismos regulamentares decorrem directamente do funcionamento tecnológico dos serviços […]. (p. 45)
Descontando alguns disparates (em termos lógicos, aquele que consiste em dizer que a tensão tem como consequência a neutralização; em termos de conhecimento da técnica, aquele que consiste em dizer que «os mecanismos regulamentares decorrem directamente do funcionamento tecnológico dos serviços», como se o controle decorresse apenas da tecnologia e não da política e cultura que orientam o seu desenvolvimento e usos), imagine-se o que seja uma sociedade em que dois regimes de poder se neutralizam. Uma sociedade onde não há poder? Como seria isso?
Realmente os portugueses seriam muito especiais… Mas mais adiante JG já diz outra coisa:
Como consequência desta tensão, os hábitos de obediência e submissão que os portugueses trouxeram do autoritarismo salazarista mal começaram a desintegrar-se foram logo apanhados pelas tecnologias de controlo que surgiam. […] Não há outras vias (políticas, económicas, sociais), não há outra maneira de viver, de educar, de instruir, de tratar, de organizar o lazer, de viajar, de se divertir, de amar. A abertura à Europa e ao mundo oferece-nos nesta sociedade normalizada a tecnociência ao serviço da globalização. (p. 46)
Repare-se como todo o resto de Portugal, Hoje é anulado por afirmações tão peremptórias, como as anteriores, e as que se seguem. Afinal os portugueses já estão, irremediavelmente, como os outros, isto é, normalizados, e é por isso que estão apáticos e anestesiados, como se pode ler no que em seguida se transcreve:
O empobrecimento do horizonte dos possíveis explicaria assim a apatia, a anestesia da sociedade portuguesa. Por exemplo, não é concebível, hoje, a abertura a outras dimensões existenciais como o quiseram e fizeram os movimentos literários e artísticos do século XX. Dir-me-ão que se faz actualmente outra coisa. Sim, mas no quadro da normalização da sociedade. Não se tenta sequer ultrapassar limites, porque apesar de cercados por todo o lado, por dentro e por fora, os limites são imperceptíveis. (p. 46)
Só em função de uma concepção da arte que a limite ao «horizonte dos possíveis», que para JG, hoje, está empobrecido, deixa de ser concebível a abertura nesse domínio. Mas nunca a arte e o pensamento se farão «no quadro da normalização da sociedade», eles são hoje, como foram no século XX, modos de resistência, afirmações de desejo que, enquanto tais, enquanto construção de agenciamentos, rompem limites socialmente construídos.
2. Klee
Escreve JG:
É, pois, a própria escrita literária que, mal se constitui, apela para um público anónimo, um «povo» (como dizia Paul Klee). (p. 32)
Aquilo que não se pode deixar de exigir a quem publica um livro é que quando cita alguém o faça com rigor, que não use nomes de autores apenas para caucionar posições, independentemente do que os autores disseram. Ora, há uma frase de Klee, citada por Deleuze, que parece ser aquela que JG desenvoltamente deforma. Na tradução de Deleuze, Klee escreveu «Le peuple manque». Porque o «povo» não é um sujeito, um público anónimo para o qual a escrita literária apela. O povo falta, e não poderá senão faltar, enquanto sujeito de enunciação, enquanto que aquele que escreve é um agenciamento colectivo de enunciação (não um sujeito acima do «povo» e que escreve para ele). Note-se que na leitura que fazem de Kafka, Deleuze e Guattari colocam a relação entre literatura e política de uma maneira interessante, pois, sem negar a dimensão política da literatura, a concebem como algo intrínseco mas por vir, não uma utopia, e sim uma diabolização, movimento pelo qual o escritor resiste ao papel de pastor. É o que se pode ler neste excerto: «Não há sujeito, só há agenciamentos colectivos de enunciação – e a literatura exprime esses agenciamentos, nas condições em que não são considerados 22 exteriormente, e onde eles existem apenas como forças diabólicas por vir ou como forças revolucionárias por construir.» ( Kafka. Para uma literatura menor, ed. Assírio & Alvim, p. 41).
3. Nicolas Abraham e Maria Torok
Porque os mortos não têm lugar entre os vivos (e isso porque a morte não se inscreve na vida), nem entre os mortos, circulam num limbo na qualidade de «almas errantes» que não cessam de perturbar os homens. Estas crenças poder-se-iam traduzir em linguagem metapsicológica: teríamos então um branco psíquico, uma não-inscrição que se transmitiria de geração em geração (um «impensado genealógico», diriam Maria Torok e Nicolas Abraham). Bem compreender o que aqui se joga levar-nos-ia mais longe do que a etnologia, sendo necessário recorrer a uma hauntology (como dizem os americanos) ainda por elaborar. (p. 22)
Mais uma vez, a tradução de crenças para uma «linguagem científica inquestionável», a metapsicológica. Os leitores só terão que ter a crença na ciência. JG pode não conhecer Teixeira de Pascoaes (onde teria encontrado um importante pensamento literário-filosófico sobre a realidade dos fantasmas), que é português, pode não ter lido Spectres de Marx, de Jacques Derrida, que é filósofo, mas leu «os americanos». Naquele livro Derrida propõe que se use o termo hantologie para colocar «a questão do acontecimento como questão do fantasma». O problema é o da ontologia e não o da etnologia, ou seja, o fantasma não é um particularismo dos povos e dos indivíduos, mas assombra desde sempre a relação do homem, seja português ou não, com o presente.
Dir-se-á que as gerações que nasceram depois do 25 de Abril já o esqueceram, e que a não-inscrição foi uma feliz característica da nossa «revolução». Ter-se-ia que descrever e caracterizar os mecanismos que produziram o «esquecimento» ou a «ignorância» do passado das gerações novas. Talvez descobríssemos uma das razões fortes que explicam a sua apatia. Teríamos de recorrer aqui a analogias com o «impensado genealógico», a «cripta» e a «incorporação», noções que a corrente psicanalítica de Nicolas Abraham e Maria Torok elaborou e 23 explorou: a não-inscrição do nosso passado salazarista teve efeitos de incorporação inconsciente do espaço traumático, não-inscrito nas gerações que se seguiram. (p. 43)
Qualquer uso de conceitos implica um mínimo de explicitação dos mesmos, e no caso de transposição de teorias de um domínio para outro, é necessário justificar essa passagem. Com efeito, não se compreende porque é que se há-de aceitar como se fosse natural a passagem de estudos da psicologia dos indivíduos para o estudo de uma entidade colectiva. Apesar de uma tal passagem ter até ter sido aceite por psicanalistas, nomeadamente por Freud, seria preciso explicá-la. Apresentando-se a não-inscrição como causa primeira de tão más qualidades dos portugueses, não basta citar nomes, seria preciso expor os conceitos necessários para a compreensão dessa não-inscrição e usálos na descrição da realidade visada. Invocar uma corrente psicanalítica por si só não é nada a não ser recurso ao cientismo, à «autoridade inquestionável» da ciência. Conhecemos reflexões de grandes pensadores e filósofos, como Deleuze ou Derrida (que escreveu um prefácio para um livro de Nicholas Abraham e Maria Torok, sem que tal significasse qualquer comprometimento com esse trabalho), que previnem contra os usos da psicanálise que, reivindicando um estatuto científico daquela, são cúmplices de práticas, e teorias, bloqueadoras dos indivíduos enquanto potências mutantes, tendo-se mesmo prestado algumas vezes, a uma intervenção mais directa. Elisabeth Roudinesco dá alguns exemplos:
Lembraria, a propósito de um domínio que conheço bem, que é sempre em nome de uma pretensa neutralidade científica – e portanto de um cientismo – que os dirigentes da Associação mundial de psiquiatria recusaram, há vinte cinco anos, denunciar os usos abusivos da sua disciplina na ex-União-Soviética. Foi em nome desta mesma cientificidade da sua prática e da sua teoria que psicanalistas se tornaram cúmplices das ditaduras latino-americanas afirmando que a sua ética lhes impunha permanecer neutros face às torturas e aos atentados aos direitos do homem. […] Hoje invoca-se frequentemente, por exemplo em psiquiatria, uma pretensa cientificidade da abordagem das doenças mentais, que não é senão uma exploração psíquica dos sujeitos. (De quoi demain…, p. 89)
Importa sublinhar ainda que a ideia de fazer uma psicanálise do povo português é uma sugestão que, embora JG nada diga sobre isso, vem do já aqui referido livro de Eduardo Lourenço, onde se lê o seguinte:
O que é necessário é uma autêntica psicanálise do nosso comportamento global, um exame sem complacência que nos devolva ao nosso ser profundo ou para ele nos encaminhe ao arrancar-nos às máscaras que nós confundimos com o rosto verdadeiro. Na verdade nada falta no cenário para que o símile da cura psicanalítica se justifique. O nosso surgimento como Estado foi do tipo traumático e desse traumatismo nunca na verdade nos lavámos até à plena assumpção. (LS, p. 18)
Embora aquilo que EL diz que é preciso fazer seja «um exame sem complacência», o que não se confunde com qualquer pseudo-aplicação, ou aplicação, de conceitos da psicanálise, esperar-se-ia que essa sugestão fosse pelo menos referida. De resto, JG também nunca refere que a ideia de um trauma original do povo português também é claramente enunciada e, como se pode ver, sublinhada em O Labirinto da Saudade. Aí, o trauma apontado é o do nascimento da nação portuguesa, em Portugal, Hoje, diz-se que o trauma vem de longe.
Quanto ao sentido psicanalítico de «não-inscrição», há um texto de JG, «A “osmose estética” de Duchamp», em que essa noção é esclarecida tendo como referência Ferenczi. Aí, José Gil apresenta aquilo que designa como «um exemplo sucinto de transmissão de uma não-inscrição». Vale apenas transcrevê-lo quase na íntegra: […] Todo este quadro – digamos clínico – repete exactamente a paixão do pai, grande jogador em casinos, que estoirara a fortuna do seu próprio pai no jogo. A mãe tem horror ao jogo, e não se joga nenhuma espécie de jogo em casa dos avós. Como se transmitiu – porque temos de admitir esta hipótese – do pai à criança a paixão do jogo? De maneira simplificada diremos que: a. a presença do pai foi elidida da vida da criança. A sua relação com o pai, a mera referência ou evocação do pai foram apagadas. Não se inscreveram na vida do filho: há nela um branco psíquico, uma não inscrição, um não acontecimento – que no entanto a vão atingir em cheio. b. se bem que nada, nas palavras ou no comportamento consciente da família materna, fizesse alusão ao pai, este apareceu ou esteve sempre presente através do comportamento não verbal da mãe. Porque elidiu o pai na linguagem – esse pai que foi o seu marido –, ele reapareceu no silêncio dos gestos, e de todo o seu comportamento, quando este se relacionava directa ou indirectamente com o pai. Por exemplo, a maneira como ela repudiava toda a espécie de jogos escondia certamente uma forte atracção (o que explicaria o facto de se ter casado com um jogador). Foi esse silêncio, melhor, foram os contornos desse silêncio que delimitaram o espaço que a criança foi ocupar (porque para aí o chamava o desejo da mãe). São pequenas percepções, indicações ínfimas que significaram à criança esse espaço em que ele se inseriu: e assim, como o pai, se tornou jogador. (inter@actividades, ed. CECL da FCSH e CML, 1997, p. 45)
O problema que este exemplo de JG coloca é o das conclusões que dele tira:
É importante fixar que o que não se diz porque não está inscrito (não está recalcado, nem está na memória) é agido pelo corpo (ou, como dizia Ferenczi, é «representado» como num palco). (p. 45)
Por conseguinte, o não inscrito «não está recalcado, nem está na memória» e é agido pelo corpo, o que, tendo em atenção o exemplo dado, quer dizer que se transmite, que retorna, imutável, como herança, tal como se de uma herança genética se tratasse. Dado que o filho nada soube da história do pai senão por outros (mesmo que nunca se lhe referissem, eles tinham a memória, consciente ou inconsciente, dele), podemos admitir que a partir deles a paixão pelo jogo se transmitisse. Podemos admitir ainda que essa paixão nascesse da relação do filho com a paixão ou aversão ao jogo que era a da mãe. Mas, contrariamente ao fundacionalismo psicanalítico, podemos admitir ainda que não fosse nada disso, e o filho fosse jogador apenas pelo imponderável de uma vida e dos seus encontros. Sublinho podemos porque é a liberdade (que nem é livre arbítrio nem obediência a um determinismo) que aqui está em questão, a liberdade – como desejo e potência não pré-determinados. O que a conclusão de JG diz é o oposto, o seu «é importante fixar que» introduz uma explicação dos factos como se fosse a única, dando à sua interpretação um valor de lei. No entanto, como vimos, a leitura do exemplo apresenta várias possibilidades. Não é insignificante o que se joga entre a explicação que fixa uma causa para o comportamento de um indivíduo e a compreensão do mesmo não vinculada à busca de uma causalidade determinante: a possibilidade de se admitir a liberdade dos indivíduos decorre justamente da de se admitir a sua capacidade de fuga às pulsões e paixões que os rodeiam. A família, incluindo os pais, ninguém escolhe, mas no pensamento, na criação artística, na amizade e no amor há escolha, uma escolha cujas condições não podem ser as do simples cálculo racional (isso corresponderia a uma identificação com um dispositivo técnico, um programa), nem as de qualquer causa prévia identificável, familiar ou outra. A relação de desconhecido a desconhecido que se torna possível pela liberdade é ela própria fuga a contextos fixadores.
A este propósito é importante referir o combate de Deleuze e Guattari contra a psicanálise enquanto instrumento de mutilação do indivíduo pelo seu confinamento à moldagem num circuito familiar de forças. Quanto a JG, ele não hesita em tomar os portugueses como grande família para analisar os seus sintomas e estabelecer um diagnóstico, desprezando ou rasurando por completo a multiplicidade heterogénea que o indivíduo desejante é, por condição (qualquer indivíduo, independentemente de grupos familiares e outros de que possa participar) – a sua condição humana, que não é uma essência, mas uma capacidade de fuga. Uma tal rasura faz parte dos dispositivos normalizadores, que integram os indivíduos em maiorias e minorias, normais e anormais, seja teoricamente, seja como resultado de estatísticas e sondagens. Não é a partir destes instrumentos de cálculo que JG diagnostica Portugal, ele analisa os seus sintomas como se de um ser orgânico e sujeito a leis de estruturação idênticas às que a psicanálise propõe para a família, se tratasse. Não é por acaso que a Família foi uma das instâncias inquestionáveis do salazarismo. Para além do lugar de circulação de afectos a que se refere JG, ela correspondia à imposição de um modelo de autoridade assente na negação da liberdade dos indivíduos. «Família» era no Salazarismo o instrumento da transmissão de uma herança, patrimonial, evidentemente, mas não só, da transmissão de lugares sociais e valores. A escola e outras instituições sociais eram organizadas em função desse modelo de família, coesamente estruturada e que, por conseguinte, se prestava à descrição em termos psicanalíticos. Não se pode no entanto confundir um tal modelo de Família (mesmo que ele se mostrasse adequado a uma maioria de famílias) com as famílias. Basta ler os romances de Carlos de Oliveira para nos apercebermos de uma problematização do funcionamento do dispositivo Família: aí, nomeadamente em Finisterra, temos simultaneamente uma crítica da família burguesa, e do seu papel na conservação de um tipo de exploração, 27 e uma possibilidade de entender que aquilo que se coloca sob um modelo coeso e forte, pode estar, por diversas razões, da qual a menor não será com certeza a resistência à opressão no interior da própria família, em vias de desagregação.
Em relação à família, JG limita-se a uma constatação – a de que o familiarismo como uma característica do salazarismo era transposto para o nível nacional, o que ainda hoje tem importância na sociedade portuguesa –, mas essa constatação não é inútil, ela tem uma força performativa, que lhe advém não só do facto de colocar a hipótese de uma família natural (a família enquanto dispositivo estruturante de relações familiares em função de variáveis enquadradas pelo conhecimento psicanalítico) mas também, e sobretudo, do facto de a adopção de uma crença num tipo de conhecimento psicanalítico só conferir legitimidade à transposição das teorias psicanalíticas aplicáveis à família para o estudo da grande família que são os portugueses, na medida em que ou se entenda a construção de uma à imagem da outra ou se entenda que os portugueses são um somatório de famílias, apresentando as características dos elementos somados. A performatividade da ocultação de um problema, o da família, consiste então no reforço do familiarismo.
A expressão «não-inscrição» no livro de JG presta-se ainda a confusão por ser usada com significações muito diferentes, podendo ser tanto o resultado de um trauma, como qualquer processo de negação da memória, qualquer impossibilidade de retirar as lições da História. Ora, também isso vem de Eduardo Lourenço, que qualifica explicitamente, e sublinhando, Portugal como «uma colectividade que é uma das mais desmemoriadas que é possível conceber-se» (LS, p. 76).
É nas passagens em que JG parece pensar a não-inscrição e não apenas usar um conceito «científico» que a confusão é maior. Vejamos a seguinte passagem onde se coloca directamente a questão:
O que é uma inscrição? Como é que os acontecimentos de uma vida ganham o sentido de experiências decisivas, formadoras, quer dizer, como é que elas se inscrevem de maneira a construir uma vida? (p. 48)
Por conseguinte, há «acontecimentos de uma vida» sem a inscrição deles. O que quer dizer que a inscrição é alguma coisa que se acrescenta ao acontecimento. Continuando na mesma página:
Quando o desejo se inscreve num outro desejo surge então o Acontecimento. A inscrição acontece quando o desejo se modificou sob a pressão, a força, de um outro desejo, ou da violência de um outro acontecimento. O encontro com o desejo produz um novo Acontecimento, é ele que se inscreve. (p. 48)
Mas o que é que se inscreve, o desejo ou o Acontecimento? Talvez a subtileza do raciocínio esteja no jogo do «a» em letra minúscula com o «A» em letra maiúscula na palavra «acontecimento». Continuando:
Quando o desejo não se transforma, o Acontecimento não nasce, e nada se inscreve. (p. 49)
Que concepção de desejo pode admitir esta hipótese de um desejo que «não se transforma»? Não se trata do desejo como força de transformação, construção, encontro. Aquilo a que JG chama desejo, parece ser a vontade de posse de um objecto. Podemos recorrer a outro texto do autor, onde se expõe uma concepção de desejo associada a uma reflexão sobre outra especificidade dos portugueses – uma inveja com características próprias, tão especiais que JG até se interroga se essa especificidade «não contribui para a atenuação das diferenças hierárquicas e entre classes sociais» (Corpo, Espaço, Poder, p. 363). Note-se que esse texto, de 1983, já se confrontava com o «enigma» português (diga-se de passagem que tal confronto correspondia já a uma tradição de preocupações com a psicologia dos portugueses, como o atesta o livro de Cunha Leão cujo título é precisamente O Enigma Português) em termos muito próximos dos de Portugal, Hoje. Já aí se concluía que o modelo de «luta das invejas» de outros países mediterrânicos se não adequava à realidade portuguesa, devido ao facto de em Portugal a inveja ser mediada pelo queixume.
Vejamos:
[…] a questão da inversão do modelo aponta para um enigma (que, possivelmente, só a história nos ajudará a desvendar): que produziu a inversão, levando as forças a reflectirem-se para o interior, impedindo-as de se expandir? A hipótese que surge imediatamente é a de um grande acontecimento inaugural (não necessariamente de um acontecimento histórico) trazendo uma perturbação decisiva ao funcionamento arcaico das forças. Qualquer coisa como um enorme terror, que tivesse desabado sobre os portugueses – e os levasse a um comportamento estruturante de defesa. Porque, o que surge como enigma é o porquê de um funcionamento geral de desvio das forças, desvio de tudo o que possa provocar violência […]. (CEP, p. 365, sublinhados meus)
Que esse tal terror não foi causado pelo terramoto de Lisboa decorre da lógica de Portugal, Hoje, pois na época do terramoto já os portugueses não inscreviam. Fosse qual fosse o terror, daí decorre que em Portugal a inveja é mediada pelo queixume e daí a «Evacuação da violência brutal na relação de homem para homem, extensão de uma violência finamente mediatizada» (CEP, p. 363). Quanto ao desejo, ele é outro nome da inveja, como se pode verificar pelas passagens que se transcrevem em seguida:
Na medida em que a força da inveja é radicalmente desviada para um terceiro termo que despoja o sujeito do seu próprio desejo (como sujeito da inveja), cada um deixa de ser sujeito de desejo (no campo público e, por ricochete, no campo privado). […] na realidade, na medida em que ele foi despojado do seu desejo (da sua inveja) e que este passou a alojar-se numa entidade genérica, «todos os outros» (isto no plano da desrealização) participam, contêm, possuem, uma parte do desejo de todos os sujeitos singulares. (CEP, pp. 360-361)
Outro tipo de «esclarecimento» da noção de não-inscrição é aquele que conjuga circularmente «não-inscrição», «trauma», «nevoeiro» e «medo», sem que qualquer dos termos alguma vez seja apresentado de modo não-tautológico. Veremos em seguida alguns exemplos, mas antes vale a pena perguntarmo-nos como é que se compreende que, sendo «nevoeiro» um topos da cultura portuguesa, JG nunca refira isso e use a palavra como se estivesse a criar uma imagem, ou um conceito. Essa é uma palavra obsessiva na literatura sobre Portugal e uma palavrachave na tensão entre Fernando Pessoa (é de Mensagem o verso «Ó Portugal, hoje és nevoeiro») e Teixeira de Pascoaes (tensão para a qual Eduardo Lourenço chama a atenção), fazendo parte de um pensamento da não-identidade e exibindo a 30 impossibilidade de uma universalidade espiritual, abstracta. Ignorar a importância do topos «nevoeiro» na cultura portuguesa e recorrer a ele poderia não ser simples sobranceria se se viesse apresentar qualquer coisa de novo, dar inteligibilidade a algum fenómeno relevante. Mas isso não acontece. Aquilo que se diz do nevoeiro não passa de confusão. Como é que é possível dar credibilidade a quem começa por dizer do nevoeiro que ele segrega confusão, e em seguida diz que nem pensar nisso?
Confrontem-se as duas passagens que se seguem:
A este nível também [nível do ritual da comunicação das notícias] constrói-se um nevoeiro que nos envolve e não nos deixa distinguir com clareza o real do «irreal» […]. E, mais uma vez, o nevoeiro é invisível, pois tudo parece claro, com contornos bem definidos. No entanto, como vimos, basta perguntar pela função daquela frase do apresentador para verificarmos que ela segrega múltiplas camadas de confusão que se não vêem, mas que lhe condicionam radicalmente o sentido. Como um inconsciente que se alojasse no seio das representações mais conscientes. Como uma sombra branca. (p. 12, sublinhados meus)
Não se pense, porém, que o nevoeiro implica uma mistura indefinida de ideias, ou um espírito obscurecido, enevoado por qualquer confusão mental. Já vimos que não é assim; ao contrário, é porque existe não-inscrição que a consciência adquire uma nitidez particular. (p. 23, sublinhados meus)
Vejamos agora outra conjectura que visa esclarecer porque é que na vida dos portugueses tudo é nevoeiro e nada se inscreve:
Como é isto possível? É possível porque as consciências vivem no nevoeiro. O que é o nevoeiro? Ele é a causa da não-inscrição ou esta existe por efeito daquele? É impossível responder a esta questão. Existiria antes uma dupla causalidade recíproca a partir de um trauma «inicial», ele próprio resultado da convergência e da acumulação de muitos pequenos acontecimentos traumáticos que fugiram à inscrição (histórica, social e individual). Qualquer coisa como um Alcácer-Quibir que se recusa a aceitar e de onde nasceu o nevoeiro. Não o da lenda, que é futuro e lugar de epifania, mas uma neblina presente que se apodera do interior da consciência e a rói, sem que ela dê por isso. (pp. 18-19)
Descontando as incorrecções gramaticais (não há «uma dupla causalidade recíproca»: para que haja dupla causalidade é preciso que um termo seja afectado 31 por duas causas, ora se cada termo é afectado apenas pelo outro, o que existe é apenas causalidade recíproca; também não há «um Alcácer-Quibir que se recusa a aceitar», pela simples razão de Alcácer-Quibir não ser uma entidade que possa escolher aceitar ou não), diz-se que há um «trauma “inicial”» e este é comparável a qualquer coisa, «um Alcácer-Quibir», de onde nasceu o nevoeiro. Diz-se depois que o nevoeiro é «uma neblina presente» (interessante para uma classificação das neblinas!…), «não é lugar de epifania» e «rói a consciência». Por conseguinte, o «trauma inicial» dos portugueses decorre de algo que é apresentado de maneira extremamente equívoca: o que pode ser «um Alcácer-Quibir», quando o AlcácerQuibir que é referido na História de Portugal já é, ele próprio, História e lenda que só existe nas suas variações de sentido? Esse «um Alcácer-Quibir» de JG é o quê? Perda de um pai? Ferida insanável no amor próprio? Perda de uma imagem de omnipotência imperial? Como toda a reflexão de José Gil assenta nessa peça fundadora que é o «trauma inicial», e deste nada se diz, as consequências que daí retira não podem aparecer senão como oraculares, o que não é novidade na matéria em causa. Serve no entanto (continua a servir), para dar explicações que até parece que colam bem com o que se conhece. Como quando se diz que o português tem uma consciência fragmentada e isso explica a heteronímia. Parece que faz sentido. Mas, a que heteronímia se refere?
O nevoeiro regressa mais algumas vezes, volto a citar:
A ausência de si a si supõe uma certa modalidade da consciência com que se habita o mundo. Já nos referimos, acima, ao que chamámos «nevoeiro» ou «sombra branca»: uma consciência das coisas nítida, clara, mas de âmbito restrito e inconsciente. (p.109, sublinhados meus)
A ideia de uma consciência esburacada é difícil de aceitar, por corresponder a uma substancialização da consciência, isto é à ideia da consciência como uma coisa, e não como uma relação – a consciência é consciência de algo, e aquilo que nela se apresenta pode ser mais nítido ou menos nítido. Mas uma consciência de âmbito inconsciente, é manifestamente sem-sentido.
E como é que JG chega a estas teorias sobre o nevoeiro e a consciência dos portugueses? Por um lado, é a partir da observação de comportamentos. Ele diz, por exemplo, que em circunstâncias difíceis, perante uma injustiça, um impasse afectivo 32 ou uma culpabilidade (os exemplos que dá), «o português» tem uma «reacção imediata»:
[…] é entrar no nevoeiro. Não equivale exactamente a enfiar a cabeça na areia como a avestruz, quer dizer, a negar, com um gesto brusco, a realidade inteira, mas aproxima-se disso. (p. 110)
Em linguagem menos «científica» dir-se-ia que a investigação de JG o levou a concluir que «o português» não enfrenta as situações. Ninguém poderá dizer que não há portugueses que fogem às dificuldades, mas também há franceses, espanhóis, etc. A história do romance está cheia de personagens que se evadem, veja-se a Madame Bovary, por exemplo. Mas só a generalização teria a força de um efeito de saber:
É preciso dizer que o povo português vive nesse estado há longo tempo, sem dúvida muito antes do salazarismo. O português pode mergulhar mais ou menos no nevoeiro, mas este é o seu meio ambiente. (p. 110)
A ideia de uma degenerescência dos portugueses que vem de longe não é nova, também ela vem de longe: umas vezes acompanhada de messianismo, outras vezes não. Cumpre sempre a mesma função, mas também em relação a outros «povos» há outras ficções que possuem finalidades idênticas – fatalizar seria talvez um neologismo adequado. O terror, por vezes apenas psicológico, é sempre um adjuvante do imobilismo.
Quem acreditasse numa condenação tão decisiva como a que se constrói em Portugal, Hoje – os portugueses estão condenados por um trauma inicial a nada inscreverem – só se poderia aterrorizar com o destino, ficar com mais medo e inscrever menos. Segundo JG, também o medo dos portugueses, que é medo de inscrever, é original e transmitido por herança:
Porque interiorizado, mais inconsciente do que consciente, acaba por fazer parte do carácter dos portugueses (ditos «tristes», «taciturnos», «acabrunhados»), integra-se no «impensado genealógico» (Nicolas Abraham) que passa de pais para filhos, de geração em geração. (p. 78)
Note-se que os portugueses nem sequer têm a escolha de se inscrever ou não.
Eles trazem consigo o estigma à nascença:
A não-inscrição não data de agora, é um velho hábito que vem sobretudo da recusa imposta ao indivíduo de se inscrever. Porque inscrever implica acção, afirmação, decisão com as quais o indivíduo conquista autonomia e sentido para a sua existência. Foi o salazarismo que nos ensinou a irresponsabilidade – reduzindo-nos a crianças, crianças grandes, adultos infantilizados. (p. 17, sublinhado meu)
Repare-se: o indivíduo não é apenas impedido de se inscrever – a sua recusa não é sua, é de outra instância, é-lhe imposta. Em tal sistema não há fuga possível: a instância frágil, que é o indivíduo na sua multiplicidade em devir, é devorada pelo monstro (Deus? A História?) que lhe impõe a recusa de se inscrever. O povo português seria assim uma espécie de povo eleito para a desgraça, sendo o salazarismo apenas uma das faces desse destino fatal. Com efeito, JG considera em seguida que, embora o 25 de Abril tenha aberto um processo contra a não-inscrição, o «substrato da não inscrição permanecia vivo» pelo que esse processo «não fazia mais do que alimentar a impossibilidade de inscrever, essa sim, inscrita no mais profundo (ou à superfície inteira) dos inconscientes dos portugueses» (pp. 17-18). Para além do efeito paralisante do fatalismo, a indiferenciação do passado (do mais longínquo ao menos longínquo) e da actualidade ilude a complexidade da actual conjugação de poder disciplinar e de bio-poder, na qual a defesa de um «nós», portugueses e não-portugueses, que é defesa da possibilidade de decisão, se confronta com a aceleração do desenvolvimento tecnológico. De modo que todo o livro de JG se compõe em função do repetir, circularmente e até à exaustão, dos poucos termos da tese do trauma. O medo é trauma e o trauma é medo, a nãoinscrição é trauma e o trauma é não-inscrição:
Esse trauma inaugural, provocado e reactivado, ou que reactiva de tal maneira o medo que este se tornou um trauma, foi precisamente o trauma da não-inscrição. (p. 139)
Curiosamente, depois de repetir tantas vezes que o trauma (não-inscrição) é originário, JG acaba por concluir que afinal o que moldou o «carácter» dos portugueses foram os discursos que lhes diagnosticaram o mal: Assim se disseminou esse mal que acabrunhava a generalidade dos portugueses. Para estes, não vinha do regime político, vinha da «índole», do «carácter», da «essência» da portugalidade […]. (p. 140)
Esta constatação cumpre uma dupla função: por um lado ilude o facto de Portugal Hoje, estar em perfeita continuidade com aquilo mesmo que se aponta como construção da portugalidade, parecendo assim apagar tudo o que foi dito ao longo do livro, que como vimos é naturalização de uma imagem dos portugueses; por outro, permite a JG pôr-se no lugar de uma sucessão de Fernando Pessoa e repetir «Ó Portugal, hoje és Nevoeiro». Interpelando Portugal, hoje, ele termina com uma profecia ou advertência, a que só falta ser precedida de um «É a Hora!»:
Se não afastarmos agora o nevoeiro que ameaça toldar o nosso olhar, poderá ser demasiado tarde quando nos apercebermos que, sem dar por isso, nos encurralaram num beco por um período indeterminado. (p. 144)
Nada se diz do porquê do «agora», a não ser o «santanismo». Mas apresentar o governo de Santana Lopes como motivação de um apelo tão solene seria apenas caricato – tanto mais que assenta numa vaga denúncia «de pequenos (ou grandes) gozos que a governação [lhe] propicia» (p.14) – se não estivesse em consonância com a defesa de um devido enquadramento da acção dos portugueses, que os libertaria da maçada da política:
Cabe aos que nos governam essa tarefa – já que eles têm por imperativo decidir – desde obrigar ao cumprimento da lei à criação de tudo o que possa contribuir para que, na comunidade, um encontro seja uma ocasião de alegria (p.107).
Pergunta-se então: mas afinal os portugueses não estão condenados ao nevoeiro? Com um gesto de redenção suprema, JG anuncia, já a concluir, que existem duas forças dos portugueses, mas agora não de todos, apenas dos não degenerados:
Duas forças nos restam, que noutros domínios e em pequenas bolsas da vida social se desenvolvem imperceptivelmente, e que são próprias do melhor que possui o nosso «génio» (como se dizia antigamente). [p.144]
Repare-se que o parêntesis sugere um certo mal-estar. Mas que outra palavra poderia JG utilizar para designar essa instância a quem são atribuídas forças consideradas próprias do melhor? Se «génio» não é a palavra actual, qual poderia ser? «Alma»? «Espírito»? É a herança do nacionalismo dos românticos que cauciona aquele termo e é a suspeita iluminista que o coloca entre parêntesis. Esta última é por sua vez o pressuposto de afirmações como a que se destaca em seguida, em que a cultura portuguesa aparece como algo de «tosco»:
Tudo isto entra no mesmo plano de não-inscrição que atravessa a existência dos portugueses. Compõe-se assim a estranha imagem de um povo com um fundo de barbárie envolvido por inúmeras camadas de cultura (desde o paganismo grego e latino aos celtas e árabes) que não conseguem transformar completamente esse fundo em civilização. Qualquer coisa de não formado, de tosco, de não acabado pertence ainda à cultura portuguesa de hoje. Qualquer coisa que, no entanto, perdeu a força diante da extraordinária produção cultural popular, que foi absorvendo o fundo bárbaro sem nunca o esgotar, sem nunca o transferir para fórmulas civilizacionais. (p. 113)
As considerações nacionalistas de JG são fundamentadas no excerto acima a partir de uma relação entre barbárie e civilização. O sentido da relação implica uma perspectiva evolucionista – passagem de «um fundo de barbárie» para a civilização – que está em sintonia com a ideologia do progresso a partir da qual se legitimou o pior do humanismo europeu: o colonialismo e idênticas missões civilizadoras. A ideia de Europa como centro civilizador face aos bárbaros identificados com os primitivos ou indígenas (aqueles cujo «fundo de barbárie» ainda não estava superado pela civilização) foi no séc. XIX, não só fundamento de critérios de hierarquização ao nível das relações da Europa com o resto do mundo (nomeadamente a África e a América Latina), mas também do estabelecimento «racional» de categorias aplicáveis no interior dos próprios países europeus: «civilizado» era aquele que tinha o comportamento padrão (actualmente nos E.U.A. a designação de WASP é uma herança desse padrão) e «bárbaro» era aquele que 36 tinha um comportamento «tosco», próximo dos «primitivos» ou «indígenas».
O primeiro termo era valorizado e o segundo correspondia a um anátema de menoridade (o exotismo perturbou esse esquema promovendo uma inversão de valores, que no entanto não conduziu à desconstrução das identidades). No século XX (e já antes, nomeadamente em escritos de Marx), o sentido da dicotomia foi objecto de repúdio, o qual decorreu do pensamento que pôs em causa a ideologia do progresso e a sua base evolucionista (que admitia que certos «povos», nomeadamente os negros e os da América latina, estavam mais próximos do estado de natureza) e situou nos próprios estados europeus, nomeadamente no poder destruidor que esses estados concentravam, a barbárie entendida então como desenvolvimento da violência assassina no interior do processo de civilização. Notese que em 1915, em «A crise da social-democracia”, Rosa Luxemburgo lança a palavra de ordem «socialismo ou barbárie». Mas é sobretudo depois de Auschwitz e Hiroshima que se tornou mais evidente a coexistência de civilização (na Alemanha dos anos 30 havia um grande desenvolvimento tanto na indústria como na ciência e nas artes) e barbárie, quer enquanto perpetração de genocídio, etnocídio e ecocídio, quer enquanto violência de certas formas industrializadas de entretenimento. Dizer hoje, por conseguinte, como é o caso de JG, que a cultura portuguesa tem «um fundo de barbárie» que as suas várias camadas «não conseguem transformar completamente em civilização» é ignorar ou rasurar momentos decisivos do pensamento contemporâneo e recorrer a crenças que na actualidade formam o horizonte sombrio de novas missões civilizadoras. Que padrão de civilização permite a JG dizer que a cultura portuguesa tem «qualquer coisa de não formado, de tosco, de não acabado?»
Também para a existência do «fundo de barbárie» da cultura portuguesa JG tem uma explicação, a seguinte: «o medo do vazio impede o nosso lado bárbaro de se ligar ao cosmos (com excepções geniais: Fernando Pessoa, Herberto Helder)» (p. 113). Ficamos a saber que há um exterior do cosmos, e é a ele que pertence o «lado bárbaro» de quase todos os portugueses, os não-geniais. Tudo por causa do medo, que desta vez não é medo de inscrever, é medo do vazio.
Regressando à questão do humanismo em Portugal, Hoje: ele não está apenas na oposição barbárie/civilização (que é, como se viu, constitutiva do pior do 37 humanismo europeu), a própria condenação que JG faz do humanismo em Portugal assenta em desígnios humanistas:
O apelo à acção para o bem do homem e da humanidade supõe aquilo mesmo que queremos saber: o que é o homem? Que homem podemos forjar no futuro? O que é «bom» para o homem e para a mulher? Como o conhecimento da natureza humana, e do que para ela é bom e mau, nos escapa, mas está pressuposto nas ideias humanistas, o discurso que as exprime é vazio. (p. 116, sublinhados meus)
Uma crítica do discurso humanista nunca se poderia limitar a considerá-lo vazio porque pressupõe como já dada a resposta à pergunta «o que é o homem?». JG não põe em causa as pretensões humanistas de definir uma «natureza humana» (o que implica colocar-se fora do humano e negar a sua incalculabilidade), mas apenas a sua oportunidade: só quando alcançarmos «aquilo mesmo que queremos saber», é que poderemos proceder ao «apelo à acção para o bem do homem e da humanidade». Qual o lugar desse «nós», sujeito do saber e do poder? O lugar de Deus? É esse lugar que lhe confere autoridade para fazer a funesta pergunta «Que homem podemos forjar no futuro?» «Nós», quem? Os «engenheiros de almas»? Ou os bio-engenheiros?
Sendo Portugal, Hoje um livro em que a confusão serve de suporte à repetição em novo figurino de conhecidas teses reaccionárias (dominadas por forças reactivas, de vontade de domínio e ressentimento) sobre os portugueses, convirá interrogarmo-nos também sobre aspectos que têm a ver com a sua recepção: não tanto sobre o seu acolhimento mediático e o sucesso das suas vendas (ele é propagandeado pela indicação de 10ª edição) mas sobre as declarações assinadas colocadas na contracapa. Para a publicidade do livro, o mais importante são os nomes. Porquê? Porque fazem vender. Isso quer dizer que a editora, para vender um livro supostamente intelectual, recorre a estratagemas publicitários conducentes à aquisição assente no autoritarismo. É estranho que esse tipo de publicidade não tenha contestações, nem sequer interrogações. Não porque seja específico dos portugueses, mas porque é um sintoma da subordinação das indústrias da cultura às mesmas lógicas dos outros sectores do mercado (as marcas, as assinaturas de moda, etc.).
Em Portugal, Hoje. O Medo de Existir não encontramos nenhuma reflexão sobre a actualidade: nem sobre as instituições, os discursos, as leis, os saberes ou as práticas que constituem e fixam relações de poder, nem sobre as práticas de resistência e afirmação de forças que as atravessam; nem sobre a «mundialização», e o seu apagar de características nacionais; nem sobre o desenvolvimento tecnológico e as exigências de pensamento e de decisão política que coloca. Nada disso, mas não é um livro vazio. É um livro pleno: pleno de vituperações, de julgamentos do povo português. Julgamentos feitos em nome do conhecimento de algo que se perde no tempo, um trauma original, mas também de um ideal político. Referindo-se ao «bom sinal» constituído pelo cavaquismo, JG expressa assim esse ideal: «Sinal de que o povo tomou mais consciência dos seus direitos, mais consciência de que o Estado é ele, e de que os governos retiram a sua legitimidade da sua vontade» (p. 101). Tal ideal está em consonância com a construção de uma Grande Identidade, para a qual são necessários Grandes Timoneiros, os únicos capazes de Julgar. Está também em consonância com um pequeno pormenor, o simples artigo «os» nas duas últimas linhas da contracapa do livro – «no nº especial do Le Nouvel Observateur, sobre os “25 Grandes Pensadores do Mundo Inteiro”» (sublinhei «os») –, cujo efeito é o de compor um bom exemplo do ridículo a que pode chegar a pose paranóica que substitui o pensar pelo identificar.
Artigo originalmente publicado em Revista Intervalo nº 3, 2007