O Assassinato de Alcindo Monteiro
O Assassinato de Alcindo Monteiro
Um jovem negro de 27 anos, num sábado à noite, caminha sozinho numa rua deserta de Lisboa. De repente, perante os seus olhos, aparece-lhe um grupo de bestas perigosas. Adivinhando-lhes as intenções, roda sobre os calcanhares e tenta fugir, invertendo a marcha. Cobardes, mas rápidos em movimentos, alguns elementos da matilha encurralam-no, agarram-no pelas costas, pregam-lhe uma rasteira.
No chão, enquanto tenta escapar dos braços que o seguram, sente uma forte pancada na cabeça. Calçados com botas de biqueira de aço, soqueiras nos quatro dedos da mão que se opõem ao polegar, e a labareda do ódio racista ardendo-lhes nos olhos, os torturadores descarregam pontapés e murros sobre o seu corpo franzino. Uma e outra vez. Pontapé após pontapé, murro após murro. Sem piedade.
Ato contínuo, erguem o corpo inerte, com a cabeça pendida e os braços desarticulados, e arrastam-no rua abaixo. Junto à montra de uma loja, retomam o vaivém de golpes. Na cabeça, no estômago, no peito, nos costados, na região genital. Os músculos do rapaz reagem com espasmos, debatem-se como um peixe acabado de tirar da água.
Os pontapés são desferidos com tal violência que alguns tufos de cabelo da vítima ficam presos às solas das botas. O cume da crueldade dá-se quando lançam mão de uma base de cimento e a deixam cair duas vezes em cima do crânio do rapaz, que perde definitivamente os sentidos.
No final, um dos monstros pisa-lhe a cabeça, junto à qual se forma já um lago de sangue, e levanta os braços em V, como um caçador exibindo a sua presa, em sinal de triunfo.
A vítima chamava-se Alcindo Bernardo Fortes Monteiro, um português de origem cabo-verdiana que, vindo do Barreiro, ia pacatamente ao encontro da diversão noturna, um bar ou uma discoteca onde pudesse dançar e distrair-se. Como refere Soraia Simões de Andrade, «quem conviveu com Alcindo conta que tinha uma paixão pela dança (participou inclusive em vários concursos, tendo ganho alguns) e que era um ótimo cozinheiro de cachupa e de sorriso fácil.»
Os assassinos eram skinheads, dezenas de «cabeças rapadas» vindos do Bairro Alto, onde já tinham espancado outros nove ou dez jovens negros. «Caçar pretos» era a sua forma de comemorar o Dia da Raça (estava-se na madrugada de 10 para 11 de junho de 1995), como a ele se continuavam a referir, para assim manterem vivo o espírito da ditadura salazarista.
Em coma profundo, Alcindo foi encontrado na Rua Garrett, perto do local onde hoje é a FNAC do Chiado. O óbito seria apenas declarado às 10h30 da manhã de 12 de junho. No relatório médico, divulgado pouco depois, lia-se: «hemorragias sub-pleurais e subendocirdicas; edema pulmonar; graves lesões traumáticas crânio-vasculo-encefálicas; lesão no tronco cerebral; edema cerebral muito marcado; fractura da calote craniana».
(…)
O julgamento pelos incidentes ocorridos no Bairro Alto, na madrugada de 10 para 11 de junho de 1995, começou no dia 31 de janeiro de 1997, no Tribunal de Monsanto. Os 17 indivíduos identificados e acusados pelo Ministério Público seriam julgados pela prática, em coautoria material e concurso real, na forma consumada, de um crime de genocídio, dez crimes de ofensas corporais e um crime de homicídio qualificado. As sessões, durante as quais foram ouvidas 84 testemunhas, decorreram até 4 de junho do mesmo ano.
O juiz selecionado para presidir ao julgamento foi João Martinho, conhecido nos meios de comunicação social como «o juiz de ferro». Segundo a descrição do jornalista Fábio Monteiro, no importante artigo que escreveu para o jornal eletrónico Observador:
Na primeira gaiola estava o coletivo de juízes e os advogados envolvidos. Numa segunda, os arguidos, sentados, e uma série de polícias, de pé, mãos atrás das costas. Nem um milímetro de couro cabeludo à vista: os skinheads tinham o cabelo razoavelmente comprido, com patilhas visíveis e até alguns caracóis rebeldes. A terceira gaiola era reservada à comunicação social e ao público.
O julgamento teria sido diferente se José Lameiras não se tivesse arrependido. Depois dos acontecimentos de 10 de junho, o seu depoimento foi essencial para que as forças policiais pudessem reconstruir o que aconteceu. Quando, frente ao juiz, contou o que se passara na noite fatídica, ouviram-se insultos. Os media deram-lhe uma alcunha: «arrependido». José Lameiras tornou-se o arguido a queimar, tal como na primária o bufo era sempre o culpado dos problemas. Quando o juiz perguntava aos arguidos se tinham visto alguém bater, estes não hesitavam e acusavam José Lameiras. Carlos Quental, advogado dos arguidos José Paiva e Ricardo Abreu, chamou-lhe o «Judas Iscariote dos nossos tempos». (…)
Na primeira sessão, o coletivo de juízes recolheu os depoimentos de Cláudio Cerejeira, que organizou o jantar e de Jaime Hélder, em cujas botas foram encontrados vestígios capilares de Alcindo Monteiro. «Não sei como é que isso foi parar às minhas botas», disse. No dia 4 de Fevereiro, Nuno Monteiro disse que «não sabia porque nunca ninguém lhe dissera» que uma soqueira é uma arma branca. Na mesma sessão, a defesa de João Martins tentou explicar que, ao colocar o pé em cima da cabeça de Alcindo Monteiro, João Martins, o «João do Cacém», tentou auxiliar a vítima — quis perceber se estava ou não inanimada. «É uma técnica conhecida por todos para ajudar alguém», comentou o juiz João Martinho.
Nessa sessão, José Lameiras identificou vários arguidos como autores das agressões que terão contribuído para a morte de Alcindo Monteiro. Apesar de ter declarado anteriormente ter visto José Paiva agredir Alcindo Monteiro, reformulou a sua versão, dizendo que tinha visto alguém «com a silhueta e o modo de andar» de José Paiva. A 10 de Março, foi a vez de depor José Paiva, que segundo a acusação — baseada, em parte, nas denúncias do arrependido José Lameiras — terá desferido, com uma base de cimento, os golpes que provocaram a morte de Alcindo Monteiro. O arguido negou ter praticado qualquer agressão de maior vulto. Ficou-se apenas por «um pontapé na barriga de um negro que corria na Rua Garrett (local onde se deu o espancamento da vítima mortal)». Lembrou-se também que era capaz de reconhecer um dos agressores de Alcindo: nem mais nem menos que o «arrependido» José Lameiras.
Explicou então que pontapeou o negro porque lhe pareceu que este se preparava para o atacar: «Vinha a correr na minha direção e eu pensei que fosse um ataque por causa do que se passara antes e defendi-me.» O coletivo aproveitou a deixa e, de pergunta em pergunta, concluiu que o negro pontapeado era Alcindo Monteiro. Aproveitaram para ironizar a implicação contida no testemunho de José Paiva: Alcindo Monteiro resolveu, por iniciativa própria e sozinho, atacar o grupo de cerca de quinze indivíduos… O resto do seu depoimento não diferiu muito dos que já haviam sido prestados. Negou quase tudo o que terá relatado à Polícia Judiciária, a quem acusa de o ter espancado, e aos juízes do Tribunal de Instrução Criminal que validou a sua prisão preventiva. O juiz lembrou-lhe ainda que em sua casa foi encontrado diverso material de propaganda nazi, mas Paiva, um ex-fuzileiro, encontrou resposta para justificar cada objecto. O tribunal ficou assim a saber que o cinto com a cruz suástica foi comprado, «e bastante barato», na Feira da Ladra; que os livros e panfletos de tendência skin lhes foram enviados para casa sem saber por quem nem porquê; que a soqueira que guardava nunca a utilizou e, por fim, que os quatro filmes sobre atividades de «cabeças rapadas» lhes foram dados por José Lameiras.
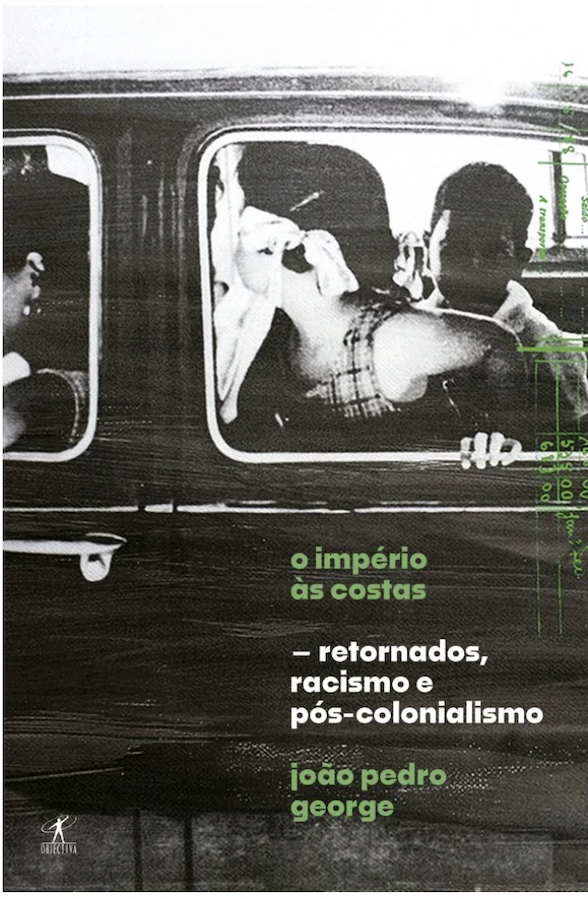
Em sua defesa, os arguidos negaram professar ou perfilhar qualquer ideologia racista ou xenófoba, negaram defender a eliminação de toda «a raça negra» (a expressão foi utilizada constantemente em tribunal, apesar de se tratar de um erro grosseiro do ponto de vista científico); que não combinaram bater em todos os negros por quem passassem nas ruas que percorreram; que nunca pertenceram a qualquer associação ou movimento assente nesses ideais; que tinham convivido sempre harmoniosamente com indivíduos negros; que eram bons e fraternos amigos de todos os seus companheiros, «independentemente da raça, credo, religião e sexo»; que muitos daqueles com quem privavam no quotidiano eram, inclusive, negros, os quais sempre trataram com respeito, com estima e até, em certos casos, com grande amizade; que jamais estabeleceram qualquer tipo de distinção «entre brancos, negros ou qualquer outra raça ou grupo étnico»; que nunca tiveram em seu poder, em suas casas ou noutros locais, «literatura, manuscritos, autocolantes ou outros apontamentos alusivos a ideais fascistas, nazistas e racialistas, destinados à difusão da xenofobia e incitamento a atuações de violência coletiva»; que muitos deles se interessavam pelo estudo da filosofia política, daí serem possuidores de extensa literatura respeitante, não apenas às ideologias de direita, como às ideologias de esquerda e marxistas-leninistas; que não pertenciam ao movimento de skinheads em Portugal e que nunca promoveram reuniões ou encontros com vista à promoção e difusão de ideais racistas, traduzidos na «superioridade da raça branca» e na «inferioridade da raça negra»; que jamais se reuniram ou promoveram encontros em cafés ou bares com o intuito de debaterem ideias racialistas; que nunca se mostraram avessos «à mistura de raças e à imigração para Portugal de indivíduos de raça negra, nomeadamente os originários das ex-colónias», tão-pouco defendiam «a expulsão destes indivíduos do território nacional»; enfim, que eram pessoas pacíficas.
Do lado das vítimas, os testemunhos dos familiares foram angustiantes e dolorosos. Os familiares de Alcindo Monteiro recordaram-no, nos seus 27 anos, como um jovem transbordante de alegria, vida e saúde, a quem lhe foi tirada a vida apenas pela cor da sua pele, pelo facto de ser negro. Foi provado em tribunal que Alcindo morreu no meio de um sofrimento atroz e que a sua mãe, Francisca Monteiro, passou a ser assaltada constante pelo pânico, por recear que algum dos seus outros filhos ou netos fosse confrontado com a mesma situação que vitimara Alcindo. Sentindo-se insegura, confessou que, desde aquele dia, acordava a meio da noite, frequentemente, com pesadelos. Incapaz de se libertar das imagens do seu filho a ser espancado e assassinado, referiu também que se sentia psicológica e psiquicamente bastante afetada, obrigando a diminuir as relações sociais ao mínimo indispensável.
Os familiares dos restantes agredidos consideraram-se também perturbados psicologicamente pelo que acontecera naquela noite, e os próprios, que foram alvo das agressões, declararam sofrer ainda sequelas das lesões causadas pelos arguidos, não apenas a nível físico como psicológico. Um deles confessou sentir-se perseguido, «receando que a qualquer momento alguém o ofenda verbal ou fisicamente pelo único facto de ser negro», e outro disse sentir, desde então, «muito medo de aglomerados de pessoas».
Um mês antes do final do julgamento, a 2 de maio, o Ministério Público desistiu da acusação de genocídio contra os 17 arguidos. Ainda segundo Fábio Monteiro, «a procuradora da República no julgamento justificou o recuo com o facto de os arguidos não terem sido acusados de associação criminosa — pedindo, antes, a sua condenação por homicídio». Graças a isso, o limite máximo de pena que os acusados estavam sujeitos passou de 25 para 20 anos.
No dia em que a sentença foi lida, em 4 de junho de 1997, os skinheads presentes a tribunal vestiam camisolas ou camisas pretas e, contrariando a aparência exibida meses antes, todos se apresentaram de cabelo rapado. Além disso, os skins condenados anteriormente, que aguardavam a sentença sob prisão preventiva, entoaram nos seus calabouços cânticos onde repetiam as palavras «Nazis, nazis, nazis, nazis», denotando assim «completa ausência de arrependimento» e que, ao invés do que tentaram fazer crer aos juízes, defendiam uma ideologia fascista, racista e xenófoba.
De resto, à saída do tribunal, João Nabais, advogado da família de Alcindo Monteiro, mostrou-se pouco ou nada surpreendido pelo comportamento de alguns arguidos quando lhes foi lida a sentença: «Hoje mostraram realmente aquilo que são, com uma postura agressiva, ao contrário de anteriores sessões, em que mais pareciam meninos de ouro.»
Segundo o acórdão do tribunal coletivo da 5.ª Vara Criminal de Lisboa, ficou decidido que dois elementos seriam absolvidos, que a acusação da prática de crime de genocídio era improcedente e que os restantes 15 arguidos eram condenados por diversos crimes de ofensas corporais com dolo de perigo e como coautores materiais de um homicídio qualifica, em concurso real, na forma consumada. Por tais crimes, os arguidos foram condenados a diferentes penas de prisão, entre os dois anos e seis meses de prisão e os 18 anos, passando por penas de 17 anos e seis meses de prisão, 16 anos e seis meses de prisão ou 14 anos de prisão. Entre os condenados pelo espancamento, nas ruas de Lisboa, de indivíduos racializados, contava-se Mário Machado, que recebeu uma pena de quatro anos de prisão por agressões a seis negros na mesma noite em que Alcindo Monteiro foi assassinado (crime de que não foi corresponsável, presumivelmente, porque se encontrava noutro local a espancar outras pessoas).
No total, as penas dos arguidos somavam 201 anos e três meses de prisão. A família de Alcindo Monteiro pediu uma indemnização de 90 mil contos, porém, o tribunal decidiu que os condenados ficavam obrigados a pagar apenas 18 mil contos (valor que nunca foi pago).
Os dirigentes do SOS Racismo, organização que na noite anterior à leitura da sentença organizara uma vigília à porta do tribunal, manifestaram-se insatisfeitos com algumas das conclusões a que os juízes chegaram: «A pena aplicada foi aparentemente dura. Aparentemente porque muitos dos implicados ficaram por identificar e prender» (excerto do comunicado do SOS Racismo distribuído à imprensa). De resto, depois destas condenações, disse José Falcão,
quando pusemos um processo contra o Movimento de Ação Nacional (MAN) o Tribunal Constitucional não ilegaliza porque já não existia, mas também não condena as pessoas que andaram por lá. Nesse próprio dia, em 1994, dois ativistas são agredidos em Vila do Conde num ataque a um bar onde se juntava malta de esquerda. Em 1995 matam o Alcindo Monteiro. Depois são presos e desaparecem do mapa.
Vários arguidos interpuseram recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Um deles por considerar que «ser-se skin, nacionalista, racista, não é crime perante a diretiva constitucional da liberdade de consciência, de opinião, de expressão de pensamento e da organização».
Relato circunstanciado do homicídio de Alcindo Monteiro (segundo o Supremo Tribunal de Justiça)
Dias antes do assassinato de Alcindo Monteiro, corria nos meios frequentados por skinheads a informação de que estava a ser organizado um jantar de comemoração do feriado de 10 de junho de 1995. Em particular no bar Ramis, em Almada, um viveiro de cabeças-rapadas, onde todos os fins-de-semana se encontravam para beber e fazer barulho. Um dos mais assíduos era Miguel Temporão, líder do núcleo de skinheads de Lisboa, que em 1991 tinha sido condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, pelo envolvimento no conflito que provocou a morte de José Carvalho, na sede do PSR.
Miguel Temporão ficou encarregado de fazer os convites, enquanto Nuno Cláudio Cerejeira ficava responsável por marcar o restaurante para o «dia da Raça”, como continuavam a chamar-lhe, para assim afirmarem a sua ligação umbilical ao fascismo salazarista. Cerejeira, que trabalhava então como escriturário no Aeroporto de Lisboa, escolheu «O Ribeiro», restaurante na zona ribeirinha de Cacilhas.
Foi assim que, por volta das 20 horas do dia 10 de junho de 1995, cerca de 60 skinheads, estando ali representados os mais importantes núcleos ligados a este movimento: Porto, Matosinhos, Olivais (Lisboa), Linha do Estoril (em particular Carcavelos), Sintra, Loures ou Corroios. Segundo o dono do restaurante, João Ribeiro, «eu, que nem sabia o que eram skinheads, pensei que tivesse alguma coisa a ver com a seleção nacional. Até porque, quando voltei de ter ido buscar mais pão, tinham pendurado uma bandeira portuguesa na parede.»
Durante o jantar, em determinado momento, todos se levantaram, cantaram o hino nacional e fizeram a saudação nazi, e continuaram as conversas sobre nacionalismo, fascismo e a superioridade dos brancos.
No final, por volta das 23 horas, a maior parte dos elementos daquele grupo decidiram ir ao Bairro Alto, onde por certo encontrariam jovens negros. Sabendo que muito provavelmente se envolveriam em confrontos físicos — o seu padrão de comportamento autoriza-nos a fazer esta suposição —, combinaram encontrar-se mais tarde, em caso de dispersão, na «Merendeira», bar da Avenida 24 de Julho que ficava aberto até altas horas da madrugada.
Munidos com botas com biqueiras de aço, soqueiras metálicas e paus semelhantes a tacos de basebol, encontraram-se no bar «O Minhoto», no número 23 da Travessa da Boa-Hora, um dos locais, em Lisboa, frequentado por skinheads. Ali foram chegando após a meia-noite, concentrando-se quer no interior, quer à entrada daquele local de diversão noturna. Eufóricos nos seus blusões pretos, já algo bebidos e resguardados pela segurança do grupo, dedicaram-se a insultar os negros que tiveram o azar de se cruzar com eles, dizendo-lhes «Preto, vai-te embora», «Preto, cheiras mal» e «Não tomas banho», e atirando-lhes garrafas de cerveja.
Em face disto, alguns negros dirigiram-se ao bar «A Tasquinha», na Rua do Diário de Notícias, habitualmente frequentado por negros e punks, e contaram o que se tinha passado. Entre 10 e 15 negros deslocaram-se até à esquina da Travessa da Boa-Hora com a Rua Diário de Notícias, a cerca de dez metros do local onde se reuniam os cabeças-rapadas. Os gritos e insultos de lado a lado alertaram os skinheads que estavam no interior de «O Minhoto», que se juntaram aos outros. Perante a cada vez maior aglomeração de «racistas», e na iminência do confronto físico, os jovens negros começaram a fugir. De imediato, cerca de 30 ou 40 skins lançaram-se a correr, em perseguição daqueles, tendo alcançado alguns na Rua do Diário de Notícias, que foram indiscriminadamente agredidos em diversas partes do corpo, com soqueiras metálicas, paus, copos, garrafas de cerveja partidas, correntes e as suas botas com biqueira de aço. Os ferimentos causados, descritos em tribunal, incluíam, entre outros, feridas faciais profundas (causadas por objetos perfurantes).
Enquanto os agredidos dispersavam, compareceram no local mais cerca de 15 skins vindos das imediações do bar «O Minhoto». Nesse exato momento, surgiram no cruzamento da Rua do Diário de Notícias com a Travessa da Boa-Hora, vindos da Travessa da Cara, três negros, oficiais do Exército angolano, que por ali passavam casualmente, ignorantes dos confrontos ocorridos segundos antes. Apercebendo-se da tensão, e ouvindo vários gritos, continuaram o seu caminho sem se deterem. De repente, ouviram alguém aos berros, dizendo «Vão aí mais três! Vão aí mais três!» Constatando que alguns indivíduos de cabeças-rapadas se dirigiam contra eles, atirando-lhes copos, garrafas e pedras, desataram a correr, mas não conseguiram escapar, pois apareceram mais 14 skins, que subiam a Rua do Diário de Notícias, para se juntarem aos restantes. Encurralados, os três angolanos foram barbaramente agredidos em todo o corpo, em particular na cabeça, com socos e pontapés, utilizando os objetos atrás referidos.
No meio da confusão, os três elementos do Exército angolano, com várias feridas e traumatismos, conseguiram libertar-se e fugir a sete pés pela Rua do Diário de Notícias, rapidamente até deixarem de ser perseguidos. Passou-se isto pouco antes da uma da madrugada de 11 de junho.
Não satisfeitos com o sofrimento causado, os skins foram atravessando as ruas do Bairro Alto em correria, gritando, atirando caixotes de lixo pelo ar e agredindo todos os negros que encontravam no caminho, tendo inclusivamente entrado em alguns bares, para continuar a perseguição daqueles, ou pontapeando as portas dos estabelecimentos que se tinham fechado para proteger os alvos do seu ódio racial.
Avançando na direção da Rua da Rosa, por voltas da 1h15, o porteiro do Bar Nova, indivíduo negro, quando abriu a porta para deixar entrar duas raparigas, foi também agredido por aquele grupo de cerca de 15 skinheads, e só não levou mais murros na cabeça porque se conseguiu proteger no interior do estabelecimento, fechando a porta com toda a força.
A atenção dos agressores desviou-se, entretanto, para um negro que, acompanhado dos seus amigos brancos, descia a Rua da Rosa, desconhecendo o que se estava a passar. Prontamente, o grupo de 15 cabeças-rapadas desatou a agredir o jovem negro, afastando do local os amigos brancos daquele, a quem eram desferidos socos no peito, pontapés e uma paulada na cabeça com um taco de basebol. Enquanto isto, os agressores gritavam «Este é preto, mata-o!», «Filho da puta», «Preto», «Vai para a tua terra, que isto aqui não é lugar para ti.» De súbito, enquanto os outros desferiam pontapés no corpo do agredido, um dos criminosos agarrou num ferro redondo de andaime, em forma de bengala, com cerca de um metro de comprimento e um centímetro de espessura, acertou com um golpe na cabeça do jovem, fazendo-o perder os sentidos, altura em que os skins o abandonarem no local, próximo do restaurante «O Forcado». Segundo fichas clínicas e os relatórios de exames médicos posteriormente realizados, o jovem sofreu um traumatismo craniano, designadamente na zona do ouvido direito, crepitação do ombro direito e do joelho esquerdo, entre outras maleitas.
Depois de terem percorrido a Rua da Rosa, os 15 skinheads dividiram-se em dois grupos, um dos quais seguiu pela Rua Luísa Tody e o outro pela Travessa São Pedro de Alcântara, desembocando ambos, depois, na Rua de São Pedro de Alcântara. Nesse momento, nove desses elementos começaram a correr em sentido descendente, em direção ao Cais do Sodré. Durante o trajeto, encontraram um casal — ele negro, ela branca —, que subia a Rua de São Pedro de Alcântara, vindo da Rua do Grémio Lusitano, com o intuito de descerem o elevador da Glória. Sem se aperceber como nem porquê, depois de um dos skins lhe dizer «Não gosto de misturas», o jovem foi atirado ao chão por um dos agressores, para assim poder ser pontapeado e atingido com paus pelos nove agressores, que raivosamente gritavam «Preto, vai para a tua terra.»
Tentando fugir para o outro lado da rua, o jovem seria, porém, barrado pelos seus atacantes, levando-o a cair de novo, mas agora no meio da rua, em pleno alcatrão, obrigando a parar alguns carros que nela transitavam. Em pânico, receosos de serem também agredidos, os ocupantes das viaturas mostraram-se incapazes de auxiliar ao jovem. Igualmente em pânico, os proprietários e empregados dos estabelecimentos noturnos existentes naquela rua fecharam as portas, impedindo a entrada e a saída dos clientes. Nesse momento, nove skins rodearam o desgraçado, que não fizera mal a ninguém, e formaram um círculo em seu redor, batendo-lhe descontroladamente, com pontapés pelo corpo, pela zona abdominal e, sobretudo, pela cabeça, utilizando para o efeito uma soqueira metálica. Ao mesmo tempo, enquanto o faziam, os skins gritavam «Mata o gajo! Negro da merda!» Prostrado no solo, já inanimado e sem se mover, foi abandonado pelos nove agressores.
Entretanto, juntam-se a este grupo de nove skins outros cinco que tinham ficado para trás, os quais voltaram às agressões, ainda na mesma Rua de São Pedro de Alcântara, sobre um negro que se encontrava à porta do café «Cantinho dos Amigos», que seria atingido na cara com um copo partido, provocando-lhe um corte na orelha e no maxilar do lado direito. Sangrando abundantemente, seria auxiliado pelo proprietário do café, que o recolheu para dentro, fechado de imediato a porta.
A violenta caminhada prosseguiu, em direção ao Largo Trindade Coelho, no meio de correrias, de novas agressões aos negros que iam a passar e de gritos «Morte aos pretos!» e «Portugal é nosso!» Passava então da 1h30. Este grupo, agora composto por 11 elementos (alguns abandonariam o local das agressões), desceu então a Calçada do Sacramento, indo desembocar na Rua Garrett. Durante a descida, avistaram um jovem negro — Alcindo Monteiro —, que caminhava sozinho, em sentido ascendente, com os seus pensamentos, no passeio do lado direito. De imediato, os 11 assassinos iniciaram a perseguição, até que o alcançaram e o agarram, rasteirando-o e fazendo estatelar-se. Cercado pelos 11 energúmenos, Alcindo foi sovado e agredido por todo o corpo, com socos e pontapés, enquanto era arrastado no sentido descendente da rua. Junto à loja «Gianni Versace», Alcindo foi novamente rasteirado, caindo prostrado no chão e sucedendo-se os socos e os pontapés. Enquanto era agredido, um dos 11 lançou mão de um objeto com uma base circular em cimento — com cerca de 21,5 centímetros de diâmetro e dois de espessura, de cujo centro emergia uma haste tubular, com um comprimento de cerca de 18,5 centímetros e 4,3 de diâmetro —, com o qual desferiu duas pancadas na cabeça de Alcindo Monteiro. Os vários pontapés de que foi vítima deixaram entranhados nas botas de alguns skins alguns vestígios capilares da cabeça de Alcindo Monteiro. No final, com o pobre Alcindo Monteiro prostrado no solo em decúbito ventral, inanimado, um dos skins colocou um pé sobre a cabeça da vítima e levantou os braços em atitude de triunfo. Segundos depois, os 11 abandonaram o local e dirigiram-se para a Rua Nova do Almada. Como se nada daquilo tivesse sido suficiente, três deles voltaram atrás e, dirigindo-se de novo ao corpo que jazia inanimado no chão, recomeçaram os pontapés indiscriminados, com Alcindo Monteiro movendo-se animicamente face à força dos golpes que lhe eram desferidos com as botas dos skinheads.
Todos desceram depois a Rua Nova do Almada até à Praça do Município e enfiaram pela Rua do Arsenal, em direção ao Cais do Sodré. Durante este trajeto, encontraram outro indivíduo negro, em sentido contrário, o qual foi também cercado e agredido a soco e com pontapés, ao ponto de o terem derrubado, fazendo-o cair no chão. As agressões continuaram, até que um deles ergueu um pau com o formato de um taco de basebol, desferindo-lhe uma pancada no rosto, causando-lhe, entre outras lesões, um traumatismo craniano e na pirâmide nasal, com fratura dos ossos do nariz. Depois, abandonaram-no, continuando rumo à Avenida 24 de Julho, ao estabelecimento «A Merendeira», para se encontrarem, conforme combinado, com outros elementos do seu grupo de skinheads.
As pessoas que cometeram estes atos agiram de forma deliberada, livre e consciente, perfilhavam ideias nacionalistas e racistas, assentes na suposta superioridade dos brancos e na suposta inferioridade dos negros. Por outro lado, não eram indivíduos que viviam em condições extremas, numa sociedade que os dispensava, ignorava ou marginalizava. Nem sequer provinham de famílias que os tinham abandonado ou recusado, o que eventualmente poderia justificar algumas linhas de reflexão sobre o desespero das suas realidades humanas e civis, o sentimento de revolta interior, uma fermentação destruidora, um ódio impossível de disfarçar, algo que lhes tivesse dilacerado a cabeça pela loucura. Longe disso.
Estes indivíduos tinham empregos estáveis ou eram ainda estudantes, e viviam quase todos em ambiente familiar, com dois ou mais elementos. Repare-se na condição socioprofissional dos 19 skinheads que foram a julgamento, processados pelo Ministério Público: escriturário do Aeroporto de Lisboa (vivia com os pais), técnico de ar condicionado (vivia com a mãe), empregado de mesa (vivia com os pais), estudante do 11.º ano (vivia com a mãe), cabo da Polícia Aérea (vivia com os pais), segurança na empresa «Prestibel» (vivia com os pais e uma irmã), soldado de transmissões com o curso de cabo (vivia com a mãe), empregado numa loja de eletrodomésticos da família (vivia com os pais), empregado de mesa no café da família e estudante do 12.º ano (vivia com os pais), empregado de balcão num supermercado da família (vivia com os pais), desenhador gráfico (vivia com os pais e uma avó), segurança na «Prossegur» (vivia com a mãe e o padrasto), estudante do 3.º ano do curso de Energia e Sistemas de Potência, no ISEL (tinha cadastro e vivia com os pais), estudante de um curso técnico-profissional de desporto (vivia com a mãe, o padrasto e dois irmãos), desempregado (vivia com os pais), eletricista com o pai e estudante do 12.º ano (vivia com os pais), montador de peças automóveis na «Opel Portugal» (vivia com a mulher e uma filha menor).
Ou seja, os criminosos viviam todos na companhia de familiares, a maioria dos quais dispunha de um bom envolvimento social (desde logo na comunidade de vizinhos, de colegas e de superiores hierárquicos) e familiar, estavam empregados (muitos deles com empregos estáveis, nada indicando que não os manteriam no futuro).
Desse grupo, 17 eram delinquentes primários e apenas dois eram contumazes. As idades dos primeiros variavam entre os 18 e os 28 anos, distribuindo-se do seguinte modo: 18 anos (1), 19 (3), 20 (4), 21 (2), 22 (2), 23 (2), 24 (1), 25 (1), 28 (1).
O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, emitido em 12 de novembro de 1997, negaria provimento aos recursos dos arguidos, mas alterou algumas penas: um dos arguidos foi condenado a dois anos de prisão; um a dois anos e seis meses; dois a dois anos e três meses; um a 13 anos; outro a 16 anos; quatro a 17 anos; dois a 17 anos e dois meses de prisão; por fim, três a 17 anos e seis meses de prisão.
ÍNDICE DO LIVRO
PARTE I
O Passado e o que Lá se Perdeu
1. A Velha Cepa Portuguesa
2. Um Funcionário Zeloso do Fascismo
A Censura e os Serviços de Informação
António Mega Ferreira: funcionário do Estado Novo
Massacre de Wiriamu (dezembro de 1972)
A ação do padre Adrian Hastings
Repercussão internacional
Reação portuguesa: Marcello Caetano em Londres
O discurso propagandístico de Mega Ferreira
Depois do 25 de Abril: apóstolo do socialismo
Mega conhece o padre Hastings!
As máscaras e os atalhos de Mega Ferreira
Conclusão
3. Genocídio em Moçambique
4. Retornado. Que palavra é esta?
5. Acolhimento dos retornados:
Contexto e condições
Apoios internacionais (pequeno esboço)
6. Manifestações, Violência e Associações de Retornados
Movimento Associativo
Protesto e Agressão
As Indemnizações
7. Crónica de Legislação: Institutos, Comissões e Comissariados
Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN)
Secretaria de Estado dos Retornados
Hotéis e Alojamentos
Financiamentos, créditos e medidas de assistência social
Comissariado Nacional de Apoio aos Desalojados
Recenseamento dos Retornados
Comissão Eventual para os Desalojados
O Conceito de Desalojado
Extinção do IARN
9. O Discurso dos Partidos Políticos no Parlamento
Os Governos Provisórios
Eleições legislativas e presidenciais de 1976
Manipulação e Instrumentalização
Do I ao II Governo Constitucional
Fraudes, abusos e irregularidade: o escrutínio do Parlamento
O caso Galvão de Melo
Do II ao VI Governo Constitucional
10. A Universidade do Minho e a Integração dos Retornados: Um Estudo de Caso
Estudos Gerais Universitários de Moçambique
A Reforma Educativa de Veiga Simão
Universidade do Minho
Política de Recrutamento
11. O Boomerang do Império Português
Silêncio de Amnésia?
O Outro
Do 8 ao 80: Os retornados sempre existiram
Parte II
O Passado Não é um País Diferente
1. Lisboa, «A Capital Mais Africana da Europa»
Africanização da Guerra Colonial
África em Portugal depois do 25 de Abril
Uma lei racista?
Êxito total de integração?
2. Toponímia Colonial
Nacionalismo e toponímia
A toponímia como tecnologia de poder
Toponímia e pós-colonialismo
A toponímia colonial de Lisboa
Evolução da toponímia colonial lisboeta: Do Bairro das Colónias aos Olivais, passando por Belém e pela Penha de França
Renomear a cidade
3. O passado não é um país diferente
O mundo dos brancos
A Jamaica que o português criou
Racismo Estrutural
Sexismo & racismo
Como tornar-se racista
4. O Assassinato de Alcindo Monteiro
Filmar o racismo
O nascimento do SOS Racismo (PSR) e da Frente Antirracista (PCP)
A manifestação antirracista de 1995
Partidos políticos e movimentos associativos
Cabeças rapadas
O julgamento
Relato circunstanciado do homicídio de Alcindo Monteiro (segundo o Supremo Tribunal de Justiça)
A história de Mário Machado
Skinheads e futebol
Etnografia visual
Falsas simetrias
Um polícia do antirracismo moral
Uma boia de salvação durante a tempestade
Puxões de orelhas
Conclusões
João Pedro George, O Império às Costas. Retornados, Racismo e Pós-Colonialismo, Lisboa, Penguin Ramdom House. ver livro