Nota Autobiográfica ao livro "O Cemitério do Elefante Branco"
O Cemitério do Elefante Branco - Literatura, Retornados e Ficções do Império Português
Nasci em Maputo (antiga Lourenço Marques colonial), em Fevereiro de 1972, e vim para Portugal com três anos, no mês de Março ou Abril de 1975. Sou retornado, um dos cerca de 500 mil que aterraram no aeroporto da Portela nos anos a seguir ao 25 de Abril.
A história da minha família é a história do colonialismo português em África no século XX. O meu bisavô paterno foi um dos oficiais do exército português que participou nas campanhas que levaram à prisão de Gungunhana. E o meu avô Manuel instalou-se em Moçambique pouco depois da I Grande Guerra, com apenas 19 anos. Ali seguiu a carreira administrativa, tendo sido Chefe de Posto – viveu cinco anos seguidos no mato, junto das populações locais, e contactava tão raramente com brancos que, quando queria ver alguém como ele, costumava dizer, “tenho de me ver ao espelho” –, Administrador da Ilha de Moçambique (onde nasceram o meu pai e a minha tia Manuela) e, provisoriamente, Intendente de Nampula. O meu tio Adelino foi administrador daquela província, na altura do Quartel-General do exército português, instalado logo após o início da guerra de independência de Moçambique, e criou (juntamente com o meu avô) o Museu Comandante Eugénio Ferreira de Almeida (actual Museu Nacional de Etnografia de Nampula).
Cheguei a Portugal com o meu irmão mais velho, o Tó (já falecido), ambos sozinhos no avião. Do aeroporto da Portela seguimos para casa dos nossos tios Adelino e Cândida, que voltaram meses antes da revolução, já reformados, e viviam num apartamento em Benfica, na Rua Professor Reynaldo dos Santos, um pouco acima do Califa e do Centro Comercial Bilene. Meses depois, embora a nossa mãe já estivesse Lisboa (regressara de África, entretanto, no último avião da Ponte Aérea) e com ela já estivéssemos a viver na zona da Praça de Londres, passámos várias temporadas em casa da nossa avó paterna, em Paço d’Arcos, no bairro da Tapada do Mocho, onde morava com os meus primos e a minha tia.
Falar em retornados, no meu caso particular, é evocar a Tapada do Mocho, um bairro de casas económicas cuja construção fora iniciada em Setembro de 1971, pelo antigo Ministério do Ultramar, mas que só seria concluído no final daquela década. Então propriedade da Obra Social do Ministério do Ultramar (instituição criada em 1966, na dependência daquele ministério), o bairro foi projectado com o objectivo de vender casas (em suaves prestações) aos funcionários coloniais que, trabalhando e vivendo em África, pretendiam ter um sítio na metrópole para vir de férias (durante as chamadas licenças graciosas), para quando os filhos entrassem na universidade ou para gozarem a reforma na Europa, acabando aqui os seus dias.
As primeiras casas começaram a ser habitadas em Agosto de 1975 e estenderam-se até 1980, ano em que foi efectuada a entrega da última casa. Uma parte significativa dos moradores – que incluía desde altos funcionários públicos, como juízes e engenheiros de pontes, até aos postos mais baixos da hierarquia da administração colonial, incluindo porteiras dos liceus – seria incorporada directamente no aparelho de Estado (através do Quadro Geral de Adidos), permitindo-lhes assim continuar as carreiras interrompidas com o 25 de Abril, enquanto outros acabariam por ser readmitidos no sector empresarial do Estado, na banca nacionalizada e nas administrações locais.
Constituído por um grupo de 26 prédios gémeos, erguidos com 10, 11 ou 12 pisos, o bairro estava organizado em tipologias: A, B, C, D, E e F (com os edifícios em banda e dois fogos por andar). Os apartamentos eram espaçosos e alguns tinham três casas de banho, quatro quartos (mais um para a “criada”) e duas portas de entrada. O rés-do-chão de alguns prédios formava um piso vazado – composto por uma casa (supostamente para um porteiro), uma entrada principal e depósito de caixotes de lixo –, o que permitia a livre circulação pedonal entre os edifícios.
Localizada na margem esquerda da ribeira de Paço de Arcos, a Tapada do Mocho foi implantada num terreno que, por não ter quase nada em redor, dispunha de perspectivas arejadas (das janelas dos pisos mais altos vê-se uma linha azul de mar ao fundo, por cima dos telhados) e estava cercado por campos tipo matagal, onde corríamos enquadrados pelo sol ou pela mão do acaso, entre as ervas retorcidas pelo vento, mais altas, por vezes, que a nossa altura (ali onde se alteiam hoje o Parque dos Poetas e o Oeiras Parque), e por meia dúzia de terrenos baldios, junto à ribeira, que alguns habitantes transformaram em tabuleiros de cultivo ou hortas.
Quando a minha avó foi para a Tapada do Mocho, em 1977, havia vários resquícios das obras, muitos elevadores nem sequer funcionavam e alguns edifícios tinham ainda andaimes nas fachadas. Os arruamentos (em particular a estrada que levava à estação de comboios) não estavam alcatroados e a água, em dias de chuva intensa, corria a grande velocidade e formava lagos de lama, que obrigavam os moradores a cobrir os sapatos com sacos de plástico ou com galochas (calçado de borracha, para cobrir os pés, que se abotoava com uma mola), e que, às vezes, impediam as crianças de frequentar a escola. Como parte dos edifícios estava por concluir, num barracão ali perto vivia o guarda das obras, juntamente com um carneiro, que o acompanhava na solidão das estações frias (daí ser conhecido como “Chico Carneiro”). Nos dias cálidos, por causa do vento forte que sopra do corredor que vem de Sintra — o vento chegava a soprar tanto que uivava assustadoramente quando batia contra os caixilhos das janelas, fazendo com que as pessoas, na rua, se dobrassem sobre si próprias, enquanto caminhavam —, a poeira levantava-se e penetrava as narinas, a cara, as unhas, os ouvidos, a roupa.
Nas traseiras do prédio da minha avó (o D7), num rectângulo de terra, foi construída uma piscina, que nunca funcionou e que rapidamente se transformou em vazadouro de lixo, dando ao bairro uma sensação ainda maior de fim dos tempos (mais tarde enterrada, com chão pavimentado por cima, continuará ali, depois de todos nós morrermos).
Na casa das máquinas da piscina, durante algum tempo, viveu o Samora, ex-soldado da Legião Estrangeira na Argélia, chamado a desempenhar a função de protector dos miúdos mais novos do bairro. Junto à piscina, descendo umas pequenas escadas, ou algum dos estreitos carreiros de terra que serpenteavam a pequena encosta em direcção a Porto Salvo, acedia-se a uns balneários minúsculos, ainda em cimento, onde ficaram a viver os trabalhadores cabo-verdianos que construíram o bairro, formando uma espécie de subúrbio do subúrbio (talvez um Musseque ou Caniço em miniatura, como eram conhecidos em Luanda e Lourenço Marques), onde todos tomavam banho ao ar livre e os filhos descalços jogavam à bola na lama. Ali, ao fundo daquela rua, os brancos raramente eram vistos ou achados. Os problemas de álcool, naquela pequeníssima população de operários da construção civil, estavam na origem de alguns desacatos, e um deles, pelo menos, foi morto com uma facada, por uma questão de ciúmes, e outro, um homem enorme, levou uma tareia de meia-noite, que o deixou inconsciente no chão, como uma árvore gigante que, golpe atrás golpe, acaba por cair.
Naquela época, a superfície do bairro era ocupada por poucos automóveis, mas as famílias que viviam na Tapada do Mocho eram bastante numerosas, compostas por casais com cinco, seis ou mesmo sete filhos, por vezes com avós e tios debaixo do mesmo tecto. A geração dos que chegaram na adolescência, ou que estavam a começá-la, depois de habituados a viver em África, num ambiente completamente outro, viram-se de súbito num mundo distinto, onde nunca tinham estado, e logo naquela idade, a idade de todas as inseguranças, de todas as imprudências e de todas as explosões emocionais. Como se isso não bastasse, os pais viviam em pleno trauma da descolonização, com as vidas desarrumadas, quase caóticas. Não se tinham ainda reestruturado, estabilizando numa profissão. Muitos sentiam-se alheados daquele bairro, daquelas casas, daqueles quartos, daquelas camas. Tornaram-se pouco vigilantes e prestavam pouca atenção aos novos desafios dos filhos.
Dentro das casas respirava-se colonialismo. Tudo lembrava África, as suas povoações e as suas paisagens. Mobílias e baús em pau-preto, mesas com pernas de impala, cabeças de animais penduradas na parede (troféus de caça), peles de leopardo (não havia nada mais excitante para uma criança que ver na parede uma pele de leopardo, como a que estava pendurada na sala de jantar da minha infância), dentes de elefante trabalhados, bijuteria feita com pedaços dos cascos das tartarugas, patas de elefante a fazer de caixote do lixo, colares com unhas de leão incrustadas em ouro, pulseiras de pêlo de elefante, caraças ou máscaras em madeira, estatuetas, talheres com cabos em madeira ou marfim, uma aldeia indígena em miniatura, quadros a óleo prestando culto à natureza grandiosa de África ou representando aldeias de nativos, porcelanas com motivos chineses, móveis orientais em laca e madrepérola (em Moçambique, a comunidade chinesa era enorme), fotografias dos convívios nos cafés e nas praias, quadros com paisagens de palmeiras, capulanas a cobrir os sofás, esteiras e tapetes de pele de zebra ou antílope, cinzeiros de pé alto em pau-rosa, etc.
A Tapada do Mocho dividia-se em três ruas: a Rua de Cima (hoje Joaquim Quirino); a Rua de Baixo (hoje Maria Telles Mendes, guarda da antiga passagem de nível de Paço de Arcos, colhida por um comboio em 1979, quando tentava socorrer uma senhora que ficou com o salto do sapato preso nos carris); e, por fim, a Rua do Meio. Na Rua de Cima viviam os retornados de Moçambique e Angola, na Rua de Baixo os que tinham vindo da Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste; a Rua do Meio, de onde se via as traseiras dos prédios da Rua de Cima e da Rua de Baixo, só tinha lojas: a tabacaria, a retrosaria, a modista, a lavandaria e o talho.
Toda a gente conhecia toda a gente. E a linha divisória entre os jovens da Tapada e o resto do mundo à volta era bem vincada. Dentro do próprio bairro, entre a Rua de Cima e a Rua de Baixo, e em cada uma delas, entre quem vivia de um lado da rua e quem vivia do outro, o ambiente era de rivalidade, como entre clãs opostos. Pelo simples facto de viverem em ruas (ou lados da rua) diferentes, os jovens dividiram-se em bandos que competiam e lutavam uns contra os outros. Até os cães tinham os seus próprios territórios: na Rua de Cima, de um lado, havia o Royce e o Speedy, enquanto do outro havia a Mimosa, o Robin (filho da Mimosa) e o Black (irmão do Royce, da mesma ninhada). Uns e outros davam-se mal, e sempre que algum cão invadia um dos lados da rua gerava-se logo zaragata. E havia ainda o Mombaça, o Shaka Zulu e o Zorba, cães vira-latas, este último adoptado pelos filhos de um casal de advogados acumuladores (na casa deles caminhava-se de lado, para o corpo passar no corredor e nas divisões, com as tralhas amontoadas sobre as paredes).
Brincava-se correndo ruidosamente no descampado por onde circula hoje o Satu (o chamado sistema de transporte fantasma, que vai da estação de comboios de Paço d’Arcos ao Oeiras Parque), evitando sempre o antigo posto de observação da Marinha, porque metia medo e parecia um sítio diabólico – ao qual, por isso, chamavam a “Casa dos Pides” ou o “Bunker do Hitler” –, ou junto a um cacto gigante e circunspecto, na sua verde indiferença, que diziam ser um dos maiores do mundo. Arrombava-se arrecadações, para ver o que havia lá dentro (quase sempre coisas vindas das colónias, embora o mais cobiçado fossem as garrafas de vinho). Fabricava-se pequenas bombas em laboratórios caseiros, que tanto podiam explodir ao ar livre, como rebentar com o quadro eléctrico do liceu, para suspender as aulas, durante um ou dois dias. E roubava-se cervejas e refrigerantes quando o camião das entregas parava à porta dos cafés.
Quase tudo era mote para alcunhas. Os pais eram, indistintamente, “O Salazar”. Ao indivíduo com barba até ao umbigo, que se abraçava às árvores e conversava com elas, chamava-se o “Homem das Cavernas”. O tipo franzino que se movia repetindo os tiques dos robots (por ser mentalmente perturbado, talvez esquizofrénico, julgo que nunca ninguém soube ao certo) era o “Pocket Calculator”, virando o pescoço para um lado e virando para o outro, fazendo que olha, mas não olha, como quem se assusta com a própria sombra, fazendo lembrar os autómatos da canção dos Kraftwerk. O senhor alto que caminhava de braços desamparados e descaídos, colados ao corpo, com os ombros muito levantados, quase ao nível das orelhas, ficou conhecido como “Flamingo”. O negro baixinho que acompanhava os jovens brancos recebeu o cognome de “Chita” (porque, dizia-se, lembrava o chimpanzé do Tarzan, o que era francamente humilhante e hoje seria impensável). À mulher muito gorda e de aspecto horrível, mas adorada por todos os animais, que a perseguiam todo o tempo na rua (cães, gatos e pombos esvoaçando em seu redor) – o que deixava toda a gente perplexa –, chamavam “Noéma”, por lembrar a Arca de Noé (ou uma cena dos filmes da Disney). Outro, que andava com uma iguana no braço, vestia uma gabardina mais indicada para o detective Philip Marlowe, e tinha atravessado Angola num velho mini (estava sempre bem disposto, dizia, porque nunca pensava no passado, tinha aprendido a viver no presente, sem se preocupar com o que lhe tinha acontecido ou com aquilo que lhe pudesse acontecer), recebeu o apodo de “Iggy”. Aquele que andava sempre vestido de preto, olhando sempre para o chão, porque não conseguia encarar ninguém de frente, era o “Corvo”. E havia ainda o vendedor do Círculo de Leitores, sempre de maleta castanha na mão – mesmo quando não ia trabalhar, a maleta acompanhava-o como um duplo, como se ela fizesse parte do seu corpo –, por todos apelidado de “O Doutor”.
A maioria dos rapazes tinha apenas 14 ou 15 anos, a idade em que se fazem coisas que depois dos 40 (o início da idade de olhar para trás) não se fazem. A vida era acordar, esperar que os pais saíssem de casa (ou que os avós adormecessem nas poltronas a ver televisão), faltar às aulas, comer tudo o que houvesse nos frigoríficos, sonhar com a travessia do Estados Unidos, de costa a costa (como nos livros de Jack Kerouac), ouvir música nos quartos uns dos outros (The Doors, Pink Floyd, Moody Blues, Bob Dylan, Bob Marley, etc.), e encher os pulmões de fumo, como nos filmes da Nouvelle Vague.
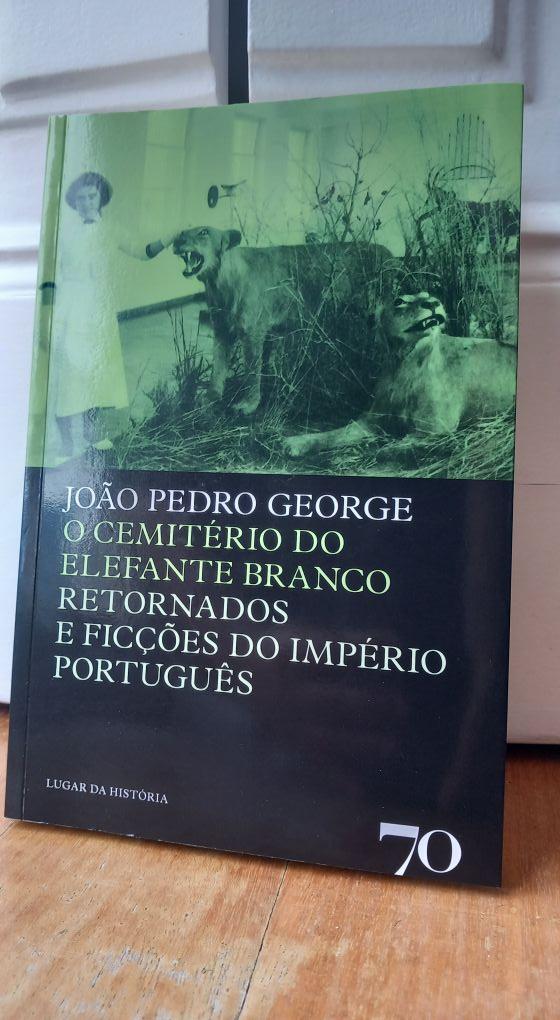
Em Paço d’Arcos havia muito haxixe, mas quem queria marijuana (liamba) ia comprá-la à Tapada do Mocho. Como chegava ali, ninguém sabia. Pelo prazer de afrontar o perigo, pelo vivo gosto da exibição ou apenas por estupidez, os rapazes fumavam cigarros de liamba no cimo dos guindastes-torre, sentados na chamada “lança”, o braço horizontal que suporta as cargas, por onde corre um carro com roldanas (porque dali a vista era melhor, conseguindo-se vislumbrar, ao longe, a Margem Sul). Depois, havia quem fosse para os prédios em construção e se entretivesse a saltar das janelas para o chão agarrado às cordas enfiadas em roldanas, que serviam para subir e descer o material da obra (cimento, tábuas, ferramentas, etc.). Havia os que se deitavam nos carris do comboio, entre as travessas, para sentirem o arrepio das carruagens passando por cima a toda a velocidade (o barulho do comboio a aproximar-se era aterrador e o grande desafio era resistir à tentação de fugir à última hora, porque seria morte certa), e os que praticavam equilibrismo na orla dos terraços de cobertura, por cima do 12.º andar, entre outras aventuras arrepiantes, que sei, embora não possa explicar.
Aquela foi, também, a geração de adolescentes que testemunhou o aparecimento da heroína. Quando o “cavalo” apareceu, foi uma razia, um tsunami com ondas maiores que as da Nazaré. Muitos consumiram-na até à ruína, ou até explodirem. Era muito fácil comprá-la. Bastava ir à zona das barracas, nas traseiras do Instituto Indiveri Colucci (médico naturopata de origem italiana que se radicou em Portugal e um dos principais introdutores da medicina alternativa no nosso país), às casas perto da Igreja de Paço d’Arcos, onde morava o Papagaio (como era conhecido, familiarmente, o dealer), ao Bairro da Figueirinha, mesmo ao lado da esquadra da polícia, ou à urbanização J. Pimenta, em frente da Escola Náutica. Havia tanta droga, que o concelho de Oeiras se tornou conhecido como Poeiras.
A heroína levava os filhos a saquear as suas próprias casas, para depois venderem as pratas, as jóias, as aparelhagens, os leitores de VHS (um deles arrancado aos pais, quando estes estavam no sofá da sala a ver um filme, alugado horas antes no clube de vídeo). Naquele bairro, por overdose ou suicídio, contava-se mais de uma morte por prédio. A Rita foi encontrada morta numa casa das máquinas dos elevadores; o Queiroga, que passeava nas ruas com uma espada dos cerimoniais militares, igual à do meu bisavô, suicidou-se, pulando de um prédio (desculpem, mas sou obrigado a abrir este parêntesis: o som de um corpo a espatifar-se na calçada, ficámos a saber naquela hora difícil para todos, é igual ao ruído dos fardos de roupa que alguns moradores atiravam pela janela, antes de serem levados para a lavandaria); o Chita enforcou-se aos 16 anos; o Isidro atirou-se para baixo de um comboio, tal como a Teresa, que tinha 15 anos e era tão religiosa que, desiludida por não ter entrado no Opus Dei, pôs fim à vida; dois irmãos gémeos enforcaram-se numa garagem; o cadáver do Índio Joe apareceu a flutuar, como um tronco de árvore, na ribeira de Paço d’Arcos; e o Punk morreu com um tiro na cabeça, disparado ninguém sabe por quem.
Ao contrário de outros bairros, ali não se viam as mulheres sentadas nas soleiras das portas ou nos átrios dos prédios, falando entre si em voz alta. Nem às janelas com os cotovelos e os seios apoiados aos parapeitos. Onde melhor se apreendia o espírito da Tapada e seus tipos humanos era nos cafés. O primeiro foi o Bataclan, em homenagem à telenovela Gabriela, Cravo e Canela, gerido por uma madame que ficou conhecida, evidentemente, pela alcunha de Maria Machadão (nome da dona do prostíbulo de luxo da novela brasileira, que começou a ser exibida em Portugal em 1977), mas também pelos bolos deliciosos que fabricava, em particular o São Marcos, que podiam ser comprados ainda de madrugada, antes do romper do dia. Como no bairro não havia assim tanta gente com aparelho de televisão, os moradores deslocavam-se ao café para assistirem à Gabriela (era tal a sua popularidade, que algumas reuniões da Assembleia da República chegaram a ser adiadas ou antecipadas para não coincidirem com o horário de exibição da telenovela).
Posteriormente, o Bataclan foi comprado pelo ismaelita Jamal, de Moçambique, conhecido pelos seus pães de cacete. Dentro do antigo Bataclan, agora presidido por um retrato a óleo do príncipe Aga Khan numa das paredes, passei muitas horas da minha infância e adolescência, na companhia do meu pai. Quando não estava com ele, ficava no exterior, na marquise com duas mesas de snooker, onde conviviam os adolescentes, junto ao grupo do meu primo, que sabia karaté e comia pão com bifes crus regados com vinho forte, desses que curam a anemia.
Na sala dos adultos – assemelhando-se por vezes a crianças pequenas vestidas como adultos – respirava-se África e cultura colonial. Aquela atmosfera espessa, quase sólida, que se agarrava aos ouvidos, era uma espécie de vitrina do fim do império português. Parecia conter um karma sinistro, como se o ódio, a resignação e o medo se tivessem desenvolvido ali com mais força. Naquele espaço reduzido, juntavam-se ex-governadores, ex-inspectores, ex-intendentes, ex-secretários de circunscrição, ex-chefes de posto, mas também médicos, juízes, engenheiros ou ex-combatentes das chamadas guerras coloniais (um dos quais sabia-se que pertencia ao MIRN). De um desses militares, contavam-se as histórias mais mirabolantes: que tivera a vida em perigo em emboscadas, tiroteios e explosões na estrada; que perdera companheiros, mortos por lançamentos de morteiros; que lhe apontaram uma pistola e lhe dispararam, mas não o feriram; que urinou sobre cadáveres de inimigos, porque uma bomba partiu em dois bocados ensanguentados o corpo de um amigo (daí ter-lhes urinado para cima); que depois de matar os inimigos, voltava a abrir fogo contra eles, quando já estavam caídos no chão, para se certificar de que estavam mesmo mortos, levando-os depois, um a um, agarrados pelos pés, arrastando-os pelo mato, enquanto as cabeças batiam lugubremente nas pedras, para os enterrar.
No seu rosto de cimento, os olhos irradiavam uma luz escura: com a guerra aprendera a ser cruel, a odiar tanto o inimigo, de maneira tão absoluta, que parecia irremediavelmente atraído pela morte. Soube-se que tinha terrores nocturnos, que se via a si próprio encolhido num esconderijo, contendo a respiração, enquanto alguns homens armados vasculhavam a casa onde se refugiara, ouvindo o estrépito das suas botas e uma voz gutural que ladrava ordens. Quando acordava dos pesadelos, permanecia rígido debaixo dos cobertores, com o cérebro concentrado no esforço de não fazer nenhum ruído (anos depois, foi apanhado pela polícia a profanar sepulturas no cemitério de Oeiras, agarrado a um corpo em decomposição).
Do Jamal ficou-me, sobretudo, uma música. A música dos antigos nomes coloniais: Vila Amélia, Novo Redondo, Pereira d’Eça, Serpa Pinto, Silva Porto, Beira, Teixeira Pinto, João Belo, Vila Pery, Vila Junqueira… Se os ouvíssemos de olhos fechados, julgaríamos estar em Luanda, em Lourenço Marques ou em Bissau, na Matola, na Namaacha, em Nampula, em Quelimane (conhecida como “o pequeno Brasil”), em Xinavane, na Manica, em Mocuba, em Sofala, em Porto Amboim, Lobito, Malanje, Moçâmedes, Baixa do Cassange ou Lunda. Naquele ambiente, falava-se do pôr-do-sol no hotel Cardoso, ou das festas no hotel Diamante, no Presidente ou no Chuabo; evocava-se os passeios no Parque Nacional da Gorongosa (“Depois de passar esta porta, está no paraíso africano, esta é a terra do negro, do branco, do amarelo e dos mestiços, porque são portugueses”, estava escrito à entrada, julgo), os bailes no Clube Ferroviário, no Clube Militar ou no Clube dos Caçadores, os jogos de canastra no hotel Polana ou na messe dos oficiais, as compras nos armazéns Catonho-Tonho, no Mercado do Kinaxixe, na Casa Sulemane (também conhecida como “o indiano das chamuças”), no quiosque do Refeba, no Jardim dos Cactos, no Prédio Treme-Treme, no Bairro dos Coqueiros, no Cinema Restauração ou no Águia, no Café Riveira e no Scala; descrevia-se as idas a Joanesburgo, que ficava a meia hora de avião de Lourenço Marques, para comprar roupa ou ir ao médico (os melhores do continente africano, quase todos judeus); elogiava-se a produção nas fábricas de sisal e de açúcar, na Companhia da Zambézia ou na COTONANG (Companhia Geral dos Algodões de Angola). De repente, entrava no café outro grupo de retornados, falava-se dos liceus onde tinham estudado (o liceu Adriano Moreira, o Salvador Correia, o Paulo Dias de Novais), dos bairros onde viveram (o Bairro da Maianga, o do Catete), as praias onde passavam os fins-de-semana e as férias (Praia do Bispo, da Restinga, Bilene).
As memórias de África abraçavam-se-lhes como um polvo. Eram novos tempos, e muitos não conseguiam acostumar-se a isso (levantavam-se, barbeavam-se, tomavam duche, vestiam-se, comiam o pequeno-almoço e bebiam o café da manhã a pensar em tudo aquilo). Se ter perdido tudo, depois de ter vivido 30 ou 40 anos em África, era uma espécie de doença, o melhor era deixar que a doença seguisse o seu curso (alguém disse que devemos levar a melancolia até ao extremo, ao ponto de a tristeza nos comprimir o tórax, e o coração nos pesar como se fosse feito de chumbo, porque só a partir desse momento é que se dará uma reacção biológica saudável).
Moídos de ressentimento e amargura, entrincheirados por trás de copos de uísque e segregando nicotina em doses elevadas, tentavam emergir de entre os escombros do império. Quando a conversa se tornava política, o que acontecia quase sempre, começavam a mexer-se nas cadeiras como se tivessem pimenta debaixo do rabo. Passava-se em revista o que tinha acontecido em Angola, em Moçambique, na Guiné e nas outras colónias, elogiava-se o Portugal multicontinental e multirracial, a vocação dos portugueses para se miscigenarem, a permeabilidade da nossa cultura aos usos e costumes dos trópicos, a abertura do nosso povo.
Ocupados com o seu próprio tédio, os homens (sobretudo eles) ficavam horas sentados no Jamal, em infinitas conversas sobre África, sobre o 25 de Abril, sobre a política portuguesa e internacional, sobre o comunismo, sobre isto e aquilo e aqueloutro. Davam voltas e mais voltas à descolonização (o momento mais calamitoso e inesperado das suas vidas), expunham os factos, apontavam o dedo aos responsáveis e à sua cobardia e incompetência. Falavam, discutiam, protestavam, gritavam.
Era como uma ginástica matinal. Odiava-se Mário Soares, odiava-se Almeida Santos, odiava-se Melo Antunes, odiava-se Rosa Coutinho. Odiava-se todos e cada um daqueles que, directa ou indirectamente, tivessem estado envolvidos no processo que levou à desintegração do império. Soares era tratado como “o bochechas vendedor de banha da cobra”, Álvaro Cunhal como “o cavalo branco” e Rosa Coutinho como “o almirante careca”, “o rosa vermelha”, “o cabeça de melão”, “o cara de jacaré” ou “o especialista em regatas e campeão da descolonização de Angola, que em Luanda dormia na Fragata” (Rosa Coutinho era capitão de fragata e tinha comandado o iate Adamastor, que fora adquirido por subscrição pública no Notícias de Lourenço Marques, para concorrer à regata Cabo/Rio de Janeiro).
Pasmavam que os traidores ainda estivessem em liberdade, sem que ninguém lhes pedisse contas ou os chamasse à responsabilidade pela sua “criminosa negligência”. Jogavam a cartada da conspiração e da perseguição, denunciavam aquilo que os políticos queriam esquecer, ocultar, disfarçar, negar. Destrinçavam tramoias, fraudes, mentiras. Gritavam contra aldrabices e ladroeiras, e apontavam cobardias. Utilizavam expressões como “a pátria destruída”, “a hecatombe histórica de um país com mais de oito séculos de História” ou “a morte de Portugal”, referiam-se obcessivamente à “Cova da Moura”, nome que andava na boca de todos os moradores, porque a papelada do arquivo de documentos da Agência-Geral do Ultramar, como os processos individuais de funcionários e agentes da administração colonial (durante muito tempo armazenados num espaço da Cordoaria, na Junqueira), fora transferida do Ministério do Ultramar para o Palácio da Cova da Moura (à porta dessas novas instalações, onde se aglomeravam centenas de retornados, havia quase sempre confusão, exigia-se subsídios, pensões de reforma, empregos), uns censuravam o caos dos contentores nas docas de Lisboa (muitos deles assaltados por ladrões ou funcionários do porto), outros lamentavam-se por não terem como ir buscar as coisas que tinham conseguido trazer de África e estavam ali a estragar-se.
Subitamente, alguém comentava a frase que aparecera pintada a vermelho na parede de um prédio: “SEUS RETORNADOS DE MERDA, ANDARAM A ROUBAR OS PRETOS E AGORA VÊM COMER AQUILO QUE É NOSSO”. De imediato, assobiavam no ar, como balas de canhão, os impropérios, os berros, as blasfémias, os rugidos. Explicava-se que as colónias se tinham desenvolvido enormemente, que Portugal tinha vivido durante séculos “às costas do preto” e graças ao trabalho dos “colonos brancos”, que o café e o açúcar das pastelarias vinha das colónias, o mesmo com o algodão das fábricas e o ouro que tornara o escudo uma moeda forte. “E, já que me puxam pela língua, quantos bairros de Lisboa foram construídos com o dinheiro das colónias?” Nenhum deles duvidava de que a sua missão em África fora cumprida: trabalho duro e desenvolvimento. Mas agora, depois da fuga apressada dos portugueses, aquelas terras iam regressar ao seu estado primitivo, anterior à chegada dos nossos navegadores, assistir-se-ia ao ressurgimento de um tribalismo quase esquecido. Desemprego, fome, miséria, crime. As notícias da televisão, sobre as ex-colónias, só lhes traziam isso: “Já não é a mesma África dos meus tempos”. Afinal, eles tinham estado nos pontos quentes da descolonização. Os seus testemunhos eram indesmentíveis, as provas que apresentavam eram sufocantes, os factos inalienáveis. O seu saber, ao contrário da maioria dos portugueses, era concreto e directo, acumulado por muitos anos de experiência em primeira mão.
Para imprimir velocidade às frases, ensaiavam-se gestos desengonçados de indignação, com os pensamentos detendo-se sempre no mesmo ponto: a passagem de colono à categoria de retornado fora um salto demasiado grande. Dados ao uísque, chuchando cigarros, bebiam e fumavam estupidamente, oferecendo-nos uma imagem honesta dos seus defeitos: “Sabem porque é bebo? Para morrer feliz. Bebo tudo, não importa a marca. Bebo aguardente. Não há micróbio que resista. Agora sim. Pode vir um menino de tinto”, dizia um deles para a plateia do café.
Havia quem se mantivesse fechado, num silêncio indecifrável, como o tipo que nos olhava fixamente, apesar do estrabismo no olho direito. Fumador empedernido, sempre com um cigarro entre os dentes escuros, golpeava nervosamente o chão com o pé e fumava cigarros com uma boquilha curta, de osso de javali. Inspirava-nos medo, um terror vago e estranho. Tinha um ar ausente e, no entanto, vigilante. Parecia estar dentro de uma espécie de membrana formando uma barreira que o separava do contacto humano. Doente e pálido, na casa dos 70, não sabia quantos anos lhe restavam, se cinco, se seis. Sabia apenas que já não iam ser muitos. A que horas morrerei? Para onde é que atirarão com o meu corpo? Seriam estas as perguntas que rondavam a sua cabeça? Chegara talvez ao fundo. Sentia-se rebaixado. Continuamente ofendido. Atropelado pelos outros. Primeiro, perdera os pais, depois a casa e os amigos em Luanda, agora as faculdades, a memória, os nervos, a capacidade de conversar. Os pensamentos tinham apodrecido dentro da sua cabeça, tantas as voltas que já tinha dado aos episódios da sua vida. Suponho que os azares da existência, as oportunidades perdidas, as expectativas contrariadas e as humilhações produziram-lhe uma profunda “sensação de absurdo” (como dizia Kierkegaard), que o conduziria a um final trágico: morrer de asco, fervendo de ódio pela raça humana.
Eu, nos meus 11 ou 12 anos, limitava-me a vê-los e a ouvi-los falar, sem dizer nada. Escutava e assimilava, como se estivesse sentado em frente de uma televisão, olhando as notícias através da neblina do fumo do tabaco. Observado em silêncio, aquele ambiente de decadência, ruína e letargo convertia-se num espectáculo irresistível e aguçava o meu apetite intelectual. Havia algo, ali, que me repelia profundamente, mas que, ao mesmo tempo, me atraía poderosamente. Aquelas personalidades, regadas com álcool, sarcasmo e uma enorme capacidade de mentirem a si próprias, eram atormentadas e autodestrutivas, arrogantes e sedutoras, viscerais e sofisticadas, vulcânicas e complexas. Estavam na Europa, mas com a cabeça totalmente no outro hemisfério do planeta, incapazes de cortar o cordão umbilical com as ex-colónias.
As velhas histórias, as maledicências e os rumores contados naqueles cafés (o Jamal, mas também o café do Sr. Albano ou do Sr. Eduardo) podiam ser organizados num coro grego. Infelizmente, falta-me talento para tanto. Nem esse é o objectivo desta nota, escrita sem grande estilo e ao correr do teclado. Pretende, tão-só, explicar-vos que foi o microcosmo da Tapada do Mocho que inspirou o título deste livro. É que os moradores chamavam ao bairro, talvez num excesso de lirismo, O Cemitério do Elefante Branco. Em primeiro lugar, porque os prédios eram todos brancos, tal como os moradores (ex-colonos brancos). Em segundo lugar, porque todas aquelas pessoas, depois de terem servido o Estado colonial, simbolizavam os restos mortais do império e tinham sido atiradas para ali, como para uma vala comum. Em terceiro lugar, porque havia quem descrevesse o império português como um “elefante branco” (expressão idiomática para designar algo que é valioso para o proprietário, mas de que este não se consegue ver livre, e cujo custo de manutenção é desproporcional à sua utilidade ou valor). Em quarto lugar, porque, à semelhança dos elefantes, que nunca esquecem, também eles não deixariam, jamais, que os velhos tempos em África fossem engolidos pelo esquecimento (daí falarem tanto no passado). Finalmente, e em último lugar, porque, também como os elefantes, que vão morrer à terra onde nasceram, eles tinham vindo morrer à metrópole, onde muitos deles (ou os seus antepassados) tinham nascido. Por todas estas razões, a Tapada do Mocho era uma espécie de cemitério do império colonial, um império de cabeça pequena e pernas desmesuradamente grandes, que não nos trouxera nem riquezas, nem esplendor.
Fica assim explicado o título deste livro. Portanto, e ao contrário do que muitos poderiam pensar, O Cemitério do Elefante Branco não é sobre prostituição de luxo nem sobre o famoso clube nocturno do Conde Redondo, em Lisboa.
O Cemitério do Elefante Branco - Literatura, Retornados e Ficções do Império Português, ed 70, 2024