O Petróleo de Angola - Pré-Publicação
CARL SCHMITT, KARL MARX, O PETRÓLEO E A HISTÓRIA DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
O petróleo produzido na Angola colonial depois da Segunda Guerra Mundial é um território inexplorado nos estudos sobre o império português tardio. Por isso, a resposta a este silêncio afigura-se uma tarefa desafiante e difícil. Como investigar a trajetória imperial portuguesa a partir de um objeto quase desconhecido, poroso e não sempre plenamente decifrável? Impunha-se, assim, um trabalho de reconstrução, seleção e avaliação das fontes, com o objetivo de alcançar, antes de tudo, uma maior precisão descritiva e interpretativa. Não é fácil explicar a marginalização deste objeto. O petróleo colonial angolano representou uma das maiores atividades económicas coloniais e um dos maiores catalisadores de investimento estrangeiro no império. Este silêncio é ainda mais inexplicável se considerarmos os diversos contributos sobre o papel do ouro negro na construção da Angola pós-colonial. Por que razão um dos principais objetos de inquirição da Angola independente suscitou tão pouco interesse nos estudos acerca do passado colonial deste país?
Desde o seu início, em 1955, a extração petrolífera angolana desempenhou um papel crescentemente relevante na vida económica e política imperial. Antes de enunciar os números desta atividade económica importa destacar alguns dados gerais. Em 1963, a reduzida produção petrolífera angolana, no quadro da produção mundial, era, mesmo assim, suficiente para cobrir os consumos internos da colónia, pelo menos potencialmente. Em 1972, o petróleo tornou-se no primeiro produto de exportação de Angola. Em 1973, representava 30% das exportações, seguido pelo café (27%), os diamantes (10%), e os minérios de ferro (6%). Um ano mais tarde, o peso do petróleo nas exportações da colónia subiu até 51%, num quadro marcado pelo início da contração das outras exportações, já no contexto do processo de independência. Ainda mais relevante é o aumento da produção, que entre 1960 e 1972 subiu 10.457%. Estes dados descrevem o denso panorama de uma economia extrativista, no qual as matérias-primas deixavam o continente africano para alimentar a produção e o sistema industrial de outras regiões do planeta, assim como os mercados mundiais do luxo (como no caso do comércio dos diamantes). Neste âmbito, procurou-se responder a uma interrogação principal: que papel desempenhou a indústria petrolífera angolana na trajetória imperial portuguesa no pós-guerra? Como interpretar a relação entre energia e império, no quadro do desenvolvimento e do crescimento do mercado global?
Duas perspetivas convergem na definição do campo de problemas que envolvem este objeto. De um lado, encontramos a hiper-mobilidade do capital, cujos fluxos cortam transversalmente as fronteiras geopolíticas imperiais. Deste ângulo, o petróleo apresenta-se como mercadoria que dispõe de uma dinâmica, um sistema de governo e infraestruturas ajustadas à lógica de funcionamento do seu mercado global. Do outro, deve-se considerar a tentativa da autoridade política imperial de controlar um recurso essencial para a sua autonomia energética. Um recurso essencial, aliás, para a afirmação geopolítica de um império colonial. Deste ponto de vista compósito, o petróleo será então considerado como um recurso inscrito no quadro geral da economia política extrativista do império português e no seu projeto de modernização. É a análise da convergência entre estas duas perspetivas que revela a existência de um paradigma de gestão política e económica imperial centrado no extrativismo, enquanto tradutor à escala local de processos globais. Trata-se de uma tradução não linear, mas sim, marcada por tensões e transformações internas profundas.
Este paradigma começou a definir-se a partir do final do século XIX, representando tanto uma via para a afirmação das fronteiras geopolíticas imperiais, como um dispositivo de inscrição dos interesses internacionais extrativos na colónia. Mas foi no período do pós-guerra que a exploração do petróleo em Angola determinou uma transformação substancial dos pressupostos deste paradigma, num quadro definido por transformações tanto globais, como à escala imperial.
A partir do estudo do petróleo angolano, a proposta principal deste livro considera as dinâmicas que caraterizaram o império português como o produto da reunião de diferentes poderes. Trata-se de um equilíbrio dinâmico, precário e instável e, sobretudo, marcado pelo relacionamento entre diferentes atores que internamente não são homogéneos. A adesão ideológica de certos grupos da burocracia imperial à defesa da soberania contrasta, por exemplo, com o pragmatismo e o interesse pessoal de figuras de prestígio da administração imperial. Da mesma forma, ao cosmopolitismo do capital, opôs-se o protecionismo revindicado por outros grupos económicos nacionais, que contingentemente assumiram um patriotismo oportunista, mas nem por isso privado de consequências. Por último, esta heterogeneidade manifesta-se em diferentes ambições e visões imperiais, que marcaram e caraterizaram tanto a relação entre colónia e metrópole, como a relação entre diferentes grupos sociais no terreno colonial.
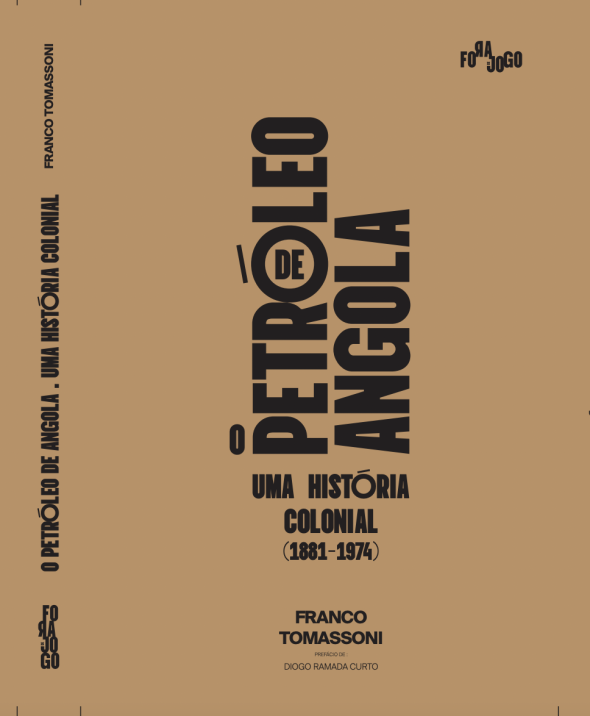
A chave interpretativa sugerida por este livro é, portanto, a identificação do surgimento de variedades de soberania do poder, disputadas entre as forças do poder politico imperial e as forças do mercado global. Vale a pena nesta introdução descrever sinteticamente as raízes desta última proposta. Estas assentam, em primeiro lugar, na distinção desenvolvida por Carl Schmitt entre imperium e dominium, e que será discutida mais detalhadamente ao longo do primeiro capítulo. Em síntese, o imperium representa um mundo organizado à volta do poder político dos estados e das fronteiras nacionais. Diferentemente, o dominium descreve o mundo dos fluxos de capitais e da livre propriedade individual, desterritorializado, que se coloca em oposição, e como fator limitador, do poder estatal soberano num determinado território.
Esta distinção demonstra-se particularmente eficaz para identificar as tensões entre o projeto imperial definido nos gabinetes lisboetas e o processo concreto no terreno, que é o resultado não apenas de uma vontade estatal, mas como já foi referido, do encontro entre esta e a constante procura de valorização do capital à escala internacional. Da mesma forma, as categorias imperium e dominium revelam-se eficazes para entender como processos macro se expressam nas divisões internas existentes entre elites políticas e económicas do império. Finalmente, estas mesmas manifestam-se de forma evidente quando observamos o papel desempenhado pelo petróleo no contexto da guerra colonial.
No entanto, quando nos descentramos do poder metropolitano de Lisboa enquanto âmbito principal da hiper-racionalização e aplicação de reformas e de práticas de violência – da afirmação do poder das instituições imperiais -, exploramos outras possibilidades. Aqui, importava iniciar uma interrogação acerca de como o vasto repertório de interesses empresariais constituiu um desafio ao poder da autoridade política estatal, apesar da presença de uma ordem internacional baseada em Estados-nação soberanos. Assim, a distinção entre imperium e dominium, permite um desvio em relação à teorização schmittiana original, se convocarmos a noção marxiana de mercado mundial, inerente à dinâmica do modo de produção capitalista.
Escreveu Marx que a lógica do capital, isto é, “dinheiro que produz a si próprio”, “tem como condição que o circuito da circulação se expanda, e mais concretamente, que se expanda continuamente”. Por isto, “uma condição da produção fundada no capital é a produção de um circuito da circulação constantemente extenso …”; neste sentido, “a tendência a criar o mercado mundial, é dada imediatamente pelo mesmo conceito de capital”. Operativamente, a lógica desta expansão faz com que, na perspetiva do capital “cada limite, se apresente como uma barreira a superar”. Por outras palavras, “o capital, enquanto representa a forma universal da riqueza, – o dinheiro – constitui o impulso ilimitado e desmedido à superação do seu limite”.
A partir destas considerações, é possível traçar as tensões e combinações produtoras das mudanças das fronteiras políticas e do capital. Marx reconhece a dimensão espacial e territorial do capital, que excede as fronteiras políticas. Em boa medida, um dos limites à formação do mercado mundial são exatamente os confins políticos das autoridades territoriais. A lógica da expansão contínua do capital, através da construção de um espaço abstrato e global para o seu livre movimento, colide com as divisões das jurisdições soberanas. Como argumentaremos ao longo do livro, o processo de inscrição do poder político metropolitano de Lisboa no território colonial angolano traduz esta tensão, observável a partir das distintas e não coincidentes temporalidades entre a expansão da malha administrativa e burocrática imperial na colónia, da dominação militar e da penetração dos investimentos extrativistas na colonia.
Resumo livro
O petróleo da Angola colonial representou uma das mais importantes atividades económicas imperiais e um dos maiores focos do investimento estrangeiro nos territórios portugueses. Apesar disto, tem sido um tema marginalizado pelos estudos sobre o colonialismo português tardio. A resposta a este silêncio é uma tarefa desafiante e difícil. Como investigar a trajetória imperial portuguesa a partir de um objeto quase desconhecido, poroso e não sempre plenamente decifrável? Este livro reconstrói as dinâmicas que envolveram a exploração do petróleo angolano, desde a primeira conceção de um programa extrativista para as colónias portuguesas em finais do século XIX, até ao embargo petrolífero de 1974. O seu programa de investigação examina as lutas internas à burocracia imperial, a limitação do poder português pela ação de investimentos privados internacionais e a relação destes com as grandes empresas privadas durante o Estado Novo. Descreve, ainda, de que forma a resistência à presença de multinacionais petrolíferas norte-americanas em Angola envolveu os movimentos de libertação das colónias portuguesas, o movimento negro nos EUA, o Partido Comunista Italiano e a Democracia Cristã italiana. Finalmente, analisa a atividade da diplomacia portuguesa e dos seus representantes em Nova Iorque, Washington e Roma na defesa destes investimentos internacionais, evidenciando, assim, a aliança de facto entre os interesses petrolíferos multinacionais e a manutenção do império colonial.
Comprar nas Edições Fora de Jogo.