As Telefones: resquícios do império na experiência dos sujeitos da diáspora
Para os sujeitos da diáspora contemporânea, as relações foram se consolidando à distância, mediadas por tecnologias que operaram em estruturas relacionais profundas, alterando mormente a forma de vínculo interpessoal. O novo livro da escritora Djaimilia Pereira de Almeida, As Telefones (Relógio de Água 2020), suscita reflexões acerca das memórias do Império não sucumbirem juntamente com o desejo de superação deste regime. Relaciona-se também com as subjetividades rasuradas pelos distanciamentos.
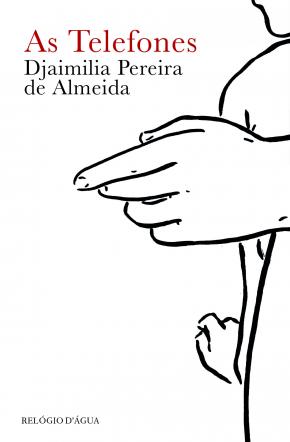 A narrativa recém-publicada tem uma força de reivindicação. Não descansará pacientemente enquanto a crítica titubeia, hesita ou pondera tratá-la ou não como literatura portuguesa ou africana etc. Não assistirá da torre de marfim dos parnasianos à possibilidade de alcançar o sol das premiações literárias. O texto posiciona-se marcando o lugar que pretende estar na cronologia literária. As Telefones é o fio condutor de um projeto literário que se pretende para lá das memórias do império, mas sem deixar de assinalar suas sequelas hodiernas.
A narrativa recém-publicada tem uma força de reivindicação. Não descansará pacientemente enquanto a crítica titubeia, hesita ou pondera tratá-la ou não como literatura portuguesa ou africana etc. Não assistirá da torre de marfim dos parnasianos à possibilidade de alcançar o sol das premiações literárias. O texto posiciona-se marcando o lugar que pretende estar na cronologia literária. As Telefones é o fio condutor de um projeto literário que se pretende para lá das memórias do império, mas sem deixar de assinalar suas sequelas hodiernas.
Lendo As Telefones, ocorreu-me pensar que a autora ajuda-nos a situar o seu texto literário num conjunto de produções nomeadas por “literatura da diáspora” e que nos permite perceber com algum conforto, autores e autoras que insurgem no caos das suas trajetórias de migração, exílio entre esta (des)[a]ventura incerta que os processos de deslocamentos – vide Zilá Bernd (2007) – os impõem.
É sabido que o meio académico demanda categorizações que eventualmente congelam determinados autores em rótulos, atribuindo-lhes etiquetas difíceis de desvencilhar. Em tempos em que o debate das identidades torna-se critério eletivo para autores e obras que nos tocam, porque nos representam, produzindo uma literatura que se pretende mais inclusiva, portanto, que converse mais intimamente com todas as questões sem esquecer as nossas mais particulares tensões, o livro As Telefones desloca-se convenientemente para este lugar da literatura da diáspora.
Ao fazê-lo, Djaimilia Pereira de Almeida parece dar à sua obra a possibilidade de engendrar-se e de descolar-se da condição de não-ser, tal qual constitui a realidade de muitos que aqui nasceram ou que por cá vivem e encontram-se no dilema mencionado acima, da não pertença. É do entre-lugar que essa narrativa vai falar, desse desconforto que implicará numa forma peculiar de existência na qual os afetos, assim como as relações, serão construídas à distância.
Uma existência em que as memórias são solapadas pelo desejo de sentir-se parte, integrar-se, para quando a percepção dessa impossibilidade seja alcançada, definir uma nova forma de estar no lugar de acolhimento. A literatura da diáspora parece acolher quando o seletivo rótulo de literatura portuguesa não admite, assim como, o tratamento de literatura africana implica um lapso reducionista, dada a condição diaspórica da própria autora. E, na medida em que os temas propostos por esta, ao longo da sua trajetória literária, toca-nos a todos, e de modo particular àqueles que passam a compor a sociedade portuguesa após experienciarem deslocamentos, quer seja na condição de imigrante, exilado, refugiado, retornado ou quaisquer outros estatutos figurados.
A meu ver, a literatura portuguesa priva-se, mais uma vez, da oportunidade de refletir no bojo da sua produção a diversidade que compõe a sua população contemporaneamente. Nesse sentido, perdemos todos, ao assumirmos o discurso da diversidade apenas na teoria e na prática, aceitarmos como sinónimo de lusitano apenas uma representação caducada do povo português. Os esforços que os jovens autores que despontam neste cenário têm implementado, vão no sentido de provocar em nós estas reflexões.
Sem esforço de inclusão, a Literatura da Diáspora ajusta-se oportunamente à produção literária da escritora Djaimilia Pereira de Almeida. Em As Telefones, especialmente, também por se propor a abordar o “género literário da diáspora, o telefonema”, marcando, destarte, dois tópicos que remetem ao universo daqueles cujas vidas tudo conhecem, menos a fixidez de um único lugar.
O primeiro tópico aborda as relações que passam a desenvolver-se mediadas pelo aparelho telefónico, pelo qual se exercita a experiência africana do Djidiu: herança de ouvido (conforme aprendi numa antologia homónima e também diaspórica publicada em Lisboa), afinal, “manterem-se em linha não assinalava amor nem zelo, mas um hábito de ouvido”; o segundo tópico, a oralidade, através da qual se acede ao mundo, transmite-se experiências, ensinamentos, cuidados e põe-se em prática:
“o desenvolver de uma língua nova, comum a tantos e tantos lugares, paralela à língua falada, mas dela dissemelhante. A língua telefónica, aquela em que casais se apaixonaram e se soube da morte de soldados nas trincheiras(…) a língua em que a distância é vencida pelo teatro da voz, em que todos, biliões, somos atores experientes.” (Almeida, 2020, p.25)
A narrativa que gira em torno da relação entre mãe e filha, que se consolida à distância, “[n]um hábito de ouvido”, na qual a primeira se encontra em Angola, de onde, através do telefone, tenta acompanhar o desenvolvimento da filha, em Portugal, e maltrata-se do outro lado do oceano e da linha a pensar – “ainda na minha filha noutra cama. Quem dava banho, quem te vestia, quis matar a minha irmã muitas vezes só de pensar que ela conhecia teu cheiro melhor do que eu” (p,29) – na vilania daqueles que, pelo privilégio da proximidade, sub-rogavam os cuidados maternais infactíveis.
Assim, à distância, dentre um ensinamento e outro, “o telefone, através do qual falamos é o nosso elo tangível à história da espécie humana: uma educação simultânea do corpo uma da outra”. Corpos irreconhecíveis, à medida que o tempo passa, para ambas. Corpos que procuravam ressignificar no distanciamento uma nova forma de filiação, nas vagarosas lembranças das férias juntas, nas memórias fragmentadas dos monólogos maternais ao silêncio constrangedor que as duas foram capazes de sobreviver em linha.
Uma vida preenchida de expectativas, sonhos sonhados juntos e nunca realizados, promessas e fragmentos cuja unidade jamais alcançada dada a impossibilidade de voltar no tempo e (com)viver. “Onde escondeste a melodiosa Filomena, não sei: a tua voz é diferente” (p.81). Aprender a amar uma voz e dali depreender todos os sentimentos, desconfiar à mínima alteração, reconhecer pelo timbre um dia bom e um dia não tão bom, entretanto, foram estratégias consideradas por ambas para sustentar a relação sem figurarem completas desconhecidas ao passar dos anos.
Todavia, era inevitável tal estranhamento diante da incapacidade de compreender a forma sui generis que a identidade da filha ia sendo forjada corolário desse contexto diaspórico a que estava submetida. Das observações à distância que a mãe ponderava sobre a filha, destaco: “Pois, nós fomos à Évora quando tu eras pequena, bem pequenina, mas toda portuguesa, essa miúda” (p.84). Adiante orienta: “(…) este é outro prato que estou a te ensinar. Agora é aprender, menina. Ser mulher africana dá muito trabalho” (p.85-86).
Se a categoria “Literatura Portuguesa” se apresenta resistente, julgo oportuno enquadrar esta obra como “Literatura Portuguesa da Diáspora” posto que, ao admiti-la, avançamos uma casa no sentido de reconhecermos símbolos nacionais que reflitam com fidelidade quem consome e, principalmente, quem produz, contemporaneamente, literatura em território português. Dentre diversas outras questões despertadas por esse texto da Djaimilia, afeta-me imenso essa posição política clarividente que amplia o debate sobre o que quer a sua literatura para como podemos pertencer no espaço da diáspora contemporânea?