Luanda, Lisboa, Paraíso: a cartografia da violência dos sujeitos da diáspora
O historiador Eric Hobsbawm (1995) definiu o século XX como o século da morte dado às guerras e regimes políticos cujas formas de poder e modos de soberania caracterizam-se por produzir a morte em larga escala (MBEMBE, 2017, p. 59). As políticas implementadas no século passado, assumiram a morte como trunfo desses processos. Em concordância com o historiador sobre a dificuldade que temos de julgar, estudar e compreender o nosso tempo, atrevo-me a recuperar períodos ainda anteriores e fazer um recorte de raça. Mesmo porque, segundo Walter Mignolo (2008, p. 294-295)
Ele [Hobsbawn] enfatizou o Holocausto Judeu, mas “se esqueceu” dos africanos escravizados antes do Iluminismo da mesma forma que das mortes das vidas dos não-ocidentais, como dos 25 milhões de Escravos que morreram na fronteira leste da Europa, como mencionei antes, de São Petersburgo à Belarussia e Ucrânia.
Isso porque para pensar o nosso século, afim de compreender o carma/condição (AJARI2, 2019) da violência herdada pelo afrodescendente, faz-se necessário perceber que muitos autores, como Hannah Arendt e Michel Foucault, partiram de uma concepção de violência obnubilada pelos genocídios do século XX (AJARI, 2019, p. 67). Essa violência percebida em larga escala inviabiliza uma percepção particular do modus operandi da violência cotidiana impetrada sobre alguns sujeitos. Tal experiência, construída a partir da indistinção entre vida e morte (AJARI, 2019, p. 67) para alguns corpos, nomeadamente os afrodescendentes, ofusca as sujeições cotidianas à violência que produzem nesses sujeitos uma condição de indignidade, definida por Norman Ajari (2019) como a condition noire (doravante “condição negra”).
Esse conceito, que pretendemos melhor ilustrar a partir da narrativa Luanda, Lisboa e Paraíso (ALMEIDA, 2019), ao longo do trabalho, marca a forma de existência de grupos subalternizados na Europa contemporânea, como os imigrantes de países africanos e seus descendentes. No entanto, é preciso pensar que tal disposição é construída ao longo dos tempos a partir de uma superexposição à violência que produz a condição cotidiana de indignidade, e possui relação direta com a subversão do valor dado à morte da população negra, pelo ocidente, desde a escravização.
Para africanos e seus descendentes, não só o século XX, mas alguns séculos anteriores foram também séculos da morte, posto que desde os sequestros desses povos para as antigas colônias, passando pelas travessias até a experiência da escravização, o terror foi implantado, o confinamento e as manifestações de controle foram exercidas e somam-se a esta conta as centenas de vidas que foram perdidas em cada etapa, gerando milhares de mortes. As sequelas para os que ficaram vão desde a baixa perspectiva de vida dos que conseguiam chegar ao destino final, ante os castigos e às condições de sobrevivência nas senzalas e campos de colheita, até ao que conhecemos hoje como as prisões contemporâneas. Essas, por sua vez, representam de forma metonímica “os modos de dominação irresponsáveis” (MBEMBE, 2017, p. 59), cuja lógica de domínio sobre o direito de vida e de morte continua sendo exercida sobre os mesmos tipos de corpos.
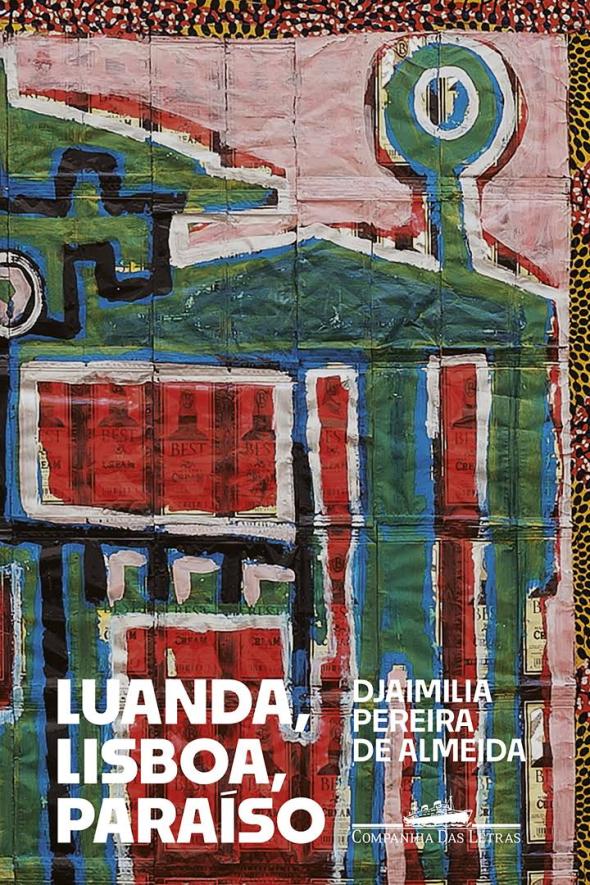
De modo que falar em século da morte para alguns sujeitos é falar de uma longa trajetória de violências – que se impõem sobre os corpos afrodescendentes – que se perpetuam em forma de traumas transgeracionais, mas não só, também por meio de uma colonialidade de poder (QUIJANO, 2005) que se mantém. Talvez seja preciso, diria o filósofo camaronês Achile Mbembe (2018) no ensaio Necropolítica, para entendermos nosso século, subvertermos as categorias – herdadas da modernidade filosófica –, razão e verdade do sujeito por “categorias menos abstratas e mais palpáveis, tais como a vida e a morte” (MBEMBE, 2018, p. 11).
Eventualmente, tratar das sequelas deixadas por séculos de políticas de morte que acometem os africanos e os afrodescendentes em diáspora é recobrar as vidas interrompidas por um sintoma colonial estruturado socialmente para manutenção da diferença que se manifesta nas relações de poder: vide o racismo quotidiano e todos os episódios tornados públicos e/ou relatados no livro Memórias de Plantação, de Grada Kilomba (2019).
É provável que um ou outro dos vitimados não tivesse consciência de que suas formas de estarem na Europa moderna, enquanto sujeitos negros, impõe-lhes um modo peculiar de existência que se assemelha à condição dos afrodescendentes que vivem nos EUA, na França, na Inglaterra, no Brasil, etc. e “é definida pela indignidade” (AJARI, 2019, p. 10), são igualmente atravessados por uma condição moderna que os aproxima, posto que se tratam de corpos negros. E, portanto, elegíveis para uma “superexposição estrutural à violência social e política, e por uma constante invenção constrangedora de estratégias de sobrevivência” (ibidem).
Reinventar estratégias de sobrevivência tem sido condição sine qua non para a existência do afrodescendente nos contextos em que a colonização deixa de existir nos moldes antigos e se perpetua por outros meios numa lógica de “continuum colonial” (AJARI, 2019, p. 14) que se percebe bem no tratamento dispensado a esses sujeitos, mesmo na década internacional reservada pela ONU para declarar que os afrodescendentes “representam um grupo distinto cujos direitos humanos devem ser promovidos e protegidos” (ONU, 2019). Conforme poderíamos exemplificar com qualquer um dos casos relembrados no início, mas não apenas.
O “continuum colonial” sinalizado por Ajari (2019) é também responsável por equiparar as condições de existência do afrodescendente nascido em solo europeu às do afrodescendente que se submeteu aos trânsitos forçados no passado colonial e, por sua vez, às do afrodescendente que se submete ao êxodo no presente. Mesmo porque, segundo Roland Walter (2001), após os séculos de exploração que pela forma legaram-lhes experiências comuns, como exemplo, a “dominação e resistência, escravidão e emancipação, a busca de liberdade e a luta contra o racismo” (QUEIROZ et al., 2011, p. 10).
A “condição negra” enquanto continuum colonial
A “condição negra” à qual se refere Ajari (2019) é perversa por vários aspectos, dentre esses, porque consegue promover o engessamento de todos os afrodescendentes num mesmo grupo, deslegitimando suas idiossincrasias, tais quais reclama a década Internacional do Afrodescendente da ONU. Ademais, projeta-os num campo da subalternidade e impõe sobre esses sujeitos um tratamento como estrangeiros, a despeito de muitos desses terem nascido em Portugal ou terem a cidadania ou nacionalidade portuguesa. Isso para dizer que esse reconhecimento da “estrangeiridade” ou estranhamento do sujeito afrodescendente expõe sua “experiência exílica” marcada pela junção do sentimento de indignidade, imprevisibilidade e incerteza que inviabilizam a construção do sentimento de pertença.
Essa “condição negra” nasce de alguns contraditórios, consagrados a partir de uma história hegemônica e unilateral de formação da população e do território europeus. Inocência Mata (2006, p. 286) adverte acerca das tensões e conflitos gerados nos contextos multiculturais em Portugal, em razão de esses derivarem de um entendimento equivocado de que “a diversidade das sociedades europeias tem origem em recentes fluxos extra-migratórios”. Esse entendimento põe em esquecimento, inclusivamente, o fato de que muitos sujeitos foram forçados a tornarem-se estrangeiros no “destino atlântico”; assim como promove um silenciamento sobre o fato de que ao falarmos hoje de descendentes de outros povos, como o africano em países do continente europeu, estamos a falar também dos afroeuropeus.
Em uma Europa que alargou a sua geografia (RIBEIRO, 2019a) a partir de expansões, que, quando convém, dissolve as fronteiras inventando uma supracidadania (SILVA, 2004) e propondo a derrubada de muros e ampliação de pontes entre os seus, não nos parece que a paisagem humana neste espaço se constituirá doutro modo que não a partir da heterogeneidade. Nesse contexto, vislumbramos distintas formas de violências impingidas sobre afrodescendentes da diáspora contemporânea que após processo de deslocamento, figuram sob rótulos de imigrantes, estrangeiros, “estranhos de passagem” (MATA, 2006) mesmo quando por aqui são impelidos a ficar.
No caso de Portugal, por exemplo, território em que concentraremos estas reflexões, não é possível registrar um retrato fiel do seu povo sem vincular às estratégias expansionistas do passado aos fenômenos de deslocamentos atuais considerando, sobretudo, aqueles que “tendo sido colonizados, acabaram por se tornarem, hoje, estranhos, porém em permanência – pois aqui, nesta Europa cada vez mais bunkerizada e fechada sobre si mesma, têm vindo construir a sua casa, a plantar sua árvore e a ter os seus filhos” (MATA, 2006, p. 288-289).
A antonomásia “estranhos em permanência” produzida por Inocência Mata (2006) em seu texto reflete a dupla violência imputada ao afrodescendente imigrante, uma vez que não tendo escolha, para muitos sujeitos em deslocamento, o regresso torna-se um horizonte impossível. O duplo fardo consiste em receber o tratamento como estrangeiro, mesmo quando o retorno ao lugar de origem não se constitui como uma opção. Para os afroeuropeus não está reservado um tratamento diferente desse “outro” imigrante. Haja vistas para diversas matérias realizadas com jovens estudantes em Portugal que denunciam o tratamento que recebem dos colegas e professores em instituições de ensino, vide os trabalhos da pesquisadora Cristina Roldão que abordam o tema pelas vias do racismo institucional.
Cartografia da violência: a impossibilidade de pertencer
A narrativa Luanda, Lisboa, Paraíso mapeia a violência configurada nas ausências e abandono de vários agentes que organizam e condicionam os sujeitos do deslocamento a uma existência degradante na sociedade de acolhimento, no lugar de origem e no local de destino. Como exemplo, temos o Estado (personificado na figura do Dr. Barbosa da Cunha) e a sua papelada burocrática, do não reconhecimento de qualquer status que permita uma assistência inadiável ao tratamento criminal para o sujeito do exílio; as instituições que assistem precariamente seus utentes; a iniciativa privada que os fazem reféns do seu exílio por baixos soldos e condições de trabalho precárias, sem a menor possibilidade de reconhecimento independente do mérito.
O sonho português para Cartola, protagonista da narrativa, transformou-se no devaneio de que a qualquer momento “lhe bateriam à porta e lhe diriam que estava tudo tratado, que era um português, direito que julgava pertencer-lhe” (ALMEIDA, 2019, p. 88), contudo, “a fantasia que Cartola tinha sobre Portugal era isso mesmo, uma fantasia, e o reconhecimento da sua pertença seria sempre, como no tempo colonial, uma trágica farsa adiada” (RIBEIRO, 2019, p. 297).
A condição moral e política de indignidade a que são submetidos os afrodescendentes que vivem na Europa hodierna retira desses sujeitos a sua capacidade de ajustar-se à normalidade, visto que uma vida de sujeição às violências pode ser limitante do sentimento de pertença e vai requerer uma agenda de luta para conquistá-la. Analisar a experiência de Cartola e Aquiles pelo viés da “exiliência” contribui para projetarmos, a partir das diversas formas de violência a que estão submetidos, à condição de sofrimento e apelar para uma reação solidária tal qual defende Nouss (2016, p. 74). Mas antes de tudo, afirmar que a condição negra não é uma herança ancestral, mas uma construção colonial de uma indignidade contra a qual o afrodescendente contraria desde sempre transformando-a num “motor invisível da sua luta, do pensamento e da escrita” (AJARI, 2019, p. 72).
De acordo com Ajari (2019), a experiência do afrodescendente na Europa moderna vinculada quer seja ao tratamento discriminatório cotidiano, quer seja à exposição direta à violência que culmina em morte, impõe-lhes a exposição fastidiosa a esse tipo de opressão que obriga a uma “constante invenção constrangedora de estratégias de sobrevivência9” (AJARI, 2019, p. 10). A fim de ilustrar essa hipótese defendida pelo pesquisador, introduzo a narrativa Luanda, Lisboa, Paraíso (ALMEIDA, 2018) de autoria da escritora portuguesa de origem angolana Djaimilia Pereira de Almeida. Um livro que narra a saga de Aquiles e Cartola de Sousa de Luanda até a nova vida em Lisboa. O que motiva a viagem de pai e filho é a promessa de cura profetizada por médicos, na ocasião do nascimento de Aquiles, que teria a condição defeituosa do seu calcanhar esquerdo revertida caso fosse submetido a uma cirurgia até seus 15 anos.
A Independência de Angola chegou para Cartola, um homem assimilado, num paradoxo concomitante com a debilidade da esposa, que convalescia numa crescente paralisia, e com o nascimento de Aquiles e seu calcanhar malformado. Em meados da década de 1980, pai e filho migram para Lisboa deixando para trás a mulher enferma sob os cuidados da primogênita.
Sem nenhuma convicção de que os deslocamentos “implicariam em fragmentação familiar e/ ou desterritorialização, nem sempre escolhida ou desejada, e uma vivência íntima em casa que lhes foi desenhado um outro mundo, culturalmente diferente daquele que encontrava na escola, na rua, no quotidiano” (RIBEIRO, 2019, p. 293), a Lisboa que Cartola desejava chegar, era a cidade dos seus sonhos adolescentes.
Mapeada mentalmente pelos postais que colecionava e pelas histórias dos médicos portugueses com quem trabalhava como chefe de banco no Hospital Provincial de Moçâmedes, até mudar-se para Luanda onde passa a viver com a família, e seguir como “parteiro adiantado na carreira” (ALMEIDA, p. 13) no Hospital Maria Pia. Contudo, nos meses que antecedem a viagem, Cartola precisou abandonar o trabalho no hospital para dedicar-se à mulher enferma, com isso, a situação financeira da família já começaria a ruir.
A experiência, ainda que no campo da ficção, desses dois angolanos que emigraram serve-nos para destacar o aspecto subjetivo do processo de deslocamento, uma vez que colocam na encruzilhada a “interioridade individual” e a “dimensão coletiva da experiência migratória” (COUTINHO apud: NOUSS, 2016, p. 9) que é o caminho proposto por Alexis Nouss (2016) para conseguimos ultrapassar as “epistemologias sedentárias”. Segundo o autor, neste cruzamento tornar-se-ia possível concretizar um significativo avanço ao enfatizar a trajetória – no que se tem produzido massivamente acerca dos temas migração e exílio – ou a experiência coletiva, pondo de lado o aspecto da chegada, visto que não destacaria a percepção real acerca da incapacidade dos indivíduos que migram de se integrarem e se sentirem parte das comunidades de acolhimento.
Cartola esperava ser recebido em Lisboa, como uma mãe recebe o filho vindo da guerra, entretanto, “Ninguém os esperava no aeroporto, mas era Portugal” (ALMEIDA, 2018, p. 33). Contavam com dois conhecidos, um deles, Dr. Barbosa da Cunha, um médico de Coimbra com quem trabalhara e que intercedeu para que conseguissem um quarto na pensão Covilhã, nas proximidades do hospital ortopédico. Das violências simbólicas a que esses sujeitos serão submetidos ao longo da narrativa, pontuo, a princípio, a razão que motiva esta migração, uma vez que está diretamente ligada à situação política angolana. É preciso destacar que os países que sofreram com a colonização, tornaram-se incapazes de produzir respostas sociais na fase pós-colonial. De modo que as migrações, mesmo quando suscitam algum voluntarismo, passam a ocorrer em busca da sobrevivência e melhoria de vida de muitas famílias, configurando-se, em muitos casos, como verdadeiras fugas.
A condição exílica dos sujeitos dos deslocamentos
O conceito de “condição exílica” defendido por Alexis Nouss (2016) nasce da percepção sobre o desamparo causado na busca pela sobrevivência, que por sua vez motiva o processo migratório no qual a maioria desses sujeitos, desejosos de melhorar suas vidas, partem sem sequer imaginar que em muitos casos não chegarão, ou não retornarão. A condição exílica pode ser um mote observado também noutras narrativas de autores afrodescendentes de origem angolana que se inscrevem na Literatura portuguesa contemporaneamente, haja vistas para a família de imigrantes indocumentados tentando retornar a casa num país de língua desconhecida, protagonistas em Depois de morrer aconteceram-me muitas coisas, de Ricardo Adolfo (2009); ou no retorno a Angola em busca de resgatar a própria história conforme arrisca Vitória Wayula em Essa dama bate bué de Yara Monteiro (2018); ou na forma de perceber-se angolano na Europa representadas nas crônicas de Kalaf Epalanga (2015) em O angolano que comprou Lisboa; até mesmo na inadequação sentida pelo Budjurra em sua experiência portuguesa numa trajetória marginal marcada por sua incapacidade de sentir-se pertencer em Um preto muito português de Telma Tvon (2018).
Em se tratando de sujeitos dos deslocamentos, é preciso considerar, primeiro, que o propósito de chegar a algum lugar nem sempre é cumprido e, quando o é, a condição de indignidade à qual se sujeita na sociedade de acolhimento é impeditiva para o gozo de uma cidadania plena porque a “violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento” (BOURDIEU, 2003, p. 7-8).
Em Lisboa, quando não estava dedicando-se aos cuidados de Aquiles, Cartola prestava favores na pensão Covilhã, fazendo curativos, gesso e outros cuidados aos demais doentes hospedados em troca de alguns trocados/produtos para subsistirem na capital idílica. Nenhuma outra pertença ou reconhecimento garantiria aos dois o mínimo necessário para sobreviverem naquele lugar. Com os demais doentes hospedados na fétida pensão, formavam uma “comunidade exílica” (NOUSS, 2016, p. 26), dada a incapacidade de organizarem-se em sociedade visto que a única identidade comum que poderia ser invocada a tais sujeitos era a de enfermos, portanto uma “comunidade a vir” (AGAMBEN, 1993).
Enquanto “identidades herdeiras de processos, coloniais que procuram as suas continuidades na Europa de hoje” (RIBEIRO, 2019b, p. 292) esses sujeitos precisam “expropriaram-se de toda identidade, para se apropriarem da própria pertença” (AGAMBEN, 1993, p. 17). Na política das identidades, esse jogo de tentar pertencer expõe a sutileza da violência a que são submetidos os corpos migrantes, na qual, por vezes a falsa pertença de “cidadão do mundo” não lhes garante direitos de cidadania e nem direito à cidadania de lado nenhum. Ademais, esse discurso esconde-se por trás da “ideologia de equivalência territorial” que propala que “todos os lugares são equivalentes entre si” uma ideação que a “pulsão exílica” consegue contrariar, conforme Alexis Nouss (2016, p. 57) e provar que nem todos os lugares são equivalentes, “que o mal habita alguns deles, ao ponto de ser preciso combatê-lo ou evitá-lo, pelo que nesse caso, a fuga representa uma forma de luta” (NOUSS, ibidem), uma estratégia para resistir.
“Transformados em doente e visita” (ALMEIDA, 2018, p. 52) na Lisboa que os recebeu com sua amplitude e frivolidade, Cartola e Aquiles seguiam cada vez mais distantes e com propósitos distintos. O filho desejava uma carreira na silvicultura ou na extração de petróleo e sonhava em não precisar mais do seu pai. Envergonhava-se da forma bestial com que seu pai se rendia após a chegada, como se “A nobreza que o porte dele lhe inspirava em Luanda dera lugar à confusão de Cartola, que lhe fazia abrir muito os olhos como se tivesse medo de ir contra as coisas” (ALMEIDA, 2018, p. 38). Aquiles sentia que talvez ele, um miúdo coxo, tivesse que cuidar do pai, não o contrário. Andando pelas ruas de Lisboa, o pai acreditava que de mãos dadas com o filho pareceriam ainda mais vulneráveis.
O pai pareceu-lhe jovem. Aquela era a sua segunda juventude. Continuava com a ilusão que podia começar do princípio. A chuva dera-lhe uma esperança pasmada, infantil. Não podia impedi-lo de se atirar nos braços de Lisboa e se magoar. Mas ninguém tinha ensinado a Aquiles como se lidava com um adulto que recomeça, o que fazer diante dele. Ao olhar para a cara do pai, os olhos de Cartola atingiram o filho com uma ingenuidade que o assustou. Parecia ter regredido décadas e ser agora mais novo do que ele. (ALMEIDA, 2018, p. 39)
A primeira cirurgia foi tão mal sucedida quanto as que se seguiram, então, após a segunda, o pai matriculou o filho na escola de datilografia, para o qual sonhou uma carreira no secretariado. Ao mesmo tempo que conseguiu um trabalho como servente de pedreiro num estaleiro, onde se construía um viaduto. Era comum parar, durante o serviço, para dar vazão às vagas lembranças. Divagava ao olhar para aquelas mãos que manejavam fórceps e recepcionavam novas vidas, agora assentando fundações, partindo tijolos, levantando paredes, carregando baldes de água e sacos de cimento. Ao varrer, não custava a Cartola imaginar que a vassoura era Glória nos tempos de bailes e outros festejos.
Talvez a memória que se dissipava de Luanda fosse a saída para que o parteiro não se tornasse, assim como os demais trabalhadores “a obra que erguiam e que os engolia, embrutecendo os seus corpos, dissipando a esperança” (ALMEIDA, 2018, p. 60). Por outro lado, enquanto divagava, falava sozinho e assumia cuidadosamente a tarefa que lhe foi dada, era insultado por outros homens, trabalhadores mais jovens que o hostilizavam sugerindo demência ou incapacidade de cumprir com a obrigação numa velocidade que lhes parecesse razoável. Na cena em que trabalhadores são descritos à saída do estaleiro, numa vida resumida em trabalhar e voltar a casa para se prepararem para um novo dia de trabalho, a falta de altivez descrita faz alusão a diversas outras narrativas nas quais os trabalhadores perdem o protagonismo para as más condições a que são submetidos em seus ambientes laborais, como uma cena qualquer de Germinal, de Zola ou como na tela Operários, da pintora modernista brasileira, Tarsila do Amaral.
A pintura apresenta rostos à frente de chaminés industriais que retratam a violência do processo de industrialização brasileiro caracterizado pela migração de trabalhadores vulneráveis e expostos pela inexistência de qualquer legislação que os amparasse. “Cada homem é um ser em singular, mas a sua expressão abatida dissipa aquilo que os torna únicos” (ALMEIDA, 2018, p. 130), portanto, indistinguíveis uns dos outros. De modo que só é possível resgatar os aspectos que os distinguem e os tornam sujeitos no seu retorno para casa, até lá, “os homens estão desligados de uma história, antes de voltar a entrar em contato com ela” (…) “o seu corpo demora a caber de novo na moldura da vida que os aguarda, apagada pelo trabalho” (ALMEIDA, 2018, p. 130).
Os contatos com a família em Luanda que em princípio davam-se mensalmente, por seis ou sete minutos em troca de duas moedas na cabine telefônica, alternavam-se com cartas escritas por Glória e respondidas por Cartola. Nas correspondências, Glória começava perguntando sobre como estavam e relatando suas vagarosas melhoras da enfermidade e seguia fazendo pequenas listas de pedidos (cubos Maggi, desodorantes, chouriços, sabão, almofada, batom, gramática, pente e verniz, etc.) dos quais, muitos nunca chegariam por falta de condições de assisti-los. Pois, assim que acabaram as economias e o tratamento de Aquiles fora iniciado, “a sua incumbência era arrastarem-se até ao fim do mês na esperança de que não acontecesse um imprevisto” (ALMEIDA, 2018, p. 67).
A imagem silenciosa de Lisboa que impactou Cartola e Aquiles à chegada como “um lugar para o exílio, para o acolher e para significar” (NOUSS, 2016, p. 55) foi tomada por outra impressão ruidosa tão logo pai e filho “perderam a ilusão de que Lisboa os aguardava e de que ali podiam contar com alguém ou esperar alguma coisa do futuro” (ALMEIDA, 2018, p. 67). Cartola caminhava pelas ruas abismado com sua invisibilidade, já sem poder contar com a agilidade da juventude, metia-se num ritmo frenético sempre a acompanhar a multidão, ainda que ninguém os estivesse a esperar, sentia-se pertencer ao fazê-lo. Em tempo, também se sentia foragido, ou melhor, “um clandestino”, o migrante é aquele que vem de fora duas vezes – de um exterior espacial e de um exterior legal –, por isso mesmo, é duplamente ameaçador. Como ‘selvagem’, o migrante é aquele que desafia duas vezes o código – o código cultural e o código moral –, ou seja, é duplamente inimigo da sociedade” (NOUSS, 2016, p. 17).
Dentre a invisibilidade, as cirurgias mal sucedidas, o trabalho precário, a permanência indocumentada, a fome, os contatos cada vez mais espaçados com a família, a impossibilidade de atender aos míseros pedidos da esposa, a ausência de um amparo institucional, Cartola perdia-se numa existência aviltante onde já não se reconhecia fisicamente, na qual a degradação econômica o alcançará por meio dos endividamentos feitos aqui e acolá com utentes da pensão, os mesmos para quem prestava serviços em troca de pêros, chouriças, bolachas, tomates em conserva, etc. Além dos adiantamentos solicitados à empresa para fazer manobras orçamentárias que os depauperava no fim do mês.
Aquiles, por seu turno, definhava como se às suas costas carregasse a responsabilidade da sua condição: “Os tratamentos de Aquiles deram-lhe o ar doente, que mascarava a juventude despontada do hálito de hospital, dos olhos tristes e do calcanhar que arrastava agora mais do que na chegada a Lisboa, por causa das feridas abertas pelas operações” (ALMEIDA, 2018, p. 74). Em razão disso, mal conseguia concentrar-se durante o curso que frequentava à noite, estranhou as cadeiras desconhecidas e sentiu-se exposto pela forma maltrapilha como se vestia. O horizonte de expectativas em torno de melhores condições de vida distanciava-se a cada ano que passava e o médico Barbosa da Cunha de posse de todos os documentos do pai e do filho, renovava as promessas de que a nacionalidade estava para sair. Sem documentos, sem o curso concluído e com o tratamento incompleto, Aquiles passou a auxiliar o pai na construção. Além disso:
O desequilíbrio de Aquiles devido à enfermidade de seu calcanhar refletia o desajuste de pisar naquela nova terra, antes fonte de sonhos, projetos e cobiças, já agora o retrato cruel da invisibilidade, da indiferença, de perdas e frustrações. Sentia que seu passaporte subjetivo/identitário espelhava a deficiência de seu corpo. (JACOB, 2020, p. 100)
Após um incêndio no andar superior da precária pensão, que levou à morte mãe e bebê que aguardavam tratamento médico, os Cartola de Sousa mudam-se para um casebre no fim da estrada velha da Quinta do Paraíso. Mobilaram com pertences encontrados no lixo, e ali, na estrada para Caneças recomeçaram a vida, no que virá a ser um bairro de lata, eis o caráter antifrástico do Paraíso (RIBEIRO, 2019a). Nas proximidades, num passeio ao cemitério de Campo de Ourique, aquele local do pouso derradeiro pareceu-lhe tão digno que tencionou, logo ali, dividir com o filho o seu desejo final, todavia não o fez. Para Nouss (2016, p. 85), “É na possibilidade da morte que se valida a experiência exílica. O não regresso definitivo, seja este enunciado como previsão ou como probabilidade”. A esta altura, a resignação pela vida em Lisboa era alimentada pela ideia de impossibilidade de regresso. Talvez por isso, Cartola tenha se sentido no direito de sonhar possuir, no fim da sua trajetória, um pedaço daquele chão.
No Paraíso, a história dos Cartola de Sousa cruza-se com a de Pepe que fugiu da pobreza da aldeia onde nascera na Galícia e passou a experimentar a precariedade do submundo lisboeta desde a origem da Quinta do Paraíso. Naquele contexto desumanizado pela pobreza, dignidade maior possuía o cão do galego que jantava à mesa com seu dono, ao passo que o filho comia no sofá emporcalhando tudo. Pepe e Cartola reconhecem-se nas suas mazelas e tornam-se amigos:
Cartola apanhou Pepe sem réstia de esperança, mas este viu nele uma vocação sofredora e digna como sentia ser a sua. Meio ano depois da chegada dos angolanos à Quinta do Paraíso, Pepe já conhecia a dinâmica económico- -alimentar dos Cartola de Sousa. Se fosse Verão, e até o dia 6, passavam a pêssegos, linguiça e batatas velhas. No Inverno, até a mesma altura, levavam pão, velas, banha e feijão-manteiga. A partir do dia 6, sobreviviam às custas da boa-vontade do galego que, feito santa providência, vendia fiado ao bairro inteiro. Uma vez por outra, Aquiles ganhava uma talhada de melão fresco, se calhava aparecer ao fim do almoço, enquanto o dono do lugar refrescava a boca. (ALMEIDA, 2018, p. 108)
Pepe se constitui a partir dali no vínculo familiar que faltara para Aquiles e Cartola desde que chegaram. Representa abrigo, quando oferece guarita aos angolanos na ocasião do segundo incêndio que novamente os desabriga, e apoio para juntos reconstruírem a casa que precisava ser devolvida à sua senhoria no mesmo estado encontrado. Duas pessoas de origens tão distintas aproximadas pela condição exílica que os atravessa. A intersecção que localiza Cartola e Pepe neste lugar é nomeada por Alexis Nouss (2019, p. 53) como “exiliência”, e seria o “núcleo existencial comum a todas as experiências de sujeitos migrantes, quaisquer que sejam as épocas, as culturas, as circunstâncias que as acolhem ou que as provocam”.
A “exiliência” bifurca-se em condição e consciência. Cartola inconscientemente fugia da vida anterior e, por consequência, do que estava associado a esta vida, nomeadamente a figura da mulher enferma que representava a decadência de um estatuto que portara, o de assimilado, que na Lisboa pós-colonial não lhe garantiu o menor privilégio. O que faz com que se sinta no exílio sem estar exilado necessariamente (consciência sem condição). Ao mesmo tempo em que sai de Angola, por não conseguir garantir o tratamento de saúde do filho na condição de pai e trabalhador, a precariedade do serviço de saúde os obriga a partir (condição sem consciência). Uma vez que não encontra hipóteses de retornar, Cartola é posicionado neste lugar duplamente declinado e que expõe a sua exiliência.
Sem nenhuma perspectiva de retorno, Cartola alimentava através das espaçadas cartas as esperanças da esposa de reencontrá-lo. Certa feita, a filha Justina fez-lhes uma visita em Lisboa com o propósito de organizar o casebre da casa do pai, porém “Cartola já não era bem o mesmo nem ela a mesma filha que ele tinha deixado em Luanda” (ALMEIDA, 2018, p. 126). Naquele estranhamento, Cartola recobrava o sentido de família que queria quando vivia com os seus em Luanda, segundo Nouss (2016, p. 63), “O exilado precisa desses pontos de referência na medida em que a consciência exílica é uma consciência infeliz que manifesta uma desadequação entre o sujeito e o mundo. Isso torna-se evidente ao nível psicológico (…)”. Tanto que a visita de Justina e da netinha Neusa soa fantasmática a dada altura da narrativa, de modo que o leitor não consegue aperceber-se se se tratou de um devaneio provocado pelo desejo de cuidado de Cartola ou saudade de Aquiles, ou realmente um fato observado e narrado.
(…) pois o exilado vê-se excluído dos quadros mentais e culturais que lhe ofereciam referência e conforto, uma ferida com que a experiência exílica, como qualquer outro fenômeno traumático, é levada a confrontar-se. Em compensação, a exiliência manifesta, de modo exemplar, a ligação orgânica entre a ordem do sujeito e a ordem do mundo: o exilado perdeu seu lugar (no mundo) e não sabe se – e quando – vai encontrar um outro. (NOUSS, 2016, p. 63)
Eis, portanto, o drama que coloca Cartola e Aquiles na condição de “exilados da própria existência”, conforme Inocência Mata (2019), afinal, “o exilado não acredita no seu ‘eu’ porque deixou de acreditar no mundo” (NOUSS, 2016, p. 63), privado de liberdade e de direitos num encarceramento forjado pela própria (in)consciência do exílio no qual “a cultura de origem é um apoio incerto, mas também não pode confiar nos valores do lugar de acolhimento” (NOUSS, ibidem).
A exiliência se configura nos protagonistas a partir de uma impossibilidade de retornar à terra de origem associada a uma incapacidade de pertencer à terra de acolhimento, de modo que Luanda e Lisboa tornam-se paisagens idílicas, a utopia para Cartola que para nada serviu. Talvez lhe fosse conveniente uma afrotopia, no sentido dado por Felwine Sarr (2019), um novo lugar com condições para construção de outras esferas de validação de si que não se apoiasse mais no sonho ocidental, mas no topos possível, acolhedor. Em Lisboa, Cartola somente acessou o patrimônio imaterial representado por Pepe e Yuri que posteriormente sucumbirão, um a um. Nada mais do que ajudaram a erguer, puderam usufruir, até que eles mesmos, emigrados, impossibilitados de voltar, se dessem conta de que já não passavam de “ruínas vivas e humanas do Império” (RIBEIRO, 2019, p. 299).
Conclusão
O texto literário dos autores afrodescendentes das suas mais variadas diásporas ocupa-se de importante papel para além do fim em si mesmo enquanto objeto estético (VARGAS LLOSA, 2004) – no caso da Djaimilia Almeida, com a naturalidade de quem conta uma história qualquer –, cumpre outra importante função que é a de tensionar sobre fraturas abertas e impossíveis de serem cicatrizadas sem assumirmos, antes de tudo, que colonialismo é violência. Nesse sentido, Margarida Calafate Ribeiro (2019a, p. 299) ao analisar a obra em discussão, reafirma o compromisso descompromissado desse texto em apontar que “a violência, quando não questionada, adquire uma aparente e fatal “doçura” de família problematicamente luso-tropical”. Luanda, Lisboa, Paraíso é um convite a vestirmos a pele dos Cartolas de Sousa e percebermos a sutileza das violências que atingem o afrodescendente na sua trajetória exílica, violências estas que obstacularizam a construção de uma pertença e os fazem sentirem-se estrangeiros no lugar de origem/destino.
Dos aspectos destacados para analisar esta narrativa, os conceitos de exiliance e de condition noire permitiram-nos ler a obra através do viés sociológico da violência de forma a dimensionar as problemáticas em torno da experiência exílica e dos efeitos dessa na subjetividade dos sujeitos da diáspora. Sob a pele dos protagonistas Cartola e Aquiles vemo-nos de forma frontal com a experiência de sujeitos que continuam a habitar o território do não pertencer, a despeito de suas presenças já contarem com cinco séculos de existência em Portugal. O texto literário da escritora Djaimilia Almeida ilustra esses limites relacionados à pertença e a complexidade de construir uma subjetividade a partir dos trânsitos, deslocamentos e do não pertencimento.
Por fim, a narrativa lida à luz da noção de “exiliência” mostra-nos que não faz o menor sentido reduzir o status de sujeitos dos deslocamentos, como os migrantes, a fugitivo ou a aventureiro, reduções estas que não avançam para além do estereótipo. Essa noção, recuperada do pensador francês, teve como propósito ampliar a nossa percepção sobre os sujeitos das diáspora a fim de melhor perceber os fenômenos e suas implicações no âmbito coletivo e sobretudo, individual. Afinal, a ideia de que “o exílio não é uma fuga ou punição, mas a expressão de uma falha em que o exilado é vítima” (NOUSS, 2016, p. 58) parece justa na perspectiva de compreender uma coletividade, mas, principalmente, entender que o exilado só será livre se lhe for feita justiça e que isso implica em “ser admitido e aceite pleno de direito pela sociedade de acolhimento equivale a[o início de] uma reparação” (ibidem) mais próxima de dirimir as violências e agir positivamente sobre as subjetividades dos sujeitos dos deslocamentos.
Referências:
AJARI, Norman. La dignité ou la mort. Paris: La Découverte, 2019. AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Lisboa: Editorial Presença, 1993.
ALMEIDA, Djaimilia Pereira de. Luanda, Lisboa, Paraíso. Lisboa: Companhia das Letras, 2018.
ALMEIDA, Liz Maria Teles de Sá. A migração como um Direito Humano: Algumas implicações sobre o ordenamento jurídico estabelecido a partir da DUDH à luz da ficção Luanda, Lisboa, Paraíso. Revista Científica da UniRios. n. 27. p. 9-29. 2020. Disponível em https://www. unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2020/27/a_migracao_como_um_direito_humano.pdf, Acesso em 1 mar. 2020.
ALMEIDA, Liz. Percepções sobre identidade e migração na literatura negra, feminina e diásporica de Djaimilia Pereira de Almeida. In: Novas contribuições em investigação e ensino em Língua Portuguesa. Madrid: Edición Punto Didot, 2021.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 2003.
BRANCATO, Sabrina. Afro-European Literature(s): a new discursive category? Resarch in African literatures. Indiana (USA): Indiana University Press. v. 39, no 3, autumn, p. 1-13, 2008.
EPALANGA, Kalaf. O angolano que comprou Lisboa (por metade do preço). Alfragide: Editorial Caminho, 2015.
GONÇALVES, Bianca Mafra. Existe uma literatura negra em Portugal? Revista Crioula – a experiência étnico-racial nas literaturas de Língua Portuguesa. ISSN: 1981-7169, no 23, 1o Sem, p. 120-139. 2019. Disponível em https://doi.org/10.11606/issn.1981-7169.crioula.2019.155948 Acesso em 5 mai. 2020.
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
JACOB, Sheila. De Luanda a Lisboa/Paraíso: uma trajetória de desencontros e recomeços. Mulemba. Rio de Janeiro: UFRJ. v. 12, no 22, p. 93-103, jan.-jun. 2020.
LLOSA, Mário Vargas. A verdade das mentiras. São Paulo: Arx, 2004.
MATA, Inocência. Estranhos em permanência: a negociação da identidade portuguesa na pós- colonialidade. In: SANCHES, Manuela Ribeiro. Portugal não é um país pequeno: contar o “império” na pós-colonialidade. Lisboa: Edições Cotovia, 2006. p. 285-315.
MATA, Inocência. Uma implosiva geografia exílica. Público. 2019. Disponível em https://www. publico.pt/2018/12/14/culturaipsilon/critica/implosiva-geografia-exilica-1854334, Acesso em 1 jun. 2020.
MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. São Paulo: N-1 Edições, 2019.
MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. Lisboa: Antígona, 2017.
MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Cadernos de Letras da UFF - Dossiê: literatura, língua e identidade, no 34, p. 287-324, 2008. Disponível em http://professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/ desobediencia_epistemica_mignolo.pdf, Acesso em 14 set. 2020.
MONTEIRO, Yara. Essa dama bate bué! Lisboa: Guerra e Paz, 2018.
NOUSS, Alexis. Pensar o exílio e a migração hoje. Porto: Edições Afrontamento, 2016.
QUEIROZ, Amarino; LIMA, Maria Nazaré Mota; ROLAND, Walter. O espaço literário da diáspora africana. Literatura, cultura e memória negra. UEFS, n. 12, p. 9-34, 2011.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLASCO, 2005, p. 117-142. Disponível em http://bibliotecavirtual.clacso.org. ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf Acesso em 30 Jun. 2020.
RIBEIRO, Margarida Calafate; ROTHWELL, Phillip. Viagens na Minha Terra de “outros” ocidentais. In: Heranças pós-coloniais nas literaturas de língua portuguesa. Porto: Edições Afrontamento, 2019.
RIBEIRO, Margarida Calafate. Luanda, Lisboa, Paraíso? Memoirs. 2019a. Disponível em http://memoirs.ces.uc.pt Acesso em 10 jan. 2020.
RIBEIRO, Margarida Calafate. Sentimento de outros ocidentais. Memoirs. 2019b. Disponível em http://memoirs.ces.uc.pt, Acesso em 10 jan. 2020.
RICARDO, Adolfo. Depois de morrer aconteceram-me muitas coisas. Porto: Alfaguara, 2009.
SARR, Felwine. Afrotopia. São Paulo: n-1 Edições. 2019.
SARTESCHI, Rosangela. Literatura Contemporânea de autoria negra em Portugal: impasses e
tensões. Via Atlântica, São Paulo, n. 36, p. 283-304, dez, 2019.
SILVA, Jorge Pereira. Direito de cidadania e direito à cidadania: princípio da equiparação, novas cidadanias e direito à cidadania portuguesa como instrumentos de uma comunidade constitucional inclusiva. Lisboa: Alto-comissariado para imigração e minorias étnicas, 2004.
SOUSA, Sandra. A descoberta de uma identidade pós-colonial em “Esse cabelo” de Djaimilia Pereira de Almeida. Abril, (NEPA/UFF). Niterói. v. 9, n. 18, p. 57-68, jan-jun. 2017.
TVON, Telma. Um preto muito português. Lisboa: Chiado, 2018.
Mulemba. Rio de Janeiro: UFRJ | Volume 13 | Número Especial | p.71 - 87 | jul.-dez. 2021. ISSN:2176-381X