Por uma história da alimentação em Portugal
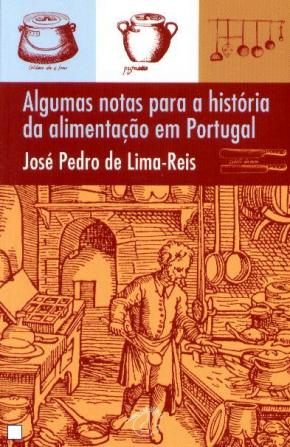 O livro de José Pedro de Lima-Reis, Algumas notas para a história da alimentação em Portugal1 descreve um período histórico extremamente vasto, uma vez que vai desde a Idade do Bronze até o reino de D. Pedro II, ou seja, até 1706. É uma pena que se tenha ficado por essa data: teria sido muito útil apresentar as transformações que aconteceram na área culinária depois da conquista económica do Brasil, tanto a nível dos ingredientes como da etiqueta à mesa próprias à nobreza. Teria sido interessante também debruçar-se sobre a evolução da cozinha portuguesa durante as guerras coloniais do século passado.
O livro de José Pedro de Lima-Reis, Algumas notas para a história da alimentação em Portugal1 descreve um período histórico extremamente vasto, uma vez que vai desde a Idade do Bronze até o reino de D. Pedro II, ou seja, até 1706. É uma pena que se tenha ficado por essa data: teria sido muito útil apresentar as transformações que aconteceram na área culinária depois da conquista económica do Brasil, tanto a nível dos ingredientes como da etiqueta à mesa próprias à nobreza. Teria sido interessante também debruçar-se sobre a evolução da cozinha portuguesa durante as guerras coloniais do século passado.
Mas em vez de lamentar essas ausências, examinaremos o próprio texto (e não o que ele poderia ter sido).
Mais do que uma história discutida que visaria extrair as grandes linhas estruturais da evolução das práticas culinárias, o autor adota uma perspectiva estritamente cronológica, resgatando de cada período o que aparece como novidade com relação ao período antecedente. Sendo assim, uma das contribuições dos Romanos à mesa dos nobres portugueses foi a introdução do frango capão, cuja carne suculenta parece ter encantado o paladar do cônsul Caio Cânio e que foi adotada pela corte real até João V, durante todo o período descrito e além dele. É a ocasião de corrigir um certo número de estereotipos: não foram os Romanos a trazer a vinha para Portugal, nem o azeite de oliva. O azeite foi provavelmente fabricado pela primeira vez, a partir de frutos da oliveira selvagem, pelos Fenícios presentes na Península desde o século XV a.C.. E o autor lembra que sementes de uva, cuja data remete para a Idade do Bronze (séc. VII a.C), foram identificadas durante as escavações arqueológicas realizadas na vila de Almaraz (Almada-Estremadura), o que permite avançar na hipótese da presença de vinho no país… O que poderia eventualmente indicar até a possibilidade de ser fabricadp” (p. 19). Vemos aqui, e durante todo esse período, a grande prudência do pesquisador que, nesse caso, fornece uma interpretação plausível em função dos resultados das investigações arqueológicas: a presença de mariscos fossilizados e de um anzol de bronze nos arredores de Sines (Alentejo) bastou para manter a possibilidade da pesca alimentícia nessa área. Mas faltam dados para sustentar essa tese. Foi identificada também a presença de ânforas que datam do século VII a.C., mas nada evidencia que elas serviam para a exportação dos produtos locais.
Apesar da raridade das informações sobre essas questões, outros pesquisadores conseguiram tirar conclusões menos duvidosas apelando a técnicas de investigação científica. Trabalhos recentes sobre o homem do Paleolítico2 chegaram a resultados surpreendentes, porém irrefutáveis: o exame da dentição nos crânios dessa época é esclarecedor quanto ao tipo de alimentação em vigor: o onívoro apresenta de fato listras oblíquas na dentição, enquanto listras verticais são visíveis na do carnívoro, e estrias horizontais são características dos herbívoros. A análise da relação entre o estrôncio e o cálcio confirma essa observação. Neste sentido, “pensa-se que o regime alimentar dos nossos predecessores seria não apenas equilibrado, mas também mais saudável do que o regime alimentar ocidental atual… Nossos ancestrais ingeriam duas vezes menos lipídios que o Americano médio e quase três vezes mais proteínas, enquanto as suas gorduras não saturadas eram três vezes menores que as gorduras dos seus descendentes”3. Lembramos que tábuas cuneiformes datando de cerca de 1600 anos a.C., conservadas pela Coleção Babilônica da Universidade de Yale4, permitiram atualizar não apenas aquilo que comiam e bebiam os sumérios e os acádios dessa época, mas também a maneira com que preparavam alguns pratos destinados aos nobres, às pessoas importantes ou aos seus deuses. Conclui-se assim que as carnes grelhadas eram reservadas aos deuses, as vísceras e as pequenas aves eram cozidas entre duas massas sendo a carne servida separada da água da cozedura; foram identificados os principais componentes da bateria de cozinha, os modos de conservação (por salgação, secagem ao sol ou imersão em óleo) etc. A partir disso, o autor conclui que essas sociedades tinham elaborado uma arte culinária autêntica, aliando a necessidade fisiológica de se alimentar ao prazer de satisfazer os paladares (reservado aos notáveis ou aos membros da corte real),de satisfazer as pupilas pela arte refinada de cozinheiros profissionais.
Diante de tais resultados, só resta a surpresa do aspecto fragmentário dos dados apresentados nesse livro sobre o período pré-histórico. Certamente, o autor passa à frente de pontos essenciais, mas que não são muito explicitados. Assim, na página 19, ele aponta a introdução da cerâmica e da salgação dos peixes como procedimento de conservação pelos Fenícios, mas não faz nenhuma referência às consequências dessas inovações na cozinha típica regional. A primeira inovação permite trabalhar instrumentos impermeáveis e resistntes a um forte calor, daí a possibilidade de variar e de modificar os modos de cozimento. A segunda merecia também um desenvolvimento mais amplo: essa descoberta seria capital no tempo, já que ela permite remediar a putrefação da carne (pergunta: o salgamento referia-se tambem à carne e a caça ou ela era limitada aos peixes na época dos Fenícios?) e que ela autorizaria o transporte no interior do país (por ser salgado é que o bacalhau fez tanto sucesso nas regiões afastadas do mar, e na França é vulgarmente consumido em região de altas montanhas como Hautes-Alpes.
Da mesma forma, o autor assinala que o óleo foi inicialmente utilizado como combustível (candelabros do época da ocupação fenícia foram encontrados na necrópole de Alcácer do Sal e na vila de Monte Molião, em Lagos), porém poderíamos ter acedido às modalidades em que essa gordura se tornou essencialmente uma base para o cozimento. Sabemos que a sua produção foi desenvolvida em Portugal durante a romanização do país (p. 23), mas o trajeto é longo entre a valorização comercial e religiosa desse ingrediente e a sua introdução na cozinha. Teria sido interessante marcar essas etapas. Entretanto, o autor mostra de maneira pertinente a antiga ligação entre o agridoce, muito apreciado pelos Romanos que o obtinham misturando vinagre e mel, e algumas preparações recomendadas pela Infante D. Maria no séc. XVI. Nesse caso também seria essencial determinar como essa preparação terminou por ser adaptada pela alta sociedade portuguesa e a veracidade, como destaca com pertinência o autor (p. 28), de que as contribuições vindas do exterior (dos países conquistadores), no que diz respeito à alimentação, mudaram os hábitos dos autóctones; foi aos poucos que os portugueses integraram algumas dessas contribuições.
Não obstante, J. P. de Lima-Reis é mais preciso quanto à questão do legado culinário de origem árabe em Portugal; destaca os avanços técnicos dos Mouros (presentes em terras portuguesas de 711 a 1249) na cultura da oliveira e em outros domínios tais como a moagem do milho ou a dissecação de frutas (principalmente o figo), mostra a introdução de novas combinações de ingredientes no forma como os nativos cozinhavam à época, tal como a açorda, a perenidade de alguns pratos que se tornaram emblemáticos de uma região (almôndegas ou xarém no Algarve, almorretas no Trás-os-Montes) (p. 37) ou ainda a evolução das maneiras à mesa em direcção a um refinamento cada vez mais evidente entre as pessoas da Corte ou da alta nobreza5. Mas o autor não estuda (ou estuda pouco) as condições que permitiram sua adoção. O que dizia o clérigo da época a respeito das especiarias (algumas eram reputadas como afrodisíacas; outras são consideradas como perigosas para a saúde)? Podemos interpretar as preferências de uma ou outra especiaria entre as elites? Tantas questões que permanecem sem resposta.
Está claro que esse estudo vale muito mais pelas informações históricas (datadas) que ele propõe do que pelas explicações dadas. Isso não quer dizer de forma alguma que a obra não alcançou o seu objetivo e que não seja interessante; pelo contrário, pode justamente estimular os pesquisadores que pretendem apoiar-se no trabalho cronológico de Lima-Reis para uma interpretação sociológica que se desdobraria na área económica (os gostos dos ricos resultaram na instalação de moinhos a óleo, de fábricas de refinamento de açúcar, no desenvolvimento do comércio de especiarias e de manufacturas de azulejos etc.), no campo religioso (o Papa João XXI sob o reino de D. Afonso III faz recomendações alimentares) e no simbólico (maneira de se comportar à mesa, composição da louça e dos instrumentos culinários empregues, escolha dos pratos já preparados, se são cotidianos ou festivos), etc.
- 1. Edições Campo das Letras 2008 -163 páginas.
- 2. Ver J. L. Flandrin et M. Montanari : Histoire de l’alimentation- Paris- Edtions Fayard 1996 (sobretudo a intervenção de C. Perlès : Les stratégies alimentaires dans les temps préhistoriques) e na compilação chamada Du bien manger et du bien vivre à travers les âges et les terroirs - Pessac - M.S.H.A- 2002, a parte que trata da alimentação durante o período paleolítico. Para um resumo conciso, mas selectivo, ver Anthony Rowley : Une histoire mondiale de la table - Paris - Edit Odile Jacob p 15 sv.
- 3. A. Rowley : op cit pp 15-16.
- 4. Ver J. Bottero : La plus vieille cuisine du monde - Réédit Seuil - Points 2006 - 299 p.
- 5. Para se ter uma visão do conjunto sobre a contribuição da civilização árabe nos setores mais importantes da cultura, consultar o estudo de Jean Vernet : Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne. Paris- Edit Sindbad 1985 e o de Lucie Bolens : Agronomes andalous du Moyen-âge . Genève - Edit Droz- 1981 .