Mediterrâneo: "As mulheres foram apagadas da história da migração"
 Mulheres resgatadas pelo Ocean Viking enquanto tentavam atravessar o Mediterrâneo, no início de 2021. © NB
Mulheres resgatadas pelo Ocean Viking enquanto tentavam atravessar o Mediterrâneo, no início de 2021. © NB
No slivro Les Damnées de la mer (Os Malditos do Mar), a investigadora Camille Schmoll faz uma retrospectiva de oito anos de investigação sobre as mulheres migrantes no Mediterrâneo e assinala uma abordagem cada vez mais “repressiva e consciente da segurança”, da questão da migração na Europa. É uma oportunidade para evocar a viagem das mulheres resgatadas pelo Ocean Viking.
As mulheres representam 51% dos migrantes internacionais na Europa e cerca de 20% das chegadas marítimas no Sul da Europa. Entre as pessoas resgatadas pelo Ocean Viking durante as duas rotações do navio humanitário no início de 2021, 11% eram mulheres. Camille Schmoll, professora e investigadora da Universidade de Paris-Diderot e membro do Grupo Internacional de Peritos em Migração (Giem), autora de Les damnées de la mer - femmes et frontières en Méditerranée (La Découverte, 2020), analisa a migração feminina e a importância de “tornar mais feminino a abordagem dos investigadores”, entre diferentes trajectórias, a violência física e sexual durante o processo migratório e a violência das políticas migratórias europeias.
Nejma Brahim: Ainda que mais mulheres tenham atravessado o Mediterrâneo nos últimos anos, porque é que a “migração feminina” não é um fenómeno recente?
Camille Schmoll: Nos anos 1990 e 2000, uma categoria de investigadores, ao evocar o processo de “migração feminina”, tornou possível destacar a percentagem de mulheres em migração, mas também a chamada migração autónoma, de mulheres que partem sozinhas. No passado, as mulheres eram sempre representadas como aquelas que acompanhavam ou seguiam alguém. Ainda que haja um aumento no número de mulheres que atravessam nos últimos dez anos, e mesmo nos últimos meses, não é preciso exagerá-lo.
Com Malditos do Mar, quis restaurar o lugar destas mulheres nas chamadas migrações irregulares, porque muitas vezes pensamo-las como migrações essencialmente masculinas. Em 2009, quando comecei o meu trabalho de campo em Malta, havia muitas mulheres. Isto faz parte de um movimento mais geral para um ponto de vista mais feminino: há várias décadas que as mulheres investigadoras estão conscientes da importância das mulheres na migração, quer sejam os fluxos do tráfico de escravos ou as grandes migrações transcontinentais do final do século XIX e início do século XX. Foram frequentemente a maioria, mas completamente apagadas na história da migração.
No início do século XX, os dados do censo mostram que as mulheres constituíam metade da população imigrante. Durante os “Trente Glorieuses”, elas também eram invisíveis. Porque supomos que vinham enquadradas no núcleo familiar, tendemos a esquecer que eram trabalhadoras, empregadas domésticos, porteiras ou empregadas no sector dos cuidados e da saúde. A “migração feminina” não é, portanto, um fenómeno recente. É claro que flutua muito em função das razões da partida, mas as mulheres sempre estiveram presentes.
Como é que a mobilidade das mulheres desafia a sabedoria convencional?
A imagem da mulher sofre de um estereótipo profundamente enraizado que remonta pelo menos à antiguidade. É a ideia de que as mulheres estão imóveis, à espera, no espaço do lar e da reprodução da família. Estão, portanto, ancoradas enquanto os homens, por sua vez, navegam. Esta é uma das razões pelas quais a migração das mulheres não foi discutida durante muito tempo. Não parece natural imaginar mulheres em movimento.
Porém, não só as mulheres se movimentam muito, como há ainda mais movimento de mulheres dentro dos países, especialmente de zonas rurais para urbanas. Mas por razões relacionadas com as nossas representações, não as vemos. Além disso, são também auto-invisibilizadas. Por questões ligadas às relações de género, tendem a minimizar os seus movimentos, apesar de terem trajectórias incríveis. Percorrem milhares de quilómetros mas minimizam a individualidade, autonomia e força de vontade que fazem parte destas trajectórias. É uma forma de ter paz e de se protegerem do estigma que as acompanha desde o início ao fim.
As mulheres que conhecemos a bordo do Ocean Viking tinham todas perfis muito diferentes. Todas elas deixaram os seus países por razões específicas, sozinhas ou com os seus filhos, por vezes com os seus maridos, que morreram no caminho ou ficaram presos na Líbia, e continuaram a sua viagem para a Europa. Porque é que a “mulher migrante” não existe?
É essencial criticar esta noção de “mulher migrante”. Antes de mais, porque têm origens, histórias e trajectórias muito diversas. É o perigo da essencialização considerar que existe uma condição feminina na migração. Na realidade, elas são muito diferentes umas das outras. Da Eritreia, Somália, Costa do Marfim, Camarões, Magrebe… São provenientes de países e contextos muito diferentes.
É por isso que a perspectiva interseccional é importante: não há razão para encontrar mais identificação entre duas mulheres do que entre uma mulher ou um homem eritreu. A questão de género deve ser cruzada com outras dimensões, tais como país de origem, raça, idade, o facto de viajar sozinha… Devemos insistir na complexidade, causas e motivações da migração. Denuncio também a instrumentalização da migração feminina, em particular pelos envolvidos no controlo da migração, o que, sob pretexto de criar uma figura unívoca da mulher migrante, necessariamente vítima de tráfico e de homens estigmatizados, justifica políticas repressivas.
Quais são as razões para as mulheres deixarem o seu país?
Estas mulheres correspondem ao que os investigadores descrevem quanto aos migrantes em geral: não provêm dos meios mais pobres e frequentaram o liceu e, por vezes, a universidade. Desde o início têm recursos e pequenas empresas.
Partem com uma certa bagagem, no sentido amplo e metafórico, tanto económico, cultural e familiar. As razões para sair são muito variadas, mas há um entrelaçamento de motivações, com ou sem sexo. Por um lado, para escapar a um casamento arranjado ou a uma mutilação genital, por outro, como para os homens, para recusar a falta de oportunidades económicas, para fugir a uma instabilidade política muito forte, a uma guerra civil, a um Estado autoritário.
Quando ouço que deve distinguir-se a migração económica do asilo, digo que, evidentemente, estas categorias legais têm um significado e permitem a protecção de pessoas que fogem de perseguições. Porém, como investigadores, não somos obrigados a entrar nesta dicotomia. Podemos dar-nos ao luxo de tornar as coisas mais complexas, porque a maioria das trajectórias se situa entre estas motivações, e estas motivações evoluem durante a viagem. A maioria das mulheres sofre violência sexual, tortura ou perda de entes queridos e são sobreviventes. Esta oposição das motivações iniciais está, portanto, a tornar-se cada vez mais problemática.
Sobrevivem “à vida na fronteira”.
As mulheres são mais vulneráveis durante o processo de migração?
Sabemos que mais mulheres partem, logo, mais morrem no caminho. Há várias razões para isto, incluindo a violência sexual. Existe uma vulnerabilidade específica das mulheres, e as organizações internacionais reconhecem-nas como categoria vulnerável, tal como os menores. É evidente que as mulheres se encontram muito mais em risco do que os homens, embora hoje em dia a situação se tenha tornado tão terrível que muitos homens estão sujeitos a violência atroz, incluindo a violência sexual.
A violência física e sexual parece ter-se tornado quase sistemática, especialmente na Líbia, e as mulheres que conhecemos a bordo do Ocean Viking podem testemunhar1. Como se pode reconstruir a si próprio após tais traumas?
É extremamente grave que, quando chegam à Europa, praticamente não há tratamento para o trauma físico e psicológico ligado à violência sexual. Não há médicos suficientes e elas não são apoiados de todo. Este é um problema real porque põe em risco a futura linha de acção das mulheres. O facto de o trauma da viagem não ser abordado, incluindo legalmente, reforça a sua vulnerabilidade. Não existe qualquer forma de protecção para a violência sofrida no caminho, que continua a ser uma zona cinzenta. Quando chegam à Europa, estas mulheres encontram-se num terrível limbo económico, físico e psicológico.
Várias mulheres resgatadas pelo Ocean Viking ficaram desiludidas quando souberam que teriam de permanecer em quarentena num ferry após o desembarque na Sicília. Algumas delas também tiveram muita dificuldade em separar-se dos seus irmãos porque um deles tinha dado positivo no teste Covid-19. É brutal?
Certamente que sim. E infelizmente, isto é apenas o começo. Em Malta, em particular, a situação ainda é mais violenta. A dificuldade para estas mulheres é dizer a si próprias: “Pensei que estava a chegar à Europa e cheguei a outro lugar.”
Há uma desilusão e um fosso total entre a imagem que levavam da Europa e a situação em que se encontram. Começa com as formas de separação, depois com os procedimentos postos em prática quando chegam. E a Covid-19 acrescenta uma dose extra de violência.
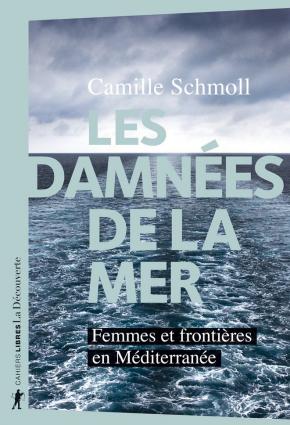 Tem seguido muitas mulheres que atravessaram o Mediterrâneo ao longo dos anos e que foram colocadas em centros de acolhimento ou detenção em Itália e Malta. O que lhes acontece?
Tem seguido muitas mulheres que atravessaram o Mediterrâneo ao longo dos anos e que foram colocadas em centros de acolhimento ou detenção em Itália e Malta. O que lhes acontece?
Há diferentes tipos de trajectória mas, acima de tudo, há um contraste entre a autonomia que as mulheres mostram na sua trajectória migratória, todos os recursos que conseguem mobilizar e as políticas migratórias que fazem parte de uma tensão entre a mobilidade forçada e a imobilidade. Por um lado, existe a mobilidade que estas mulheres gostariam de empreender na Europa, por outro, políticas de imobilização em centros de detenção ou acolhimento temporário, ou políticas de mobilidade forçada, tais como a expulsão, o chamado repatriamento voluntário e a Convenção de Dublin.
As mulheres não podem então solicitar uma autorização de residência no país de onde vieram para a Europa, e são enviadas de volta para o primeiro país de chegada na Europa. Isto é trágico porque muitas vezes não conseguem construir nada naquele país, onde não têm família nem recursos para as ajudar a avançar. Há algum tempo que se afirma o absurdo deste regulamento, até os políticos concordam. Mas há uma enorme dificuldade em reformá-la e em afastar-se de uma abordagem repressiva e baseada na segurança da questão da migração.
A investigadora Andrea Rea fala de um “estado de guerra” contra os migrantes. Já não é uma metáfora com o reforço da Frontex e das suas práticas ilegais, a colaboração com ditaduras para acabar com as migrações.
Uma jovem guineense resgatada pelo Ocean Viking (leia aqui a sua história2) que, entretanto, foi colocada num centro de acolhimento italiano, explicou-me que era difícil para ela não poder ir para França e ter de ficar num país onde não fala a língua, num centro que está “longe de tudo”…
Existe um extremo isolamento e solidão para estas mulheres. Os centros de acolhimento ficam frequentemente em zonas rurais e isoladas, onde não há acesso a nada. É uma completa mudança de cenário. Dura meses, ou mesmo anos, pelo que não é uma situação transitória. Para quem não tem telefone ou uma tábua, o facto de não conseguirem comunicar é muito difícil. Ter contacto com o mundo exterior é vital, quanto mais não seja porque eles não falam a língua local.
É aqui que as vulnerabilidades podem tornar-se mais pronunciadas e as mulheres perdem a sua estrutura. Passaram por tanta coisa no caminho para lá que, quando chegam, podem deslizar para uma forma de demência. Conheci mulheres que estavam num modo de apatia total, claramente deprimidas por tudo o que tinham experimentado, mas também por causa do tédio que caracterizava a vida quotidiana nestes centros.
De que forma é que “a vida na fronteira”, esta situação intermédia imposta às mulheres migrantes à sua chegada à Europa, demonstra o nível de violência das nossas políticas migratórias?
Como explica Chowra Makaremi [antropóloga e investigadora do CNRS - nota do editor], passamos do estudo da fronteira para o estudo das pessoas “na fronteira”. Desde o momento em que temos políticas migratórias que abrandam ao máximo os movimentos migratórios, que os desencorajam e tornam as pessoas vulneráveis, quando não levam directamente à sua morte no caminho, o resultado é o alongamento das trajectórias e a intensificação da violência no caminho. Uma vez que se trata de um processo a longo prazo, já não é possível evitar pensar no que acontece entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Esta é a chamada “fronteira móvel” ou “fronteira espessa”, que continua a aparecer ao longo das trajectórias. Isto caracteriza anos de precariedade, irregularidade e total insegurança. O antropólogo Michel Agier fala de um “corredor de exilados”.
Como é que as mulheres se adaptam a esta longa espera?
Utilizam ínúmeras tácticas para tentar aliviar a rotina diária. Elas criam rotas de fuga, constroem uma trajectória, encontram trabalho. Tudo isto é feito através de actividades colectivas, muitas vezes entre mulheres: rotinas religiosas, cozinhar, rir, dançar ou tecer, o que se torna mesmo uma pequena economia…
Tudo isto assume um papel importante e permite-lhes agarrarem-se a elementos muito positivos da vida quotidiana, manterem o espírito e avançarem.
Artigo originalmente publicado por Presse-toi à gauche! a 02.03.2021
- 1. Disponível em ESSF (artigo 56939), Testemunhos do ‘Ocean Viking’: A violência sexual na Líbia destrói as mulheres migrantes.
- 2. https://www.mediapart.fr/journal/international/190221/bord-de-l-ocean-vi...