Uma lasca no ouvido
em torno de Mark Fisher: Ghosts of my Life: exercício sonoro Criação: Carolina Borges, Mariana Pinho* no Teatro do Bairro Alto (17/10)
 imagem de Bruno Caracol
imagem de Bruno Caracol
Comecemos por um desvio temporal. Nas décadas de 1920 e 1930, Walter Benjamin vai escrevendo textos onde se despede, à distância, da cidade onde cresceu. Nestas vinhetas – reunidas postumamente em Infância Berlinenense: 1900 – despede-se também, como o título indicia, de uma época. A nostalgia é o prisma a partir do qual um momento histórico é apreendido como imagem, arrancado ao seu chão, tornando-se reverberação presente e antecipação do futuro. No enredo desta rememoração, a audição ocupa um lugar subtil, mas primordial. Benjamin leva ao ouvido a concha do século XIX da sua infância, à beira da passagem para o seguinte, e regista a sua paisagem sonora:
o que eu ouço é o ruído breve da antracite quando cai do recipiente de folha no fogão do ferro fundido, é o estalo seco que acompanha o acender da chama na camisa do candeeiro a gás, é o tinir da chaminé no aro de latão da lanterna, quando um carro passa na rua. E há outros ruídos, como o chocalhar das chaves no cesto, as campainhas das portas da frente e das traseiras; e também uma canção infantil.
Estes são sons que rodeiam a infância, a situam – dir-se-ia até, que a aconchegam. Porém, em cada um dos fragmentos, Benjamin vai ensaiando a passagem do «casual e biográfico» para o «necessário e social», como ele próprio o diz. E os sons transportam por vezes profundas reverberações, como o toque do telefone, «sinal de alarme» que punha em perigo não só a sesta, mas toda «a época». No fragmento «Varandas», fala do «som do roçagar dos ramos» dizendo que este lhe queria ensinar «qualquer coisa para a qual ainda não estava preparado». Benjamin sente as varandas como as divisões mais próximas do seu presente exilado, as que melhor traduzem a nostalgia como algo que, mais do que transportá-lo de volta, o desaloja. A «inabitabilidade» das varandas serve de consolo «a quem, por assim dizer, já não consegue viver em lugar nenhum.» Encostado ao ouvido, até o leve roçagar faz ferida.
Listening for
A dado momento de Ghosts of my Life – que reúne alguns textos onde Mark Fisher foi escavando o seu século XX – lê-se: «Quando o presente desistiu do futuro, temos de nos pôr à escuta dos vestígios de futuro nos potenciais não-ativados do passado.» Encontramos muitas variações desta formulação nos seus escritos. Desfiando cada um dos termos, chegaríamos a uma visão parcial, mas perceptível, da arquitectura da obra de Fisher, em particular como esta se desenha em Fantasmas da minha vida – «escritos sobre depressão, hantologia e futuros perdidos», como nos diz o subtítulo.
Encontramos aqui não só a ideia de um presente onde o futuro foi cancelado (devedora de Franco ‘Bifo’ Berardi), que Fisher sintetiza no conceito de «realismo capitalista» – o fechamento de horizontes ou bloqueio de alternativas ao curso e estado das coisas – mas igualmente um passado que não está arrumado no palácio do que já-foi, ou já-era, antes carregado de potenciais por realizar, futuros que não-chegaram-a-ser. Esses restos não podem chegar-nos senão como fantasmas, e talvez o fossem desde o início. A noção de hantologia (desviada de Derrida), na sua oscilação entre já-não e o ainda-não, regista em Fisher o anseio e a procura daquilo que o capitalismo fechou, obrigando a uma temporalidade feita de loops e elipses. Daí decorre também que a mudança – o novo, num sentido mais enfático – não é simplesmente o que aí vem, o que nos leva adiante. O futuro ouve-se, mas não se ouve ainda. O novo é uma ruína que é preciso fazer soar.
Tendo em mente este edifício, aqui visto de relance (e deixando muito na sombra), quero atender menos à sua arquitectura do que à silhueta de um corpo que a passagem me sugere. No original, aquilo que traduzi por «pôr-nos à escuta» é listening for. A modesta preposição for traça um lugar a partir de uma ausência, ou desenha uma ausência que, a partir do lugar de onde se escuta, se torna presente – como falta, ou promessa. É para aí que se inclina o for.
As proposições são elementos conectivos: anunciam conteúdos, ou prenunciam um lugar para eles, sem os definir semanticamente. O for é, neste caso, o registo discreto de um corpo (um sujeito) que deseja e espera. A escuta terá um objecto, um complemento directo: escutamos alguma coisa. Nisto – no listening to – define-se já uma relação. Mas listening for, simultaneamente suspensão e direcção, desequilibra tanto sujeito como objecto. A escuta será, sugere a preposição, algo em que nos pomos, mas sem que haja bem lugar onde caibamos. É antes um desajuste com o real, o princípio incerto de uma dança.
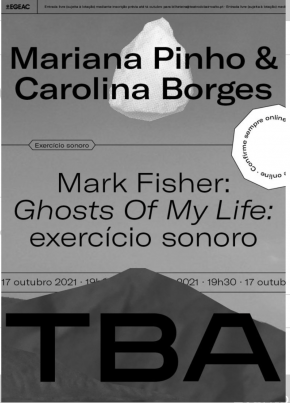 Fisher não está aqui a articular uma fenomenologia específica à audição musical. Na sua obra, porém, a música dá corpo tanto àquilo que nos situa, que define os contornos de uma época e um lugar, como a todos os desejos (de futuro) que esse tempo e lugar continham. Na memória de um som e no seu registo há algo que abre para um contexto e algo que se recusa a fechar-se no seu contexto «original», bem como no quadro do presente. A música – alguma música – pede-nos que nos debrucemos, que sejamos estranhos a onde estamos. É a figura, como ele próprio diz, para «uma recusa de desistir do desejo de futuro».
Fisher não está aqui a articular uma fenomenologia específica à audição musical. Na sua obra, porém, a música dá corpo tanto àquilo que nos situa, que define os contornos de uma época e um lugar, como a todos os desejos (de futuro) que esse tempo e lugar continham. Na memória de um som e no seu registo há algo que abre para um contexto e algo que se recusa a fechar-se no seu contexto «original», bem como no quadro do presente. A música – alguma música – pede-nos que nos debrucemos, que sejamos estranhos a onde estamos. É a figura, como ele próprio diz, para «uma recusa de desistir do desejo de futuro».
For sugere uma janela para lá da névoa do presente, a procura do acorde seguinte, um contraponto. Mas essa escuta – voltada para fora, lançada para a distância, como o equivalente auditivo de um telescópio – está, paradoxalmente, apontada ao lugar onde se está. Não se trata de olhar para o tempo e o lugar onde, em tempos, tivemos um futuro. Mas de sermos assombrados (para soar a mesma nota) pelos futuros desse passado: uma música que nunca se ouviu na música que se ouve.
For é também uma escansão dos tempos, um recorte que aguarda um corte. Em Fisher, há um aparente sobreinvestimento na ideia de um «som novo», na sensação de ouvir um disco pela primeira vez e sentir: «Nunca ouvi nada assim!». Mas há uma hesitação neste reconhecimento, uma ilegibilidade que suspende o passo seguinte. O for é augúrio, e os augúrios não são límpidos. A modalidade da escuta aqui esboçada tem afinidades com a forma como os adivinhos olham o voo das aves. É como se este transportasse um segredo que nos é dirigido. Esse segredo existe no espaço entre duas línguas, ou mundos. A mensagem insiste em permanecer asa e bico e pena e luz e céu e vento. Ou timbre, estremecimento, ruído, crepitação. Lida a inscrição, ela continuará por ler, continuará a ser ruína – de um outro futuro.
Nunca se ouviu nada assim. Não estamos preparados.
Crepitações
Bloqueado o futuro, só o podemos escutar através do bloqueio. Uma experiência histórica faz face não só a um passado enquanto algo que espera por nós, que se contorce ao invés de repousar no seu lugar, e que, como nós, ainda está por vir, mas confronta-se igualmente com o ruído que se intromete neste acesso. «Uma lasca no olho é a melhor lupa», escrevia Adorno, no exílio, durante a II Guerra Mundial: entre o nosso olhar e os vestígios que ele sonda, há cicatrizes.
Para Fisher, o som de uma Londres mutilada a arrastar os pés à entrada do século XXI – como uma espécie de memória desbotada e perra de uma dança – ganha corpo nos álbuns de Burial e The Caretaker, nomeadamente Burial (2006) e Untrue (2007), do primeiro, e Selected Memories from the Haunted Ballroom (1999) e Theoretically Pure Anterograde Amnesia (2005), do segundo. Sem que possa examinar cada um destes álbuns e as diferenças entre eles, vale a pena, fazer o seu retrato a traço largo, enquanto exercícios sobre as nossas perturbações temporais.
Fisher compara a paisagem sonora de Burial a entrar num edifício dilapidado onde ainda são visíveis os vestígios de um delírio colectivo – «os fantasmas de raves passadas». Mas o vidro que estala debaixo dos pés é também o som de um qualquer, vago, futuro. Depois da tapeçaria de falsas memórias (ou «implantes mnemónicos») de Selected Memories, onde o passado tremeluzia atrás de um vidro fosco, a desfocagem operada por The Caretaker em Theoretically Pure cria um terreno mais desolado, mais áspero. Já não é vidro, sequer. É um espelho, talvez, mas distorcido ao ponto de não nos devolver a nossa imagem.
Para ouvir estes álbuns – para ouvir o nosso tempo – é preciso um modo de audição a que Fisher chamou «ouvir a dobrar» (hearing double): atender à materialidade do som enquanto medium, mais do que veículo de sentido. A figura – técnica e material (ou formal), mas também sensorial e conceptual – que cristaliza esta audição é o crackle: o crepitar do disco de vinil, mas passado pelo filtro sintético do sampling. A fonografia é uma escrita onde só vivem ecos. Para além de sublinhar a mediação material inerente à música gravada, o crepitar traduz a inevitabilidade da discronia, «torna-nos conscientes de que estamos a escutar um tempo que saiu dos seus eixos; que não nos permitirá cair na ilusão da presença.» Opõe-se, portanto, ao retro e ao pastiche, que saltam por cima do que nos separa do passado, do futuro, e de nós mesmos. A hantologia é o modo temporal de uma história feita de hiatos, acidentes, rasuras.
O já-não e o ainda-não são, parece evidente, duas negações – mas negações na forma de uma recusa de desistir. Escutar é a projecção espectral dessa recusa num espaço onde ela poderia, talvez, existir e ser outra. Se o for é a preposição de uma audição suspensa, o crackle é o ranger dessa inclinação. É que as nossas vidas são feitas daquilo que não é nosso ainda. O dentro delas é o desabrigo de uma varanda, exílio onde nos pomos à escuta. Os fantasmas arranham.
Obras citadas
Walter Benjamin, «Infância Berlinense: 1900» in Imagens de Pensamento, trad. João Barrento (Lisboa: Assírio & Alvim, 2004).
Mark Fisher, Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures (Winchester: Zero Books, 2014). [Edição portuguesa: Fantasmas da Minha Vida: Escritos sobre Depressão, Hantologia e Futuros Perdidos, trad. Vasco Gato (Lisboa: VS, 2021)]
*
Texto originalmente publicado no site do Teatro do Bairro Alto a propósito do programa de discurso Mariana Pinho & Carolina Borges Mark Fisher: Ghosts Of My Life: exercício sonoro.