Tomar balanço. 2024 e os livros que exigem ser lidos
1
A dada altura, Vladimir Maiakowski descobre o agradável: «Mandam-me buscar petróleo. Cinco rublos. Na loja devolvem-me catorze rublos e cinquenta kopeques: dez rublos de lucro líquido. Senti escrúpulos. Dou duas voltas pela loja. Quem teve o engano, o patrão ou o empregado? Interrogo o vendedor com muito jeitinho. É o patrão! Comprei e comi quatro pães com frutas cristalizadas. O resto serviu para andar de canoa nos lagos Patriarchi.» Este brevíssimo parágrafo, que traz como título «O Agradável», integra o texto «Eu Próprio – Autobiografia», redigido por Maiakowski em 1922 e posteriormente actualizado até 1928, e que serviu de prefácio à edição das suas Obras Completas. Mais do que uma autobiografia, com as suas convenções e formas estabelecidas e reconhecíveis, trata-se de uma espécie de resumo, quase um relatório, organizado por pequenos fragmentos que dão conta de episódios, descobertas, fulgurações, pontos num mapa que, no fim de contas, se desenha como resposta ao programa enunciado logo no primeiro dos fragmentos do texto, intitulado «O Tema»: «Sou poeta. Esse é o fulcro dos meus interesses. É disso que escrevo. Posso amar, posso ser jogador, e também apreciar as belezas do Cáucaso – mas apenas quando isso deixa um sedimento de palavras.»
No momento de fazer um balanço, como também, podemos hoje sabê-lo, para a experiência concreta da sua vida e da sua morte, a Maiakowski interessou menos a composição de uma personagem do que operar uma espécie de pulverização. A sequência dos fragmentos, que nivela deliberadamente eventos de naturezas muito diversas, do mundano ao inesquecível, do íntimo ao épico, faz-nos deduzir de cada um desses «sedimentos de palavras» uma totalidade frágil, um corpo em recombinação, que não é já o do poeta mas o da própria poesia. Se reconhecemos o poeta, de sachola em punho, a escavar e a revolver a sua vida, já não o vemos senão como um vulto, como se desaparecesse por detrás das palavras e das imagens que a sua escrita projecta. Essa espécie de dissolução da figura do poeta, só plenamente realizada no momento da leitura, é o que compõe a possibilidade poética. Se o poeta produz o poema, da leitura espera-se que se produza a poesia; se o poeta produz a obra, a leitura deve produzir um edifício em obras.
Ambos os movimentos, o da escrita e o da leitura, e as relações que desdobram, vivem da indeterminação de um ajuste infinito de escolhas. São momentos de uma subjectividade radical, mas que ao mesmo tempo se destacam de imediato de quem os opera, gerando um efeito, mais ou menos significativo, sobre o espaço onde as escolhas se manifestam, o texto, e que parece ser verdadeiramente o sujeito. Que o texto, esse «caminho transitável», como lhe chamava Maria Gabriela Llansol, seja o sujeito da literatura, precedendo e sobrevindo tanto à escrita quanto à leitura, é um fenómeno que, ainda no mesmo escrito, Maiakowski revela compreender, retirando consequências para si próprio, quando afirma: «Os poetas urram, mas não sabem fazer mais nada (…) Quanto a mim, as suas elucubrações líricas fazem-me rir. São tão simples de confeccionar, e tão pouco interessantes para quem quer que não seja a cara metade do autor.» Uma poética implicada como os efeitos que produz teria necessariamente, para Maiakowski, de obscurecer simultaneamente a figura do autor e do leitor fascinado com ela, mesmo quando o registo é autobiográfico, como se torna evidente no já citado primeiro fragmento e também no último: «Muitas pessoas diziam: ”A sua biografia não é muito séria”. Observação justa. Não estou ainda academizado, e não tenho o costume de usar, para comigo, de muitas amabilidades.»

2
Mais ou menos um século depois de Maiakowski, e com o espaço literário, ou, como se tornou mais habitual dizer-se, o sector do livro, colonizado pelos mecanismos do mercado, a ponderação mais comum sobre os efeitos da literatura é a que se determina pela contabilidade e o comércio. De tal modo que, enquanto o balanço de uma vida como o que fez Maiakowski procurava despoletar um mundo a partir de cada síntese, qualquer balanço de hoje, seja de um dia, de um mês, de um ano, propõe sintetizar o mundo através de uma espécie de razão algorítmica que engole de um lado o porco e cospe do outro um chouriço perfeito, óptimo, eficiente: os mais vendidos, os mais lidos, os mais citados, os mais partilhados, os mais escolhidos, os mais mais.
Como também sucede no outro colonialismo, porém, a dinâmica da colonização depende da relação entre dois pólos: a resistência do colonizado e a violência do colonizador. E é também inegável que só é possível imaginar o fim da dominação colonial por via da superação do segundo pólo pelo primeiro. Mantendo-nos na mesma imagem de violência, a tarefa do espaço literário seria então livrar-se da determinação mercantil, agindo intempestivamente a partir do seu interior contra a sua força hegemónica.
3
Numa intervenção em 2012, Giorgio Agamben dava «um conselho aos editores e a quem trabalha com livros: parem de olhar para as infames, sim, infames tabelas dos livros mais vendidos e, presume-se, mais lidos e tentem construir mentalmente uma lista dos livros que exigem ser lidos. Só uma editora que assentasse numa lista mental desse género poderia fazer sair o livro da crise que – tanto quanto ouço dizer repetidamente – está a atravessar». Esse mesmo raciocínio, quer no diagnóstico quer na prescrição, poderia ser aplicado às listas de preferências que se multiplicam, um pouco por todo o lado, no final de cada ano. Não que haja algum problema no gesto em si de organizar uma lista como forma de estruturar o pensamento e de apresentar uma proposta. Mas, justamente, porque as listas de preferências do ano a que nos fomos habituando se eximem de propor o que quer que seja, tornaram-se num fim em si mesmo que é depois mobilizado, pelos mais diversos agentes do sector do livro (e o mesmo se poderia dizer do sector do disco ou de qualquer artefacto cultural mediatizado), como elemento de propaganda, seja pela valorização da inclusão do seu livro na lista x ou y seja lamentando que o seu livro não tenha aparecido na lista w ou z. Subtraindo-se a qualquer exercício crítico, que teria necessariamente de estabelecer ligações entre os diversos livros listados no balanço de um ano, articuladas com uma narrativa sobre o tempo em que surgem, estas listas relegam para segundo plano o que poderia ser da ordem do espaço literário para colocarem em evidência, de um modo desgarrado e autocentrado, a própria lista enquanto objecto fechado e o seu autor ou o meio que a reproduz.
Ao contrário, o pequeno desvio que Agamben sugere contribui para um recentramento do debate a partir de uma outra noção de balanço, mais próxima do exercício de Maiakowski, ou seja, como movimento que acumula uma força que depois se lança em frente, que se desdobra por novas aberturas: um passo atrás, dois em frente, para convocar um outro velho conhecido. A exigência dos livros que exigem ser lidos é uma imposição que não se coloca apenas aos leitores; coloca-se, desde logo, à própria lista e ao modo como é constituída, uma vez que se exprime a partir de um lugar que não se limita aos gostos, interesses ou motivações tanto do autor da lista quanto dos leitores.
Um conjunto de livros que exigem ser lidos não traduzem apenas uma preferência nem uma tendência. Se a razão por que não foram ainda lidos, ou suficientemente lidos, pode ser procurada em cada um dos livros isoladamente – e haverá muitas, das contingências e equilíbrios do sector do livro ao grau maior ou menor de atrito que o próprio texto coloca –, a exigência de leitura que exprimem apura-se pelo conjunto como uma urgência. O reconhecimento dessa urgência é um processo complexo, desde logo porque implica que esses livros se relacionem de alguma forma com o que está fora de si, ao contrário do que sucede com uma lista de preferências. Ou seja, há qualquer coisa no mundo que legitima a exigência e torna latente a urgência. E é aí que reside tanto a força de uma lista dessa natureza quanto a sua fragilidade. Por um lado, a força de uma urgência que decorre da sua relação com o mundo; por outro, a fragilidade de não haver nenhum mundo que não seja um espaço de disputa permanente, tornando essa relação numa instabilidade infinita.
4
Por conseguinte, a constituição de uma lista de livros que exigem ser lidos terá necessariamente de se reconhecer frágil, incompleta e radicalmente contingente, bem como irredutível a espartilhos espaciais, temporais ou de género. Contrariamente, uma vez mais, a uma lista de preferências do tipo ‘Os melhores livros publicados em Portugal em 2024 na categoria ficção’, em que, precisamente, são esses espartilhos que dissimulam a sua pobreza. Na proposta de Agamben, que é dirigida a editores e outras pessoas que trabalham na área, é a pobreza dos livros que é colocada em primeiro plano, uma vez que deles não se espera que participem do processo de valorização próprio do mercado. O que lhes propõe é que não procurem no mercado a solução para a «crise dos livros», ou melhor, que não se deixem tomar pela falácia de que o problema dos livros é a crise do mercado. Em bom rigor, não é o mercado que está em crise, o mercado é a crise. Um editor que ignorasse as tabelas de vendas para fazer as suas escolhas editoriais estaria, desse modo, a afastar-se da crise.
Declarando e assumindo a pobreza, podemos arriscar um gesto nos termos propostos por Agamben e constituir uma pequena lista de livros publicados em 2024 que, ao mesmo tempo, busque inspiração no exercício de Maiakowski: em vez de pretender fixar um olhar sobre 2024 através dos livros publicados em Portugal ao longo do ano, uma tal lista deve tentar sublinhar os «sedimentos de palavras» que alguns deles puderam deixar. Mais do que para fazer um balanço, o reconhecimento da exigência de serem lidos servirá para tomarmos balanço para o que está por vir.
Partamos destes quatro:
- Pascal Quignard, Os Desarçonados, Cutelo, 2004 (2012), trad. Diogo Paiva;
- Andreia C. Faria, Canto do Aumento, Sr. Teste, 2024;
- Maria Lis (textos) e Ana Filipa Correia (fotografias), Enclave, Língua Morta, 2024;
- Maurice Blanchot, O Espaço Literário, Snob, 2024 (1955), trad. André Tavares Marçal.
São, por certo, livros que falam a partir de lugares, pressupostos e âmbitos muito diversos. O que neles podemos encontrar de comum diz sobretudo do tempo em que se mostram, do seu vazio. Como se o que os justifica fosse a circunstância de se encontrarem num enorme campo aberto, e não a sua fixação definitiva enquanto objectos orientados para a sua própria posteridade. São livros não academizados, para retomar ainda Maiakowski, não dependem da ilusão do futuro, e é isso que lhes permite coincidirem numa experiência concreta de leitura capaz de, eventualmente, gerar e propagar um eco.
***
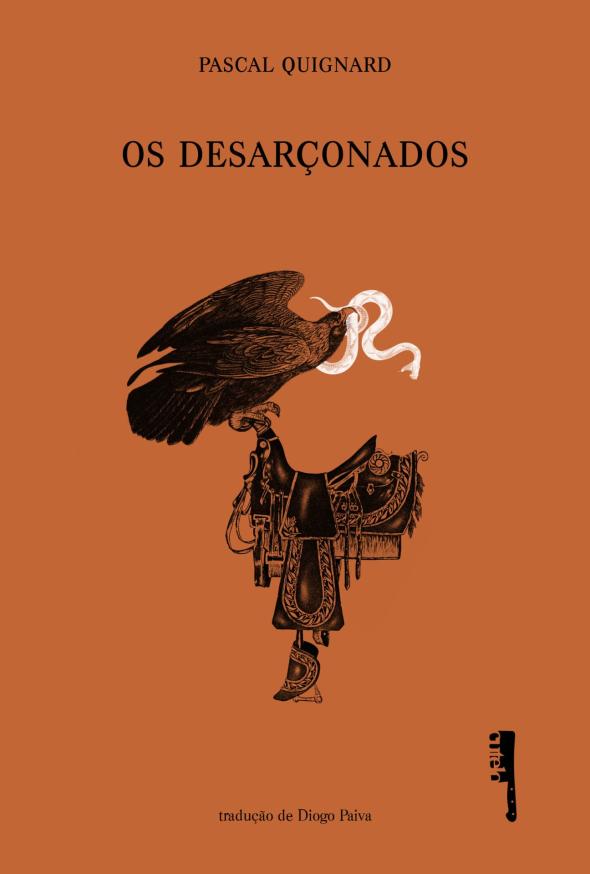
Se há alguma coisa que fica de 2024 é que não há nada de especificamente próprio de 2024. Nesse aspecto, 2024 é a mesma coisa que 2023 ou 2025. Pensamos nalgumas imagens fortes dos últimos meses do ano, autocarros a arder, um CEO morto, um CEO quase morto, territórios devastados, negros pobres assassinados pela polícia, imigrantes alinhados contra a parede, e constatamos que tudo isto compõe um cenário que se desancorou do tempo. Todo o real se desenrola num presente esmagador que impõe a indistinção de tudo, ainda que tudo se apresente como novidade. Mas se tudo é uma novidade, já nada é novo.
«O homem deve recuperar o imprevisível enquanto pátria.
O imprevisível, nada mais.
O imprevisível significa o tempo, a obscuridade, o jacto de esperma, o local originário, a terra, a luz solar, a beleza imprevisível da natureza, o fundo do céu que explode.
O Sem-ensaio.
Então, são os Imprevisíveis (mais do que os Fundamentais) o objecto da sua busca e da sua fome.»
(Os Desarçonados.)
***
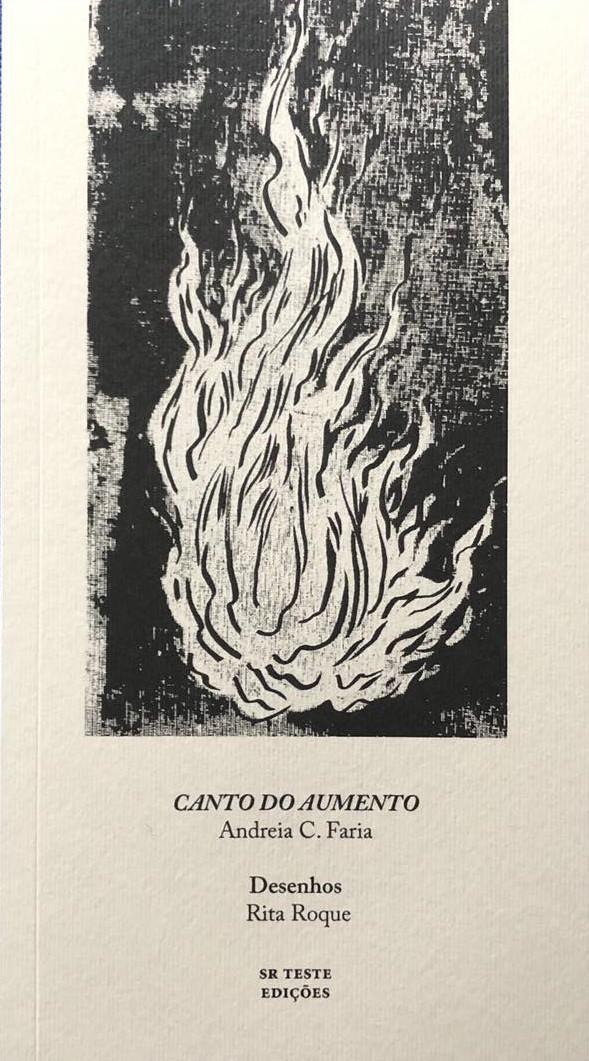
Mas se tudo é presente, já nada parece ser contemporâneo. Ou pelo menos já nenhuma experiência parece produzir uma ressonância de onde se parta, gestos que se reconhecessem e projectassem noutros gestos, que não se reconduzissem a uma imagem de si próprios. Mesmo a memória deixou de ser uma experiência capaz de nos tornar contemporâneos de nós próprios. Tudo passou a ser apenas como é.
«Os filhos dos pobres não sabem que são pobres. Suspeitam, têm medo de cair na miséria de que falam os seus pais, mas já nem os pais se lembram de como foi isso. Os filhos dos pobres fazem carreira numa dessas profissões reservadas aos filhos dos pobres que estudam, e em boa verdade nunca lhes faltou nada. Têm emprego, prémios de produtividade, acabaram de pagar o carro, vão de férias. Só a conjuntura, só essa esotérica conversa da conjuntura lhes provoca às vezes um grande cansaço misturado ao medo, uma imensa náusea pela vida que levam, pelas coisas que possuem, pelos milagres intercambiáveis da abundância e do extermínio, e então nesse momento acedem a um gesto de desprendimento, a uma recusa íntima, saem para a rua sem nenhum destino. Assim eu me vi a meio da vida desconhecendo a pobreza, desconfiando apenas, porque os meus pais, não tendo a imaginação de Job, nem se revoltaram nem me ensinaram a sofrer. A pobreza negada aos que nasciam com o fim da história, com o muro que caía, com os mercados, essa pobreza desinventada pelos nossos pais para que não sofrêssemos ressurge agora com a nostalgia da verdade oculta, nasce com os rios incontidos da memória, trazidos no ritmo do sangue desde uma aorta obscura, rios que não sei onde desaguam, rios que só misticamente posso situar.»
(Canto do Aumento.)
***
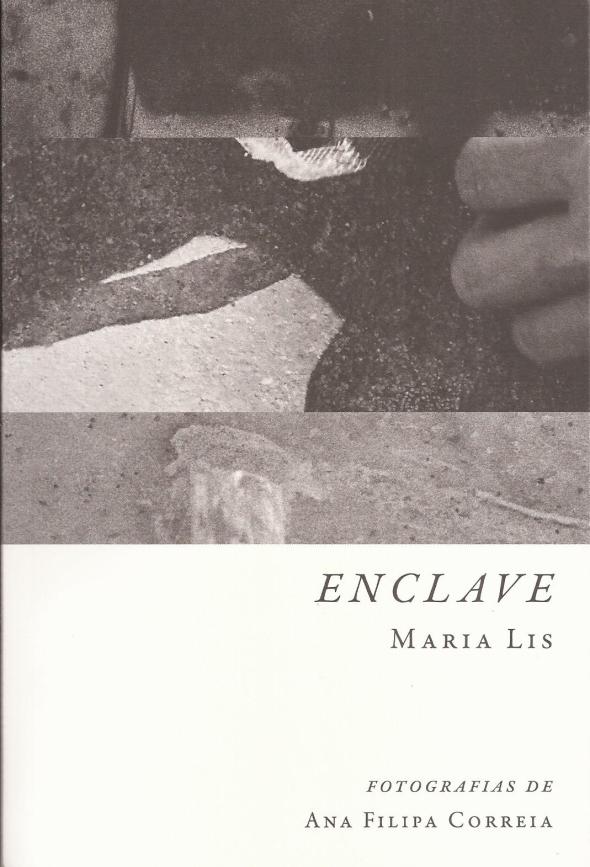
Não há lugar aonde se possa tentar regressar a não ser a infância, o único onde é tudo exterior. Tudo é o outro. O modo como uma criança se relaciona com o mundo, incluindo o seu corpo, é sempre da ordem da estranheza, o que implica um esforço de tradução da experiência para uma linguagem inexistente, do não-saber, do por dizer. É o lugar onde coincidem a criação com a recreação, a violência com o pasmo.
«Aprendemos a fala
confiando no entendimento.
Aprendemos como chamar frutos
instrumentos, verbos
respondemos ao nome que nos deram
todavia os nomes secretos
dos cabalistas e necromantes
com que seríamos chamados ao paraíso
gesto de retorno ao inexpresso
não os sabemos pronunciar
Quem são os adultos que inventam uma língua
secreta, própria
que se desembaraçam
dos nomes que lhes foram impostos?
Mas uma criança
bate à porta da aldeia dos magos
onde só se fala por gestos.»
(Enclave.)
***
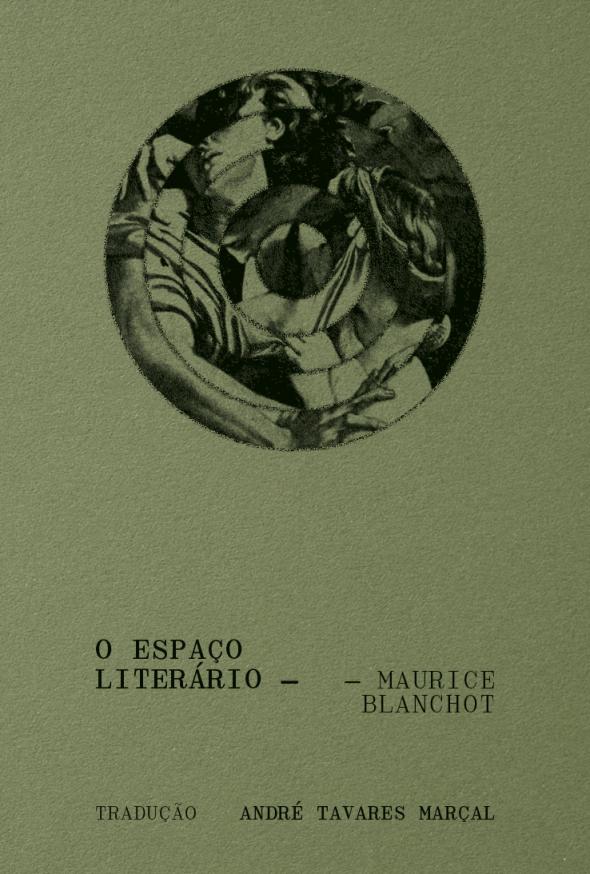
Haveria muito que aprender com os morcegos e os golfinhos e as suas técnicas de detecção de objectos e apuramento do espaço e do tempo. Privados de uma capacidade aguçada de visão, a escuta do eco que todo o movimento gera dá-lhes a medida da presença, da distância e da duração. Aprender a linguagem dos ecos poderia ser a primeira tarefa da poesia.
«O poema – a literatura – parece ligada a uma palavra que não pode interromper-se, porque ela não fala, ela é. O poema não é essa palavra, ele é começo, e ela mesma nunca começa, mas diz sempre de novo e recomeça sempre. No entanto, o poeta é aquele que ouviu essa palavra, que se fez seu intérprete, o mediador que lhe impôs silêncio ao pronunciá-la. Nela, o poema está próximo da origem, porque tudo aquilo que é original é à prova desta pura impotência do recomeço, desta prolixidade estéril, a superabundância daquilo que nada pode, daquilo que nunca é a obra, arruina a obra e nela restaura o desobramento sem fim [désœuvrement sans fin]. Talvez seja ela a fonte, mas fonte que de uma certa maneira tem de ser esgotada para se tornar recurso. Jamais o poeta, aquele que escreve, o “criador” poderia exprimir a obra a partir da inoperância essencial [désœuvrement essentiel]. Jamais, por si só, fazer brotar a pura palavra do começo a partir daquilo que está na origem. É por isso que a obra só é obra quando se torna a intimidade aberta de alguém que a escreve e de alguém que a lê, espaço violentamente desdobrado pela contestação mútua do poder de dizer e do poder de ouvir. E aquele que escreve é também aquele que “ouviu” o interminável e o incessante, que o ouviu enquanto fala, que se adentrou no seu entendimento, manteve-se na sua exigência, perdeu-se nela, e, ainda assim, por tê-la sustentado como sói, a fez cessar, e nessa intermitência a tornou apreensível, proferiu-a trazendo-a escudada para cá desse limite, e a dominou, medindo-a.»
(O Espaço Literário.)