Heroínas sem nome
Angola é um país cortado em dois, para usar uma expressão de Frantz Fanon no livro Peles Negras, Máscaras Brancas. A geografia social que se desenhou no pós-guerra separa e hierarquiza dois mundos diferentes, a fractura passa por uma realidade económica e social que mantém a maior parte da população na base da pirâmide social. Para tentar influenciar as políticas públicas e sair deste lugar, Teresa Domingos Morais da Huíla, a trabalhar numa ONG, diz É preciso ir à luta, batalhar pelos nossos direitos.
 Feira Preta, S.Paulo
Feira Preta, S.Paulo
O Livro da Paz da Mulher Angolana, as Heroínas sem Nome, é um livro de memórias, organizado pela angolana Dya Kassembe e a moçambicana Paulina Chiziane, ambas escritoras, e reúne em volume pequenas narrativas de mulheres angolanas que sobreviveram à guerra para contar as suas histórias. Resultado de um trabalho multidisciplinar, uma equipa de dezoito pessoas entrevistou mulheres em seis províncias do país- Bié, Cabinda, Huíla, Kwanza Sul, Luanda e Malanje - durante um ano, daí resultaram oitenta narrativas que dão voz a mulheres que pertenciam aos dois lados da guerra civil, sem identificar o lado da guerra ao qual as memórias pertencem.1
No processo de recolha destas biografias as entrevistadoras foram surpreendidas pelo facto de sempre as mulheres falarem primeiro da guerra quando o intuito do livro era falarem da paz. A ideia desta obra surgiu após a realização da Conferência Internacional “Mulher e Participação Política e Pública” em Outubro de 2006 em Luanda, quando as mulheres angolanas manifestaram a insatisfação pela sua limitada participação nos vários processos de paz em Angola. A iniciativa e financiamento do projecto foram assegurados pela APN (Ajuda Popular da Noruega), ONG responsável pela desminagem de uma parte do território nacional.
Esta equipa desenvolveu uma metodologia que Helena Zefanias identifica como os textos terem sido trabalhados individualmente com cada uma das co-autoras, na qualidade das histórias e nas técnicas de entrevista, o que indica que as narrativas foram co-construídas pelas entrevistadas e pelas entrevistadoras. Uma equipa heterogénea que incluía escritoras, professoras, jornalistas, artistas plásticas, empresárias, activistas dos direitos humanos e políticas desenvolveu este trabalho com a finalidade de contribuir para a construção da Paz em Angola. A manipulação ideológica das entrevistas foi feita para apresentar versões conciliadoras de memórias em conflito, sem culpabilizações e vitimizações deste ou daquele lado da guerra. Este projecto é nobre e inscreve na memória colectiva e na História de Angola, Heroínas sem Nome, actores periféricos cujas experiências de vida são quase sempre silenciados pelo discurso dominante da História. Não sem resistência como testemunham as palavras de uma guerrilheira que reconhece a sua contribuição no processo da construção da nação Eu entrei na mata quando era menina. Cresci. A força que eu ganhei ninguém a derruba. Eu vi a história. Eu participei na história. Eu fiz a história, agora, pertenço à história!
Eunice Inácio, Gestora do Programa de Paz e Cidadania, no Prefácio, alerta os leitores que esta obra não será uma fonte de prazer, pois traz vivências muito chocantes à dignidade humana mas certamente será uma oportunidade para conhecer um mundo bem real. A produção da memória é muito ambígua, resgatam-se do passado vivências, esquecem-se outras, na ilusão de que o discurso produzido dê sentido a experiências que foram reais mas que, na hora de narrar, filtradas pela subjectividade do presente, recriam ou reconstroem memórias do passado Vi maravilhas no tempo de guerra, coisas extraordinárias, inimagináveis, o rio Kwanza estava muito cheio e consegui atravessar a nado eu, que não sei nadar. Não sei como esse milagre aconteceu, recorda uma guerrilheira.
Sem banalizar ou esteticizar a experiência da guerra, este livro permite muitas leituras. Cada uma das entrevistadas traz para esta obra uma história pessoal, única. Histórias que têm de ser lidas nas entrelinhas dos não-ditos. São muitas as que estão carregadas de sofrimento: Sou filha da guerra. Nasci no capim. Aqui me chamam Cangila, nome que dão a todos os que nascem no caminho ou no céu coberto de pólvora. Meu pai morreu na tropa e depois a minha mãe, fiquei órfã. A outra coisa que me dói é a mina que me tirou a perna, mulher mutilada parece que perde nome de mulher, fica só a mutilada. Não foram só as minas a serem utilizados como armas de guerra, o sequestro, o estupro foram outros recursos usados pelas tecnologias da guerra, Naquele tempo os mais velhos andavam a apanhar raparigas de 10 até aos 20 anos para carregar armamento e servir a eles como mulher, conta uma das entrevistadas que não quer mais recordar o tempo em que punham as meninas numa fila e as obrigavam a cantar Vamos ou não vamos? Vamos. Caminha ou não caminha? Caminha. Se sair fora da fila, apanha porrete ou não apanha? Apanha. A prostituição, outro dos recursos de coação nas guerras terá levado ao vício do sexo das meninas daqui. Nós éramos usadas muito mal, nem dá para falar.
 'Heroínas', de Benjamin SábbyOutras histórias revelam, pelo contrário, como algumas mulheres superaram a dor, um dia fui raptada e levada para as matas, depois amei outro homem, que me deu outro filho. Eu sofria ao pensar nos filhos que tinha deixado do outro lado. Por causa dessa dor eu cantava baixinho e a mágoa desaparecia e me sentia bem por algum tempo. Cantava cantigas que inventava e outras que tinha ouvido na minha infância, sem me aperceber que as pessoas que me rodeavam também gostavam de me ouvir cantar. Começaram então a pedir-me: canta. Canta! Nesse ambiente eu descobri o poder da minha voz. Posso até dizer que foi a guerra que me fez cantora. Cantar é bom. Acho mesmo que foi o canto que me fez resistir. A resiliência e a criatividade desta mulher, inventando uma nova vida do outro lado da guerra e reinventando-se como cantora, questiona perspectivas universalistas de categorias como ‘vítimas’ e outros estereótipos sobre o papel das mulheres na guerra. Assim como a história descrita pela presidente de uma Associação de Viúvas e Órfãos que, em caso de ataque, desenvolveu a seguinte estratégia: dançávamos, cantávamos alto, como forma de resistência, provando o amor pela vida fiquei para sempre com esta voz rouca, por causa de tantos gritos, da pólvora e da poeira dos entulhos. Por isso uma “mais velha” acha que a mulher angolana é rija como o pau-preto, pau-ferro, resiste a tudo, à violência, ao sofrimento. Opinião que uma técnica de saúde subscreve, Trabalho na casa mortuária, as tradições e os tabus dizem que as mulheres não têm coragem, só choram diante dos mortos. Pois isso não é verdade. Como também não é verdade que as mulheres não possam ir ao mar, segundo uma senhora natural do Mussulo diz – Sou pescadora e conheço os perigos do mar.
'Heroínas', de Benjamin SábbyOutras histórias revelam, pelo contrário, como algumas mulheres superaram a dor, um dia fui raptada e levada para as matas, depois amei outro homem, que me deu outro filho. Eu sofria ao pensar nos filhos que tinha deixado do outro lado. Por causa dessa dor eu cantava baixinho e a mágoa desaparecia e me sentia bem por algum tempo. Cantava cantigas que inventava e outras que tinha ouvido na minha infância, sem me aperceber que as pessoas que me rodeavam também gostavam de me ouvir cantar. Começaram então a pedir-me: canta. Canta! Nesse ambiente eu descobri o poder da minha voz. Posso até dizer que foi a guerra que me fez cantora. Cantar é bom. Acho mesmo que foi o canto que me fez resistir. A resiliência e a criatividade desta mulher, inventando uma nova vida do outro lado da guerra e reinventando-se como cantora, questiona perspectivas universalistas de categorias como ‘vítimas’ e outros estereótipos sobre o papel das mulheres na guerra. Assim como a história descrita pela presidente de uma Associação de Viúvas e Órfãos que, em caso de ataque, desenvolveu a seguinte estratégia: dançávamos, cantávamos alto, como forma de resistência, provando o amor pela vida fiquei para sempre com esta voz rouca, por causa de tantos gritos, da pólvora e da poeira dos entulhos. Por isso uma “mais velha” acha que a mulher angolana é rija como o pau-preto, pau-ferro, resiste a tudo, à violência, ao sofrimento. Opinião que uma técnica de saúde subscreve, Trabalho na casa mortuária, as tradições e os tabus dizem que as mulheres não têm coragem, só choram diante dos mortos. Pois isso não é verdade. Como também não é verdade que as mulheres não possam ir ao mar, segundo uma senhora natural do Mussulo diz – Sou pescadora e conheço os perigos do mar.
Esta obra está cheia de soluções criativas para resistir e sobreviver à guerra, histórias de mulheres emancipadas, Chamam-me Maria sabe tudo só porque consegui defender os meus direitos e ir contra a tradição que permitia que os bens das viúvas fossem saqueados pela família do marido, conta uma destas Heroínas. Outra, casada com um homem muito mais velho, resolveu arranjar um segundo marido mais novo, protegendo sempre o mais velho – Vivi assim, debaixo do mesmo tecto, com dois maridos.
Muitas Heroínas recusam o discurso da vitimização e a guerra parece ter sido uma oportunidade, sobretudo para as combatentes - durante a vida militar não sofri nenhuma discriminação da parte dos homens, militares como eu, nem dos superiores ou subalternos. Graças ao meu empenho e à minha coragem demonstrada em combates, ganhei o curso de comunicação em Luanda. Agora tenho um cargo de direcção. As feministas, pelo contrário, acusam as estruturas militares. A discriminação existe em todo o lado, mas é no exército que se faz sentir com maior intensidade. O mundo das armas foi sempre o santuário dos homens. Eles defendem-no. Até parece que têm medo que as mulheres penetrem. Outras recordam com nostalgia o tempo da guerra, A vida nas matas era dura, mas as pessoas eram mais humanas e a solidariedade era maior. Nas negociações de paz, quando registaram os desmobilizados escreveram apenas os homens nos disseram que fomos incluídas nos grupos sociais das mulheres vulneráveis. Sinto-me magoada, traída.
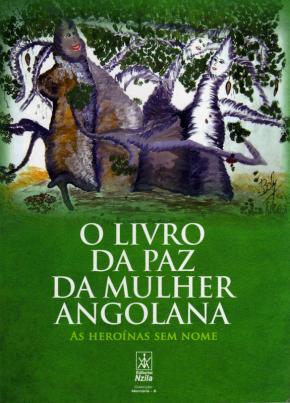 Na ausência de estruturas do poder tradicional, sobados de mulheres têm assumido a liderança de comunidades rurais, respeitando a memória e os antigos ao mesmo tempo que preparam uma nova liderança, adaptada à modernidade. Uma soba de 58 anos diz – Soba não tem partido, o que conta aqui é a linhagem, o espírito que se encarnou, que representa o nosso passado e todos os antigos. Nós sobas falamos a língua dos espíritos mas a vida nova exige outros conhecimentos. Por isso a minha adjunta tem que ir à escola aprender coisas novas, para daqui a dez anos ser uma soba doutora, para poder falar também na língua dos livros. Outras mulheres encontram na economia e finanças do mercado informal soluções criativas para saírem da pobreza, como o caso da estudante universitária que se tornou kinguila para pagar o curso de Direito.
Na ausência de estruturas do poder tradicional, sobados de mulheres têm assumido a liderança de comunidades rurais, respeitando a memória e os antigos ao mesmo tempo que preparam uma nova liderança, adaptada à modernidade. Uma soba de 58 anos diz – Soba não tem partido, o que conta aqui é a linhagem, o espírito que se encarnou, que representa o nosso passado e todos os antigos. Nós sobas falamos a língua dos espíritos mas a vida nova exige outros conhecimentos. Por isso a minha adjunta tem que ir à escola aprender coisas novas, para daqui a dez anos ser uma soba doutora, para poder falar também na língua dos livros. Outras mulheres encontram na economia e finanças do mercado informal soluções criativas para saírem da pobreza, como o caso da estudante universitária que se tornou kinguila para pagar o curso de Direito.
Há muitas outras histórias como a das broas da Tia Minga que alimentaram Malange, a da menina Nhyaneka que fugiu de casa para estudar e se transformou numa atleta internacional, Kimbandas que curam o stress pós-traumático, uma parteira “tradicional” que conseguiu construir um hospital com 45 camas, mas também há muitas mulheres a queixarem-se de violência doméstica, de não conhecerem os seus direitos, de não receberem pensão como viúvas de guerra, de não terem escolas, de não saberem lidar com as perdas, com as doenças e a pedir ajuda, As pessoas andam ainda perturbadas, a paz ainda não entrou bem dentro delas. Precisamos ainda de tratamento de médicos, de psicólogos, de assistentes sociais…
Este livro fala da guerra, do desespero e da desilusão das sobreviventes, mas também do amor à vida debaixo de um céu coberto de pólvora. Esta obra, ao dar voz a estas Heroínas sem Nome, mostra as mulheres angolanas como uma forte e criativa comunidade unida por um sofrimento partilhado. Nenhuma destas narrativas individuais pode ser desligada da triste narrativa colectiva que tem sido a construção da nação. Uma obra inspiradora contra o esquecimento que ilumina uma comunidade de mulheres sobreviventes a lutar pela paz sim, mas sobretudo pela paz social, por uma cidadania mais igualitária, por uma maior virtude cívica, por mais oportunidades, por uma renovação social, utilizando as armas da emancipação feminina, do empreendedorismo, do associativismo, do empoderamento e da solidariedade. Estas mulheres, através das suas práticas e dos seus discursos, dizem que não aceitam ser secundarizadas nessa grande narrativa colectiva que é a construção da nação. Nesta óptica, este livro de memórias é um livro político.
O Livro da Paz da mulher angolana,
As heroínas sem nome
Dya Kassembe e Paulina Chiziane
Editorial Nzila, Luanda 2009
- 1. As entrevistadoras são angolanas, pessoas de “dentro”, que tiveram experiências de guerra muito desiguais. Amália Matongueiro declara “Para mim o sofrimento de guerra era uma coisa distante”. Enquanto Balbina Martins da Silva reconhece que “os trabalhos foram uma oportunidade para as entrevistadas fazerem a sua terapia de guerra”. Maria Stela Costa confessa que descobriu talentos que não sabia que os tinha. “Aprendi a apreciar outras culturas, ou seja, o conhecimento e respeito pela diversidade cultural das diferentes comunidades que integram as “fronteiras” partilhadas de Angola”. Enquanto Paulina Chiziane, a escritora moçambicana comenta: “Quando me convidaram para participar deste trabalho, pensava que trazia algo comigo mas, vejo que levo daqui muito mais do que eu poderia trazer. Com esta experiência encontrei soluções criativas para superar dificuldades.” Estas declarações mostram que a interacção e a empatia que se estabeleceu entre entrevistadoras e entrevistadas durante o ‘trabalho de campo’ terão influenciado simultaneamente ambos os grupos que construíram esta obra.