Entrevista a Mark McKinney
Entrevista de Pedro Moura a Mark McKinney, a propósito do seu livro The Colonial Heritage of French Comics (Liverpool University Press)1
Pedro Moura - Pensamos não estar muito errados se dissermos que os dois textos principais históricos que estuda neste livro são a obra de Saint-Ogan e algumas das aventuras dos Les Pieds Nickelés de Louis Forton. Porém, trabalha também muito material de banda desenhada histórico (pré-1962) e algumas produções contemporâneas. As suas escolhas são muito pertinentes e produtivas, mas poderia explicar-nos o que o levou a estas opções?
 Mark McKinney, The Colonial Heritage of French Comics, capa.Mark McKinney - Tem razão. No que diz respeito às exposições coloniais e às expedições transafricanas, tentei ser exaustivo e encontrar todos os exemplos destes temas que conseguisse na banda desenhada, desde os próprios acontecimentos até ao presente. Percebo que excluí de certeza alguns exemplos (inclusive coisas que descobrir depois de ter terminado o livro), mas o meu objectivo era um retrato o mais completo possível. O facto das séries Zig et Puce e Les Pieds Nickelés incluírem representações de ambos os acontecimentos foi extremamente útil, uma vez que me permitiria explorar a representação desses acontecimentos em bandas desenhadas criadas por autores que se encontravam na direita política e na esquerda anarquista, quer dizer, de ambos os extremos do espectro político na banda desenhada mais ou menos convencional. Há diferenças significativas entre as duas séries. Por exemplo, a forma como Forton representa o colonialismo em relação a ambos os acontecimentos constitui uma paródia foliona, anarquista, ao passo que as representações de Saint-Ogan, em última instância, justificam o domínio colonial e a missão civilizadora. Além disso, os episódios de Saint-Ogan são mais fiéis aos acontecimentos, nalguns aspectos (o episódio relativo à Exposição Colonial passa-se na sua maioria no espaço da exposição, enquanto que o equivalente de Forton passa-se na área dos espectáculos paralelos; e Zig, Puce et Furette é uma publicidade a um novo veículo, como no caso do Crosière Noire, da Citroën, enquanto que os Pieds Nickelés vão a África para substituir o Ministro das Colónias francês, o qual - na ficção - não tinha muita vontade de fazer a viagem ele-mesmo e fica muito contente por alguém tomar o lugar dele). Por outro lado, há semelhanças entre as duas séries, também: por exemplo, ambos são colonialistas (mesmos os Pieds Nickelés ocupam o lugar da administração colonial francesa para que possam explorar mais os africanos), e em ambas as séries a representação principal do Crosière Noire de 1924-25 tem lugar depois da representação da Exposição Colonial de 1931, sugerindo que o acontecimento posterior estimulou interesse sobre o anterior, sem dúvida, pelo menos em parte, graças à exposição sobre o Crosière Noire integrada na Exposição Colonial de Paris em 1931.
Mark McKinney, The Colonial Heritage of French Comics, capa.Mark McKinney - Tem razão. No que diz respeito às exposições coloniais e às expedições transafricanas, tentei ser exaustivo e encontrar todos os exemplos destes temas que conseguisse na banda desenhada, desde os próprios acontecimentos até ao presente. Percebo que excluí de certeza alguns exemplos (inclusive coisas que descobrir depois de ter terminado o livro), mas o meu objectivo era um retrato o mais completo possível. O facto das séries Zig et Puce e Les Pieds Nickelés incluírem representações de ambos os acontecimentos foi extremamente útil, uma vez que me permitiria explorar a representação desses acontecimentos em bandas desenhadas criadas por autores que se encontravam na direita política e na esquerda anarquista, quer dizer, de ambos os extremos do espectro político na banda desenhada mais ou menos convencional. Há diferenças significativas entre as duas séries. Por exemplo, a forma como Forton representa o colonialismo em relação a ambos os acontecimentos constitui uma paródia foliona, anarquista, ao passo que as representações de Saint-Ogan, em última instância, justificam o domínio colonial e a missão civilizadora. Além disso, os episódios de Saint-Ogan são mais fiéis aos acontecimentos, nalguns aspectos (o episódio relativo à Exposição Colonial passa-se na sua maioria no espaço da exposição, enquanto que o equivalente de Forton passa-se na área dos espectáculos paralelos; e Zig, Puce et Furette é uma publicidade a um novo veículo, como no caso do Crosière Noire, da Citroën, enquanto que os Pieds Nickelés vão a África para substituir o Ministro das Colónias francês, o qual - na ficção - não tinha muita vontade de fazer a viagem ele-mesmo e fica muito contente por alguém tomar o lugar dele). Por outro lado, há semelhanças entre as duas séries, também: por exemplo, ambos são colonialistas (mesmos os Pieds Nickelés ocupam o lugar da administração colonial francesa para que possam explorar mais os africanos), e em ambas as séries a representação principal do Crosière Noire de 1924-25 tem lugar depois da representação da Exposição Colonial de 1931, sugerindo que o acontecimento posterior estimulou interesse sobre o anterior, sem dúvida, pelo menos em parte, graças à exposição sobre o Crosière Noire integrada na Exposição Colonial de Paris em 1931.
PM - A sua análise de Saint-Ogan emprega muito material e fontes, e diversas, integrando a sua obra de banda desenhada, significativamente, na participação activa do autor na propaganda colonialista do seu tempo. Você discute Hergé com a mesma intensidade, e explicita as razões para isso na Introdução (página 19): “um autor [de um estudo sobre este mesmo tópico em relação a Hergé, com a dimensão de um livro profusamente documentado] não teria acesso aos arquivos de Hergé em Bruxelas”. Saint-Ogan, apesar do seu aparente papel na origem da linguagem moderna da banda desenhada francófona, é pouco estudado em contraste com Hergé, e essa é também uma das razões pelas quais você se dedicou a ele. Houve algum momento da sua pesquisa em que gostaria de ter incluído Hergé da mesma maneira? Esses obstáculos ao acesso que mencionam fazem parte da sua experiência pessoal?
MM - Há várias razões pelas quais pus de lado o trabalho de Hergé, com algumas excepções: 1. A impossibilidade virtual em ter acesso a material de arquivo fulcral sobe Hergé, como você menciona - tenho a certeza absoluta que me seria recusado o acesso a esses arquivos controlados pelos detentores dos seus direitos (Fanny e Nick Rodwell), sobretudo tendo em conta o meu tópico e perspectiva; pelo contrário, tive um acesso livre e facilitado aos blocos de notas de Saint-Ogan no CNBDI [agora Citébd de Angoulême], cujos arquivistas foram sempre extremamente apoiantes. 2. A obra de Saint-Ogan foi imensamente popular e influente nas décadas anteriores, especialmente durante o período interbélico (anos 1920 e 1930), e influenciou sobremaneira Hergé (como demonstrou Thierry Groensteen), mas é comparativamente muito menos estudada do que a obra de Hergé. 3. O trabalho de Saint-Ogan, como o de Hergé, foi muito importante para a canonização crítica da banda desenhada em França, sobretudo da banda desenhada francesa, processo em curso nas últimas quatro décadas, pelo menos. 4. Queria concentrar-me sobretudo no contexto francês (por isso, mais atenção ao francês Saint-Ogan do que ao belga Hergé), não só por ser aquilo que conheço melhor mas porque acredito que focarmo-nos num enquadramento nacional proporcionaria um maior coerência ao meu trabalho, que tem uma componente histórica forte - a história colonial francesa relaciona-se mas é distinta da história colonial belga. Gostaria de ter incluído mais sobre isso, sobretudo as ligações entre a banda desenhada de Hergé e o Crosière Noire e as (belgas?) exposições coloniais. Isso reforçaria a dimensão comparatista do meu livro, que é algo limitada: as ligações entre as bandas desenhadas francesa e belga e os seus contextos.
 Hergé, Tintin au Congo.
Hergé, Tintin au Congo.
PM - A obra de Hergé tem estado vezes sem conta no coração de discussões pós-colonialistas, como por exemplo no caso recente da decisão do tribunal belga em relação ao processo de Bievenu Mbutu Mondondon. Gostaria de dizer algo sobre este assunto?
MM - Quer a série Tintin quer Zig et Puce estão pejadas de cenas de racismo colonial e antisemita. O busílis está em saber o que se deve fazer com essas obras. Eu estou em crer que a coisa mais acertada seria estudá-las de uma forma crítica, e utilizá-las para ensinarmos os outros, sobretudo os mais jovens, sobre o passado e a sua representação na banda desenhada. Quer Tintin no Congo quer A Estrela Misteriosa deveriam conter introduções fortemente críticas e independentes que analisassem como é que esses títulos são racistas e não diminuem a responsabilidade do artista em propagar essas perspectivas repreensíveis, como é usualmente feito pelos muitos hagiógrafos de Hergé. Todos os lucros passados e presentes da venda desses títulos deveriam ser agregados e submetidos a um fundo especial, como uma forma de reparação representacional: o fundo poderia ser administrado independentemente (deveria ser totalmente independente dos herdeiros dos direitos ou dos apologistas de Hergé) e ser empregue para a educação das crianças sobre as relações entre racismo colonial, anti-semitismo e banda desenhada. É óbvio que não há hipótese nenhuma de ver estas coisas a acontecerem num futuro próximo, mas é importante trabalhar para que se alterem os termos do discurso, como têm feito pessoas como Maxime Benoît-Jeannin em relação a Hergé. Na esteira de Benoît-Jeannin e Joël Kotek (o seu capítulo em Les grands mythes de l’histoire de Belgique, de Flandre et de Wallonie), eu também tenho escrito noutros locais sobre a dimensão mítica nacional do culto a Hergé na Bélgica (“Georges Remi’s legacy: between half-hidden history, modern myth and mass marketing”, in International Journal of Comic Art, vol. 9, no. 2, Fall 2007, pp. 68–80).
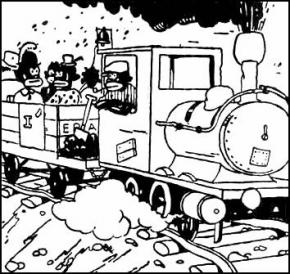 Hergé, Tintin au Congo.PM - Um dos problemas da maioria das defesas imediatas destes “clássicos” é dizer que “eram obras do seu tempo”, mas quase sempre isso é dito na ignorância: ninguém se importa em saber se existiriam contra-narrativas ou não, posições e lutas políticas diferentes - a sua nota sobre a contra-exposição de 1931 organizada pelos Surrealistas e Comunistas, publicações como Le cri indigène, Le paria, etc. mostram que não havia uma única história singular - ou, pior, em realmente querer compreender o Outro, e portanto perpetua-se os mesmos princípios retrógrados (se não for ainda pior, uma vez que é feito nos nossos dias, claro). Os estudos académicos da banda desenhada são importantes, mas penso que sabemos todos que apenas se atinge um público limitado. Você também discute a necessidade de abrir estas discussões. Acha que termos mais artistas a trabalhar sobres estes temas, no seio da banda desenhada (sobretudo Sfar, que chegará a um público mais alargado que Alagbé, talvez) é dos passos mais importantes?
Hergé, Tintin au Congo.PM - Um dos problemas da maioria das defesas imediatas destes “clássicos” é dizer que “eram obras do seu tempo”, mas quase sempre isso é dito na ignorância: ninguém se importa em saber se existiriam contra-narrativas ou não, posições e lutas políticas diferentes - a sua nota sobre a contra-exposição de 1931 organizada pelos Surrealistas e Comunistas, publicações como Le cri indigène, Le paria, etc. mostram que não havia uma única história singular - ou, pior, em realmente querer compreender o Outro, e portanto perpetua-se os mesmos princípios retrógrados (se não for ainda pior, uma vez que é feito nos nossos dias, claro). Os estudos académicos da banda desenhada são importantes, mas penso que sabemos todos que apenas se atinge um público limitado. Você também discute a necessidade de abrir estas discussões. Acha que termos mais artistas a trabalhar sobres estes temas, no seio da banda desenhada (sobretudo Sfar, que chegará a um público mais alargado que Alagbé, talvez) é dos passos mais importantes?
MM - Estou completamente farto dessa defesa hagiográfica da “banda desenhada clássica” e dos seus “grandes autores” que você menciona (“é simplesmente uma obra do seu tempo”, “o autor tinha boas intenções”, “ele não tem culpa da sua obra, é antes da responsabilidade de outros” [i.e., o abade Wallez], etc.), sobretudo quando nos apercebemos que estes artistas estavam simplesmente a continuar a retrabalhar as mesmas perspectivas racistas nas suas bandas desenhadas ao longo de décadas, enquanto gerações de activistas e pessoas vulgares criticavam o colonialismo e o anti-semitismo, e no momento em que a Shoah e os crimes do colonialismo europeu estavam a ser perpetrados e eram documentados em todo o seu horror. Por exemplo, Hugo Frey é muito convincente na análise que faz sobre o anti-semitismo que atravessa Vôo 714 para Sydney, no seu capítulo para um livro que editei (History and Politics in French-Language Comics and Graphic Novels, University Press of Mississippi, 2008, 2011). Saint-Ogan fez a mesma coisa na série Zig et Puce. O trabalho anti-anticolonial de Saint-Ogan - o seu trabalho contra os anti-colonialistas - em Le coup de patte demonstra o facto de que os artistas franceses estavam perfeitamente cientes das críticas anti-coloniais feitas pelos Surrealistas e Comunistas em relação à Exposição Colonial de 1931, ao mesmo tempo que ela tinha lugar. A sua reacção imediata foi ridicularizar a crítica anti-colonialista numa publicação que era, a um só tempo, colonialista e anti-semita. Claro que uma das minhas frustrações nas publicações académicas é que as mais das vezes ela chega apenas um público muito reduzido. Isto torna-se ainda mais complicado pelo facto de que a minha investigação dedicada à banda desenhada francesa foi publicada em inglês e em países anglófonos, por isso é inacessível a muitas das pessoas com um envolvimento directo com essa mesma história: francófonos em França e outros lugares. Eu espero vir a publicar uma tradução francesa dos meus livros, numa versão mais popular, num futuro próximo. E claro, conferências, entrevistas, resenhas e discussões na internet e em revistas podem ajudar a combater o racismo na e em torno da banda desenhada, tal como a desmistificar e desmitificar os artistas e as obras de banda desenhada. Claro que certamente os artistas de banda desenhada podem providenciar críticas ao colonialismo e ao racismo na banda desenhada muito mais acessíveis, tal como Sfar o faz em Le paradis terrestre, o quinto volume da série O gato do rabi, com a sua paródia a Tintin no Congo. Mas a banda desenhada de Sfar - sobretudo essa série - também ajuda a construir e a perpetuar representações da alteridade (pós)colonial problemática, mesmo quando conseguem criticar convincentemente outros aspectos da história e ideologia coloniais. O trabalho de Alagbé é menos conhecido, devido precisamente em parte à natureza radical da sua crítica ao colonialismo, mas também porque as suas bandas desenhadas são mais experimentais e menos convencionais do que aquelas de Sfar. A posição de Alagbé é, portanto, corajosa, mas com o seu preço. Fico alegre por ver que ele acabou de publicar uma nova edição na Frémok do seu Les nègres jaunes.
PM - É incrível como algumas das situações nestas bandas desenhadas são provas acabadas de que os estereótipos racistas não são, digamos, equivalentes dependendo de quem faz o quê. Dadas as dinâmicas do poder ao longo da história e a uma hierarquia valorativa que ainda está presente, a prática do blackface não equivale de forma alguma a do whiteface. Por isso, na banda desenhada histórica, humorística e dirigida às crianças, quando temos os protagonistas a vestirem-se ou disfarçarem-se de africanos negros, quase sempre são capazes de enganar os africanos verdadeiros, pois os primeiros são espertos e os segundos ingénuos, mas sempre que um africano negro usa vestes europeias, a atenção é posta nos erros (não usam sapatos, etc.). Acha que a presença contínua destas imagens na banda desenhada, e noutros locais, contribui significativamente para um olhar distorcido sobre o outro, sobretudo os africanos negros?
MM - Sim, seguramente: essas representações são o produto de ideologias e discursos rcaistas e coloniais, quer visuais quer textuais. Os estereótipos coloniais negativos franceses dos évolué coarctavam os esforços dos colonizados em abraçarem a chamada missão civilizadora (na verdade, um pretexto colonialista europeu para exploar os colonizados) na literalidade das suas promessas. Vestir-se como os franceses e, mais genericamente, adaptar as suas normas culturais nunca foi suficiente para que se fosse aceite pelos colonizadores, como pensadores anti-coloniais como Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs) e Albert Memmi (Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur) persuasivamente expuseram. E como Patricia Morton demonstra em Hybrid Modernities, os actores colonizados que trabalharam nos dioramas humanos da Exposição Colonial Internacional de Paris, em 1931, não estavam autorizados a vestirem-se com roupas ocidentais como o faziam em casa, com algumas poucas excepções, mas faziam-no de um modo incompleto, como uma espécie de transvestismo que era criado para mostrar como estas pessoas ainda não estavam totalmente civilizadas e por isso deveriam manter-se no seu estatuto colonizado. Por isso, nesse sentido, não é nada surpreendente encontrar representações semelhantes em bandas desenhadas dessa época. O que não devemos deixar de ter em conta, porém, é que também existiam críticas a essas mesmas representações nessa mesma altura, e que elas nem sempre partiam da esquerda: um exemplo muito conhecido é a crítica feita na publicação oriunda da direita política, Candide, sobre a manipulação dos Kanaks da Nova Caledónia, que foram trazidos para Paris durante a Exposição para fazerem o papel de canibais, de maneira a angariarem fundos para uma associação de colonizadores franceses. Na banda desenhada francesa da era colonial, e em algumas produções depois de 1962, os artistas ridicularizam os (antigos) colonizados quer através do blackface quer do whiteface, que produziam a estética colonial do grotesco. A contínua publicação dessas obras, muitas vezes consideradas clássicas, continua a ter um impacto nos leitores europeus dos nossos dias, incluindo as minorias pós-coloniais que encontram nelas algumas relíquias horrendas do passado, mas infelizmente elas são muito raramente contextualizadas e analisadas.
PM - Não há muitos, se é que há algum, exemplos de banda desenhada que apresentem contra-narrativas anti-racistas e anti-colonialistas, no interior do período histórico antigo que você analisou. Acha que isto se deve ao facto de que a banda desenhada era considerada, sobretudo, se não exclusivamente, como um meio para crianças, portanto desprovidas de qualquer conteúdo político (num sentido de críticas conscientes, uma vez que qualquer reivindicação de se ser apolítico apenas reforça uma certa ideologia hegemónica)? Isto de uma maneira que as mudanças que vemos ocorrerem nos discursos da banda desenhada contemporânea são também um sinal das mudanças das possibilidades expressivas, políticas e estéticas da banda desenhada enquanto meio?
MM - Sim, o facto da banda desenhada durante essa época ser dirigida sobretudo a crianças é factor explicativo de porque é que há tão pouca banda desenhada anti-racista e anti-colonialista antes dos anos 1980 na França e na Bélgica. Não estou ainda seguro o suficiente para pode excluir com toda a certeza a possibilidade de que possam existir alguns trabalhos, que não conheçamos, uma vez que há ainda muito que fazer no que diz respeito à recuperação da história do meio. Havia cartoons anti-coloniais, claro, inclusive alguns que criticavam a Exposição Colonial de 1931. Como vocês diz, vemos uma oferta bem mais alargada de expressão política e estética no meio da banda desenhada da França dos nossos dias, inclusive bandas desenhadas por artistas franco-argelinos como Farid Boudjellal, ou a revista, entretanto terminada, Le cheval sans tête, editada por Alagbé e Olivier Marboeuf. Estas são mudanças fantásticas no campo da banda desenhada. Também vemos, finalmente, banda desenhada criada por mulheres de minorias étnicas pós-coloniais em França, como exemplo, Leïla Leïz, Marguerite Abouet e Zeina Abirached. Isto também ajuda substancialmente à mudança das ideias do que é possível fazer hoje com a banda desenhada em França.
PM - O seu foco principal é a banda desenhada que diz respeito à negociação cultural com as colónias francesas subsaharianas, mas sabemos que os seus interesses também abarcam artistas franco-argelinos contemporâneos, como Boudjellal ou Ferrandez, por exemplo. Tem algum outro projecto que se possa dedicar a outras áreas/capítulos da história colonial francesa?
MM - Já escrevi outro volume, na verdade, intitulado Redrawing French Empire in Comics, que será publicado pela Ohio State University Press em Junho de 2013, numa nova série sobre banda desenhada e cartoons. O tema desse livro são as representações da Algéria e da Indochina enquanto entidades coloniais francesas na banda desenhada francesa. E há ainda muito trabalho por ser feito, mas é encorajador ver novos investigadores, como Michelle Bumatay (da UCLA, Califórnia) e Catriona MacLeod (que terminou o seu doutoramento com a orientação de Laurence Grove na Universidade de Glasgow), a produzirem excelentes trabalhos neste campo.
 Joseph-Porphyre Pinchon, Aux colonies, Suivez le guide, 1931.
Joseph-Porphyre Pinchon, Aux colonies, Suivez le guide, 1931.
PM - Que tipo de trabalhos gostaria de ver num futuro próximo, ou que tipo de investigação pensa ser necessária no que diz respeito à investigação académica que junte os estudos pós-coloniais e a banda desenhada?
MM - Há uma massa de pesquisa imensa que ainda falta fazer, que diz respeito à intersecção do (pós-)colonialismo e a banda desenhada em França. Na verdade, estamos somente no princípio, por isso o campo está ainda por explorar. Na minha perspectiva, alguns dos mais interessantes trabalhos adviriam do estudo da banda desenhada produzida na Europa contrastando com a produção de (antigas) colónias europeias, como Nancy Rose Hunt fez num capítulo de um livro de ensaios: (2002) “Tintin and the interruptions of Congolese comics”, in Paul S. Landau e Deborah D. Kaspin, eds., Images and Empires: Visuality in Colonial and Postcolonial Africa, Berkeley: U of California P, pp. 90–123. Também gostaria de ver mais pontes que colmatassem a falha entre a necessária teorização do meio enquanto tal (muitas vezes feito em termos abstractos e formais) e a influência da estética e política colonial sobre a banda desenhada (no meu livro, por exemplo, discuto a noção do grotesco colonial). Ann Miller fez um trabalho excelente sobre este mesmo tópico, por exemplo, na sua análise do aventureiro colonial, desde Tintin ao presente, no seu (2004) “Les héritiers d’Hergé: the figure of the aventurier in a postcolonial context”, in Yvette Rocheron e Christopher Rolfe, eds., Shifting Frontiers of France and Francophonie, New York: Peter Lang, pp. 307–23.
texto publicado no Blog: lerbd
- 1. Foi feito um ligeiro trabalho de edição de texto em relação ao material original.