“Dina” (1964), de Luís Bernardo Honwana: retrato de machamba colonizada em lenta combustão
1. Já muito (e bem) se escreveu sobre o livro de contos de Luís Bernardo Honwana, Nós Matámos o Cão-Tinhoso, publicado em 1964, e que em 1969 tinha já uma tradução em inglês, sob o título We Killed Mangy-Dog & Other Mozambique Stories. No ano de 2024, em que se celebraram os 60 anos da sua publicação, com reedição do livro pela editora Maldoror, o autor e a obra foram objeto de dignas e merecidas evocações, algumas vindas a lume no jornal Público: “Olhos azuis com lágrimas: o cão-tinhoso ainda vive 60 anos depois de publicado”, de António Rodrigues; “A vila do cão-tinhoso em toda a parte do mundo”, de João-Manuel Neves e “Aquele conto faz parte dos meus dias e noites de infância”, de Ondjaki (cf. infra Bibl.). Nessa linha de celebração – e porque Nós Matámos o Cão-Tinhoso foi uma obra nuclear no meu encontro com as literaturas africanas em língua portuguesa – registo algumas notas de leitura do que considero ser uma pérola da contística moçambicana: o conto “Dina”.
Todos os contos do livro evidenciam, sublinhe-se, a mestria na arte de narrar do jovem Honwana, pois em todas as estórias o autor consegue representar uma atmosfera de violência, o racismo, a repressão colonial, sem recorrer a lugares comuns, a dicotomias simplistas ou a uma retórica de teor panfletário. Há, na quase globalidade das estórias, um inesperado desfasamento entre conteúdos de grande violência e o modo, ou forma, como são plasmados. Na leitura destas narrativas – e, sobretudo de “Dina” – um leitor familiarizado com a prosa de Hemingway não deixará de pensar no célebre conto “The Killers”. Pois, se algo impressiona de imediato os leitores do volume Nós Matámos o Cão-Tinhoso “é a (quase) ausência de uma atitude judicativa, de interpretação, ou de parcialidade por parte dos narradores, de que decorre uma indeterminação de sentido que resiste a qualquer fechamento e que alimenta uma pluralidade de leituras.
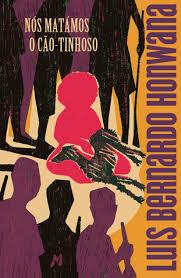
Dos sete contos que constituem o livro (autónomos, mas dialogando entre si), quer criadores quer ensaistas têm privilegiado os contos “As Mãos dos Pretos” e “Nós Matámos o Cão-Tinhoso”. O recurso, em seis dos sete contos, a vozes (narrador) e a pontos de vista (perspetiva) infantis e juvenis, coerentemente articulados com um estilo despojado, oralizante, marcado pela ingenuidade e naturalidade, criam um efeito de atração e de estranheza que se estende até aos nossos dias. Outra fonte de sedução, que aumentou com a passagem dos anos, é a dimensão visual, quase cinematográfica, conjugada na perfeição com a oralidade e com belos filamentos de lirismo.
De todas as estórias é, sem dúvida, o conto com título homónimo “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” o que mais debate tem suscitado. A par da sua dimensão iniciática e da eficiente técnica de mostração ou showing (em diálogos de extraordinária vivacidade) de uma sociedade patriarcal e machista, marcada estruturalmente pela violência, há a criação de uma personagem que não pára de nos “perseguir”: o enigmático cão de enormes olhos azuis. Sobre este cão se teceram diversas teorias, suscitando mesmo leituras polarizadas, que só vingam ao deixarem na penumbra certas zonas textuais. Ora é identificado com o colonizador, ora com o colonizado/assimilado (embora haja leituras que matizam esta dicotomia, como no ensaio de Cláudia Pazos-Alonso, 2007). Como “entender” o cão vadio, doente, escorraçado, mas cujo olhar (humanizado) a todos perturba, adultos e crianças? Todos, exceto Isaura, uma menina estigmatizada pelo grupo (“a maluquinha”), e que cuida do cão, assumindo-se como sua protetora. Bastaria esta faceta da história (o amor incondicional da jovem marginalizada) para justificar a atualidade deste conto, pois produtiva poderá ser uma leitura da estória em chave eco-feminista. Outro elemento de perturbação é, sem dúvida, o fácil acesso dos jovens às armas dos pais. O que quero dizer é que se este e outros contos se prestam ao estudo de traços de moçambicanidade (veja-se, sobre o assunto, o ensaio de João Ferreira, 1985) e da dimensão fundacional deste livro na história da jovem literatura moçambicana, eles adquirem também um valor universal, que fazem deles contos clássicos no contexto da literatura mundial. Isso mesmo foi pertinentemente relevado pela poeta Ana Paula Tavares no seu recente testemunho: “a atemporalidade dos personagens, que, representando diferentes formas de injustiça, podem ser lidos ainda hoje como histórias de desassossego de minorias as mais das vezes silenciadas na violência do quotidiano” (apud Rodrigues, Público 2024 ).
2. O conto “Dina” é, a meu ver, um exemplo dessa universalidade, no recorte amplificado de um mundo de exploração laboral, de quase escravidão, que poderia localizar-se em qualquer parte do globo em período colonial, mas também no mundo contemporâneo. Honwana recorre aqui a um narrador omnisciente e à focalização externa para a representação, de forma crua e direta, de um microcosmos rural (a machamba) de violência intensa e generalizada: violência verbal, psicológica, física, sexual. Uma violência disseminada e estrutural que vem do passado (admirável mise en abyme no engaste do nano-conto sobre Pitarrosi e a mulher) e que sugere continuidade no futuro. A violência e a opressão manifestam-se desde o início da narrativa no cenário infernal do trabalho desumanizado, na inclemência do sol, no sofrimento silencioso de um velho, atinge o auge na hora do almoço (na violação de Maria), mas avança ainda, sem decrescer, até uma explosão, no espancamento brutal (e morte?) de um jovem trabalhador, para depois se atenuar no retorno ao trabalho (e à cena inicial), em obediência às ordens do capataz – e também às palavras firmes de Djimo. No fim, já nada é o mesmo; algo indefinível está em movimento e o leitor pode continuar a história como melhor lhe aprouver.
Estamos perante um conto dramático breve, um drama em três atos, com forças destrutivas endógenas, onde não há lugar para catarse ou redenção. O autor faz uso de uma invulgar economia e concentração de meios – de tempo, de espaço, de personagens, de acção, de léxico – para encenar uma estória densa e intensa que expõe a ação destrutiva do colonialismo: a expoliação das terras dos nativos e a exploração do seu trabalho em espaços (quase) carcerários; uma organização paramilitar do campo de trabalho – veja-se a subdivisão dos grupos de trabalhadores e a descrição do capataz branco sempre em voz de comando e de ameaça (“a brancura esverdeada das calças do capataz”; “Continuem assim que eu desanco-vos o lombo” (p. 61); o exílio na própria terra, simbolizado no acampamento; o desmoronamento de formas de vida local, as fracturas na comunidade e na família; a fome ou a escassez de comida; a doença; o alcoolismo; o abuso sexual das mulheres, que as condena à prostituição e a maior pobreza. O sujeito colonizado é coisificado, sendo assimilado à terra que trabalha: “– Eh rapazes […] Maleísse! Elias! Alberto… Os homens do Desbravamento?… Desbravamento, ala! Acabar com a mata do lado do rio… Horta! Embora Horta! Morte aos bichos das couves! Curral! Grupo do Curral, levar o gado a beber!…” (pp. 75-76).
A escrita do conto é enxuta, concisa, depurada de abstrações e de adjetivação. A abertura ilustra bem o gosto pelas imagens concretas: para lá das badaladas de um sino, o tempo é medido pelas gotas de súor que caem do corpo de Madala. Ou pela deslocação do sol e das sombras. A doença do velho, por sua vez, nunca é nomeada (é referida por “fios” e “nós”); sabemos que é visceral (os rins, os intestinos), mas é dada a ver do exterior nas contorções do corpo que sofre. Dir-se-ia que o escritor aprendeu algumas lições com Ernest Hemingway e, aqui e além, “Dina” parece mesmo sugerir ao leitor ligações (invertidas) com uma das mais conhecidas obras do escritor norte-americano, O Velho e O Mar (que termina com o velho pescador triunfante a sonhar com leões – enquanto Madala sonha com o mar).
Não há intervenções do narrador, não há juízos de valor, nem mesmo no momento de alta tensão em que o leitor-espectador vislumbra ou entrevê a violação da jovem Maria, ou quando esta, desamparada e frágil (fragilidade ampliada pelo gaguejar da estrangeira língua portuguesa) abraça o próprio corpo: “Maria abraçou-se mais apertadamente e, cravando as unhas nas costas, choramingou” (p. 74); “Madala é minha pai!…” (id.).
3. Ainda que diferente em muitos aspetos de “A Terceira Margem do Rio”, o desenlace deste conto de Honwana tem algo em comum com o conto de Guimarães Rosa: a atitude do velho é indecifrável, um enigma a suscitar leituras e posições diversas. É certo que há inúmeros sinais que apontam para a passividade e capitulação de Madala: a imagem do negro curvado no início e no fim da história, a sugerir subjugação, o mutismo, a ausência de reação perante a violação da filha, a aceitação do copo de vinho oferecido pelo agressor da jovem, a impassibilidade (aparente) perante o desprezo dos jovens…. Mas esta seria uma leitura simplista, demasiado fácil, não consentânea com as nuances do conto, com o peso dos olhares e dos silêncios – e Honwana explora habilmente estes modos de comunicação, aquém e além das palavras, do logos. A posição curvada do velho pode ser lida literalmente, devida ao efeito do trabalho repetitivo, à idade e à doença – vedada aos companheiros, mas não ao leitor. Só este último testemunha os espasmos de dor lancinante que o atiram ao chão: “Com um suspiro deixou-se tombar sobre o ombro direito e enrodilhou-se no chão, apertando o queixo aos joelhos.” (p. 61)
As narrativas de Honwana contêm sinais de tensão e de contradição que obrigam a reler e a escutar outros sussurros. Poder-se-á ler o conto em chave bíblica e a atitude de Madala como um gesto sacrificial de poupança de vida de inocentes; os nomes Madala e Maria convidam a isso, bem como a evocação (parodística) da eucaristia na pausa para o almoço (“dina”, i.e., ceia). Madala é humilhado, desonrado (por duas vezes), repudiado pelos jovens que antes o respeitavam (o jovem do curral chega a cuspir-lhe) e permanece imperturbável, remetendo-se a um mutismo exasperante para todos os que o rodeiam.
Mas também é possível uma leitura secular, terrena – mais em sintonia com o subtexto político do texto – vendo no gesto de “sacrifício” um sinal da sabedoria dos mais velhos. Não será decerto o medo que inibe Madala de agir; no momento de revelação da relação familiar entre Madala e Maria é, aliás, o capataz que mostra medo e que, suplicante e submisso, aguarda ansioso a reação do velho. Sabe que a sua vida depende dele e, por instantes, a linguagem do silêncio inverte a relação de dominação:
“O silêncio parecia desesperar o capataz. Gaguejando um gesto amistoso explodiu: - Merda!… Como é que eu havia de saber? […] – Merda! – rugiu o capataz, cheio de terror. – Madala… Eu dou-te algum dinheiro e tu vais com a tua filha para as cantinas… – O capataz espiava ansiosamente qualquer vestígio de animação na expressão velada de Madala” (p. 75).
Por sua vez, os jovens aguardam as ordens de Madala, o mais-velho, que a todos inspira(va) respeito, em conformidade com ancilares tradições; dominado pela ira, o jovem do curral pede, em nome de todos: “Madala […] Fala e nós acabaremos já com isto tudo… Eles podem matar-nos mas nós não temos medo de morrer…” (p. 73). Nem Madala. A sua morte é uma morte anunciada – sabemos desde o início que está muito doente. O seu silêncio e inação não podem explicar-se pelo instinto de sobrevivência (como no caso do conto “A Velhota”) – embora ele esteja lá. Madala não é um vivo-morto, nem destituído de emoções; a linguagem corporal é bem expressiva e denega a frase “o íntimo de Madala estava adormecido” (p. 73). A Djimo, o jovem mais próximo, não escapa o soluço que aquele procura abafar aquando da violação da filha: “Não chores, Madala” (p. 71). Na fisionomia do velho as expressões também variam: de tristeza, de dureza, de (aparente) alheamento. Mas, em vários momentos (como se fosse um refrão), Madala aperta e esmaga entre os dedos uma planta “imaginária” e “invisível”, ritual este de auto-controle e de domínio das emoções que encontramos em Nick Adams e noutras personagens similares de Ernest Hemingway (nas suas estórias, é inesquecível o ritual da lenta preparação do café).
Madala poderia chefiar a revolta dos jovens – bastar-lhe-iam palavras de incitamento –, mas a eventual morte do capataz branco (ou a sua punição) não se faria sem mais baixas do lado dos jovens; a morte desse branco (inominado) não seria mais do que uma avaria numa engrenagem que o ultrapassa e de fácil reparação. A reforçar esta leitura estão os últimos parágrafos do conto, quando Madala recomeça a arrancar as ervas daninhas da machamba e relança o olhar (paternal?) pelos jovens, individualizados:
“Alongou a vista por entre os pés de milho até distinguir o vulto do Djimo. O Filimone. O n´Guinana, o Muthakati, o Tandane e o Muthambi também estavam perto, Madala conseguia vê-los. Com um suspiro rouco retomou o trabalho.
Por sob os seus estranhos peixes, a superfície do mar verde era percorrida por uma brisa suave. A ligeira ondulação que lhe era imprimida desfazia-se, avançava e voltava a desfazer-se, murmurando o segredo dos búzios.” (p. 77; itálico meu).
À superfície, a brisa que Madala evoca é suave, mas não sabemos o que acontece em profundidade. Nem a machamba é propriamente o mar, nem a suave ondulação (na costa moçambicana ou noutro lugar do mundo) é constante e previsível. À imagem do velho de Hemingway, várias vezes vencido, Madala espera e tem esperança (saberá ele o segredo dos búzios?). As linhas oníricas do final do conto mostram que a sua imaginação e a capacidade de sonhar continuam intatas.
A meu ver, Madala, anti-herói (cujo nome, como muitos outros invisíveis, não figura na História), sabe, melhor do que os jovens da machamba, que a aniquilação do colonialismo – e do seu legado – não é consentânea com reações intempestivas de violência geradas por emoções ao rubro e desejos de vingança. A história de Moçambique parece dar algum fundamento a esta “leitura”, pois só as forças organizadas de resistência ao opressor puseram fim a séculos de colonização portuguesa – mas não a outras formas de colonização e de opressão.
BIBLIOGRAFIA:
Hemingway, Ernest (1994), The old man and the sea, Random House.
Honwana, Luís Bernardo (1964), Nós Matámos o Cão Tinhoso (1964), 4ª ed., Porto, Afrontamento.
––––- (2024), Nós Matámos o Cão Tinhoso, Editora Maldoror.
Pazos-Alonso, Claudia (2007), “The Wind of Change in Nós Matámos o Cão-Tinhoso”
ellipsis 5, pp. 1-19, in https://apsa.us/ellipsis/5/alonso.pdf
Ferreira, João (1985) “O traço moçambicano na narrativa de Luís Bernardo Honwana” in Littératures africaines de langue portugaise, J.-M. Massa & Manuel Ferreira (org.)
Paris, Centre Culturel Portugais Calouste Gulbenkian, pp.367-376.
Rodrigues, António (2024), in https://www.publico.pt/2024/03/21/culturaipsilon/noticia/olhos-azuis-lagrimas-caotinhoso-vive-60-anos-2081609
Tavares, Ana Paula (2007), in António Rodrigues, Público.