Cinema Silencioso
Estou a fazer uma pós-graduação em Cinema Documentário na Fundação Getúlio Vargas, sob a coordenação do professor Eduardo Escorel, referência importante do cinema brasileiro, montador e colaborador assíduo de realizadores como Glauber Rocha, Eduardo Coutinho ou João Moreira Salles. Quando olho para a longa lista de filmes (perto de 80) que vimos durante estes primeiros meses, congratulo-me pela riqueza e pertinência do debate que o cinema sobre o real suscita. Se a definição do género documentário envolve até hoje dúvidas sobre à questão da “autenticidade” e os limites da representação, em era de fakenews e de overdose de imagens (sob pena de se cair num certo estado acrítico) mais do que discutir essas fronteiras, julgo que interessa pensar o acesso aos meios de produção, e a visibilidade que o documentário pode conferir ou não a certos segmentos da população tendencialmente excluídos desse debate.
Emocionámo-nos com a música de “Turbilhão” do cineasta húngaro Péter Forgács, vendo as imagens de festas e jantares de uma família judia antes de chegar ao campo de concentração, e também nos espantámos com a crueza das descrições dos funcionários nazis em “Shoah”. Vimos curtas-metragens baseadas em gestos de soldados na guerra ou em quadros de pintores famosos, entrevistas em Copacabana sobre as expectativas da classe média… e imagens dos trabalhadores saindo de fábricas como a Volskwagen em 1975, com que o cineasta alemão Harun Farocki dialoga com a primeira projeção dos irmãos Lumière… mas os meus olhos ficaram presos no fascínio das imagens do Cinema Silencioso brasileiro.
 As curas espirituais do professor Mozart (1924)
As curas espirituais do professor Mozart (1924)
Assim chamado ao cinema produzido no período que vai desde o final do século XIX até meados dos anos 1920, julgo que, às tantas, se confunde com um determinado projeto de Brasil, e vale a pena indagar de que forma ele ecoa no presente.
Flávia Costa, colaboradora da Folha de São Paulo, pesquisadora na área de história e semiótica dos meios audiovisuais, diz que “quanto mais os historiadores se afundam na história do cinema, na tentativa de desenterrar o primeiro ancestral mais eles são remetidos para trás, até os mitos e ritos dos primórdios. Qualquer marco cronológico, que eles possam eleger como inaugural será sempre arbitrário, pois o desejo e a procura do cinema são tão velhos quanto a civilização de que somos filhos.” Os cientistas que se dedicam ao estudo da cultura pré-histórica não têm dúvidas que os nossos antepassados iam às cavernas para fazer e assistir a sessões de cinema: muitas das imagens encontradas nas paredes de Altamira ou Lascaux foram gravadas em relevo, e os seus sulcos foram pintados com cores variadas. À medida que o observador se locomove nas trevas da caverna, a luz obscurece e ilumina parte dos desenhos, revelando o movimento das figuras. A pesquisadora chama a atenção para o facto de que, além das máquinas e processos que constituem a história oficial do cinema, há uma coleção interminável de bricabraques e geringonças caseiras, destinadas a projetar artesanalmente imagens em movimento ao longo dos séculos. Se o primeiro cinema reunia várias modalidades de espetáculos, derivadas das formas populares de cultura, como o circo, o carnaval, a pantomima, ou a lanterna mágica, ele formava também “um outro mundo paralelo ao da cultura oficial, um mundo de cinismo, obscenidades, grossuras e ambiguidades, onde não cabia qualquer escrúpulo de elevação espiritual abstrata.”
A Botelho Film
Ora, se pensarmos no contexto cultural do Rio de Janeiro do início do século XX, vemos que esse carácter mais popular do cinema - distração que reúne operários e prostitutas em armazéns onde se come e bebe - começa a ser questionado nos anos 20 pelas revistas especializadas como a Cinearte de Adhemar Gonzaga ou a Selecta de Pedro Lima. Na “Campanha pelo Cinema Brasileiro”, levada a cabo entre 1924 e 1930, estes críticos tentam implantar o respeito dos exibidores pelos filmes nacionais, censurando as propagandas ou reportagens feitas sobretudo por imigrantes que, no seu entender, veiculavam imagens negativas do país. As imagens do Brasil teriam de corresponder à modernização, urbanização, juventude e riqueza, evitando o típico, o exótico e sobretudo a pobreza e a presença de negros. As salas de cinema, localizadas em bairros nobres, deveriam ser extensões desse mesmo projeto, ao atestar o grau de desenvolvimento e civilidade dos seus frequentadores. Se esta campanha pretende lançar as bases para um novo cinema de enredo, hollywoodiano, ela não foi no entanto acompanhada, como aconteceu nos EUA, de uma vontade de capitalização do novo médium e de um investimento massivo por parte do Estado, mas antes pela vontade de uma elite em definir um imaginário “elevado” contra aquilo que seria visto como “exotismo”, que seria esse cinema das “atualidades” e de cavação (filmes encomendados por fazendeiros, empresários, etc.) que mostrava a paisagem do interior do país e a realidade da sua população mais pobre.
A prática da cavação estimulava assim a realização de naturais, atualidades e cinejornais, na tentativa de financiar as ficções. Em 1924, “falta de capital” era a resposta do cinegrafista Alberto Botelho ao ser questionado pelo crítico Pedro Lima sobre o motivo de não realizar filmes de enredo há quatro anos.
Alberto havia fundado com o irmão Paulino a Botelho Film, produtora de cinema com laboratório na Rua do Resende à Lapa, e fazia parte desse pessoal em atividade com filmagens de futebol, carnaval, festas, estradas, inaugurações, fábricas, políticos, empresários… que eram exibidas semanalmente na abertura das sessões de cinema.
Quando vi estas imagens na aula, elas pareciam devolver-nos uma espécie de magia, explicada talvez pelo conceito de “fotogenia” que Jean Epstein elaborou nessa época. Como por exemplo o filme As Curas Espirituais do Professor Mozart (1924), quando Alberto Botelho mandou vários operadores de câmara à Estação do Recreio, na divisa com o Estado, para filmar as curas milagrosas que um médium realiza na linha do trem, a pacientes que sofrem todo tipo de maleitas como “Tabes Dorsalis”, “encosto”, paralisia parcial, ou “obsessão”. Vemos várias características do cinema de “atualidades”, como seja o destaque dado às “personalidades ilustres” como Nóbrega da Cunha, Secretário da Sociedade Brasileira de Estudos Psíquicos, ou a ênfase no jantar de homenagem ao professor que acontece em seguida no hotel. Também o carácter “pomposo” aparece quando a certa altura o grupo posa para a câmara, deixando os doentes de lado. No entanto, a despeito deste carácter ilustrativo, constantes panorâmicas dão a ver o entorno, e uma espontaneidade irrompe nas ruas de terra onde esses doentes estão abrigados em barraquinhas, ou quando uma família cigana se senta a conversar no chão, fruto da autêntica novidade que é à época filmar no exterior. Os joelhos tremendo e os braços no ar, periclitantes, em cima da linha do trem. Fico a pensar em como são potentes estes corpos, que atravessam a tela até ao século XXI com as suas queixas e dores, como um inconsciente coletivo dos mortos no mundo dos vivos. Nessa mediunidade escorraçada da Europa pela igreja e pela República, mas que se desenvolve extraordinariamente no Brasil nas casas espíritas, em terreiros de Umbanda, e múltiplas possessões.
 Copacabana, nos anos 20. Do arquivo familiar de Paulino Botelho
Copacabana, nos anos 20. Do arquivo familiar de Paulino Botelho
Retomada
Graças ao projeto Resgate do Cinema Silencioso, financiado pela Caixa Econômica Federal, a Cinemateca brasileira ganhou uma coleção digitalizada de vários destes filmes.
Em Passeio Público (2016), feito a partir das sobras do filme A Cidade do Rio de Janeiro e outros de Alberto Botelho, a professora Andréa França inspirou-se neste conceito da fotogenia de Jean Epstein para falar no sentido latente das imagens. Mais do que assinalar a recuperação da memória do Cinema Silencioso, ela aponta as suas lacunas e camadas de ausência: apenas 7 por cento dessa produção sobreviveu até aos dias de hoje, devido aos incêndios regulares dos arquivos privados e da Cinemateca Brasileira… Assim, ela constrói um imaginário a partir de fotografias, narração em off, e contrapontos sonoros, para falar de um filme de Botelho que mostrava a demolição do Morro do Castelo, e que se perdeu.
O Morro do Castelo foi um dos pontos de fundação da cidade no século XVI, e abrigou marcos históricos de grande importância, como fortalezas coloniais e os edifícios dos jesuítas. Apesar disso, foi destruído totalmente numa reforma urbanística em 1922, pelo então prefeito Carlos Sampaio, com o argumento de ser um espaço proletário, composto de velhos casarões e cortiços, no centro da cidade, necessário para a montagem da Exposição Internacional do Centenário da Independência.
Reza a lenda que haveria um tesouro nas entranhas do Morro, deixado pelos jesuítas quando foram expulsos pela corte portuguesa. Nas suas crónicas sobre a demolição, o escritor Lima Barreto descreve um mapa das galerias subterrâneas que aí existiam, onde se esconderiam as pedras preciosas, várias estátuas em ouro maciço, seis castiçais grandes e um crucifixo.
Epstein aponta que o cinema instaura uma quarta dimensão, a partir dos procedimentos de aceleração e lentidão, ao permitir jogos com a perspetiva temporal, tornando visível o invisível. Vemos essa proposta em Passeio Público, quando olhamos para as imagens ao ralenti, e são-nos revelados os trabalhadores da cidade que puxam carroça na estrada e cuidam dos jardins públicos…
Essa “retomada” faz do trabalhador pobre “um fantasma que atravessa a membrana da imagem para nos assediar no presente.” Quem sabe estes trabalhadores não eram moradores do Morro do Castelo, que foram forçados a mudar-se para a periferia…
Outra camada de ausência está no próprio gesto que acompanha o percurso do filme: A Cidade do Rio de Janeiro, tal como indicam os letreiros escritos em italiano, foi oferecido de presente ao príncipe Umberto di Savoia de Itália, que visitou o Brasil em 1924. Por razões imprevistas, o príncipe ficou impedido de conhecer o Rio de Janeiro, e Alberto Botelho, que integrava a comitiva da visita, oferece mais tarde a película ao nobre para cobrir essa falta. O filme teria sido recuperado pelo diretor da cinemateca, e trazido para o Brasil nos anos 70.
É este gesto de experimentação a partir do tempo presente, que complexifica o debate em torno das imagens das “atualidades” dos irmãos Botelho. Mais do que ao cinema de arquivo, este debate diz respeito à própria natureza da imagem, e aos seus usos políticos. “Que escolhas e implicações estão em jogo nesse gesto?” pergunta-nos a professora Andréa, enquanto o ar condicionado pinga no meio da sala.
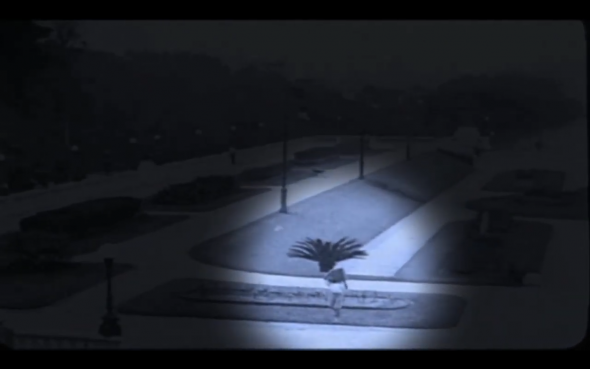 trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro em 'Passeio Público' de Andrea França e Nicholas Andueza
trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro em 'Passeio Público' de Andrea França e Nicholas Andueza