“A ‘teoria’ não são só palavras numa página, mas também coisas que se fazem”, entrevista com Nick Mirzoeff
 Nicholas Mirzoeff, foto MTL+Em pleno debate em torno da memória do colonialismo, desencadeado pelo discurso proferido pelo Presidente da República português em Gorée no passado mês de Abril, que expôs a persistência da colonialidade na sociedade portuguesa, entrevistámos Nicholas Mirzoeff, professor no Department of Media, Culture and Communication da New York University, que está em Lisboa para dar um seminário, Decolonizing Media, no âmbito do Doutoramento em Estudos Artísticos - Arte e Mediações na FCSH-UNL.
Nicholas Mirzoeff, foto MTL+Em pleno debate em torno da memória do colonialismo, desencadeado pelo discurso proferido pelo Presidente da República português em Gorée no passado mês de Abril, que expôs a persistência da colonialidade na sociedade portuguesa, entrevistámos Nicholas Mirzoeff, professor no Department of Media, Culture and Communication da New York University, que está em Lisboa para dar um seminário, Decolonizing Media, no âmbito do Doutoramento em Estudos Artísticos - Arte e Mediações na FCSH-UNL.
Nicholas Mirzoeff define-se como um “ativista visual que trabalha na intersecção entre a política e a cultura visual global/digital,” e, de facto, traz o seu conhecimento académico (e empático) para fora do meio universitário ao envolver-se com movimentos como Occupy Wall Street e Black Lives Matter.
Um dos fundadores da Cultura Visual, as suas publicações – clássicos já – incluem Introduction to Visual Culture (1999/2009) e The Visual Culture Reader (1998/2012). Tem diversos outros livros publicados, mas The Right to Look: A Counterhistory of Visuality (2011) é um ponto de viragem na sua obra. Neste livro, Mirzoeff desenvolve uma genealogia da “visualidade”, aqui entendida como “prática discursiva”. Tanto assim é que, agora, de cada vez que o conceito é usado, tem de ser colocado entre aspas (ou então definido). Depois deste trabalho aprofundado, Mirzoeff parece ter sentido o ímpeto de compreender um mundo em permanente mudança, no qual a imagem tem um papel crucial, e publicou How To See The World: An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More (2015), uma obra que alcança um público mais vasto, na melhor tradição de John Berger.
Ao mesmo tempo, desenvolveu vários outros projetos, incluindo Occupy 2012, uma espécie de diário que implicava escrever um post todos os dias durante um ano em Occupy Wall Street movement e After Occupy: What We Learned, um projeto de escrita aberto sobre as lições do movimento (2014). O último resultou no seu mais recente livro, The Appearance of Black Lives Matter, uma genealogia de “visual commons”, que parte da leitura que Judith Butler faz do “espaço de aparição” de Hannah Arendt, e que acabou de ser lançado como e-book gratuito.
De facto, estes projetos recentes constituem mais um passo no esforço de Mirzoeff para abrir a teoria e descolonizar o conhecimento - um tema que está na ordem do dia, mas que poucos sabem como fazer ou se atrevem a pôr em prática. Mirzoeff está a atingir este objetivo não só através de diferentes canais de publicação e do ativismo, mas também através das “humanidades digitais”, como acontece no seu recente projeto How to See Palestine: An ABC of Occupation. Do Katrina ao Black Lives Matter passando pelo Occupy, da Palestina a Standing Rock passando pelos Maori, Nicholas Mirzoeff tem andado a tecer. Tem tecido um campo com uma urdidura e trama de conceitos, metodologias e “táticas” fundamentais, ensinando-nos como e onde olhar. Acima de tudo, porém, tem vindo a tecer uma rua de dois sentidos entre o meio académico e as pessoas.
Os pensamentos, as provocações e as dérives recentes de Nick Mirzoeff podem ser encontrados no seu blog The Situation.
O Nick é um dos fundadores da Cultura Visual, apesar de ter formação como historiador e historiador da arte. No seu trabalho, traz esse capital fundacional assim como as dimensões política e ética dos Estudos Culturais. Desta forma, no seu caso, as acusações de ahistoricismo inicialmente feitas pelo “Visual Culture Questionnaire” da revista October (1996), que de algum modo persistem até hoje a respeito desta área, caem por terra. Também caem por terra porque não estamos a falar de uma disciplina - a ambição nunca foi essa, nem mesmo no momento de fundação da Cultura Visual há 20 anos atrás - mas mais de uma praxis. O Nick definiu a Cultura Visual como “uma tática para estudar as funções de um mundo abordado por via de imagens de todo o tipo e visualizações, e não através de textos e palavras”.
Pode elucidar exatamente que tática, ou antes, que táticas são estas - termo que parece implicar um posicionamento político? De que forma diferem estas táticas dos métodos usados pelas disciplinas académicas que se ocupam do visual, tal como a história da arte e a antropologia? E há algum aspecto em que um certo grau de ahistoricismo pode ser positivo?
Na década de 70, Stuart Hall iniciou o projeto de estudar a cultura popular no Centre for Contemporary Cultural Studies em Birmingham. Ele deixou claro que o objetivo estratégico não era a compreensão da cultura enquanto tal, mas a possibilidade de transformação social que poderia resultar do uso dos Estudos Culturais como tática. Da mesma forma, Hall defendia que a teoria é sempre um desvio a caminho de um outro lugar ou outra coisa. Como alguém que cresceu politicamente e intelectualmente com esse projeto, era isto que eu tinha em mente quando afirmei que a cultura visual é uma “tática”.
No âmbito disciplinar são escolhidos métodos como meio de produzir informação sobre objetos específicos. Mas o trabalho que me interessa fazer posiciona-se contra essa disciplinaridade e, de facto, anseia por derrubá-la. Quando o questionário da October apareceu, há muitos anos atrás, era acima de tudo a prática disciplinar da história da arte modernista que estava em causa para os seus autores. O seu alvo era sobretudo o programa de cultura visual da universidade de Rochester, sob a égide do historiador da arte Douglas Crimp, que se havia separado do grupo.
Hoje enquadraria as coisas de uma forma um pouco diferente. É evidente que a cultura atual tem uma enorme compulsão para visualizar. Só os utilizadores do Spnachat geram 2,5 mil milhões de Snaps por dia. São tiradas cerca de 1,2 milhão de milhões de fotografias todos os anos. Estes números transformam o projeto de uma “história das imagens” enquanto tal em algo muito diferente. A análise de big data pode decompor os números, como acontece na análise de selfies por localização, género e outros indicadores desenvolvida em selfiecity.net. Esta é, então, a “cultura visual” do nosso tempo: uma circulação capitalizada de conjuntos de informação, traduzida em formato “visual” nos ecrãs dos nossos dispositivos, que possibilita e expande a circulação de mercadorias de todos os tipos. Além disso, estende a mercantilização da própria percepção como um bem monetizável. A investidora de risco americana Mary Meeker chama-lhe “tudo é visual, a toda a hora” [All visual, all the time]. A CISCO Networks prevê que mais de 80% das redes sociais serão baseadas em vídeo, já em 2021. O que estes capitalistas se propõem a fazer é estreitar a distância entre o mundo digital e o mundo material - para eles, isso significa vender coisas, sejam elas bens ou serviços. E estão a tornar-se cada vez melhores nisso, muito rapidamente.
Por isso, o meu objetivo não é tanto aspirar a um mapeamento abrangente destes materiais capitalizados/visualizados, mas antes usá-los - primeiramente como meios para mapear a mudança; e depois para produzir a transformação social. Chamo a isto ativismo visual, que procura envolver-se com a cultura visual existente. Talvez o exemplo mais claro do que aqui quero dizer seja o movimento Black Lives Matter. A fotografia e o vídeo vernaculares tornaram muito claro que existe, nas palavras acutilantes do Movement for Black Lives, “uma guerra contra as pessoas negras.” Mas essas imagens também foram um catalisador para a mudança. Primeiro, os movimentos associados ao Black Lives Matter (que é uma rede descentrada de capítulos autónomos) procuraram conseguir a condenação de agentes policiais usando estes materiais como prova. Como se tornou claro que nenhuma prova visual serviria para mobilizar o ministério público e jurados, o objetivo tornou-se sistémico. A intenção de desafiar o racismo sistémico e a encarceração em massa tem tanto objetivos tácticos a curto prazo, amiúde atingíveis dentro do quadro jurídico e dos regulamentos vigentes, quanto o da transformação sistémica, de que é exemplo a necessidade de oferecer reparações.
Entrar no espaço público para desafiar a supremacia branca é desde logo dar um passo “fora da história”, como observou Benjamin. Porque a história tem sido o registo das derrotas dos oprimidos e dos damnés de la terre, é taticamente importante pô-la de parte no momento da ação. Não para esquecer a desigualdade sistémica mas para tornar a ação possível. O fardo da história tal como nos é ensinada é que “eles” ganham sempre. A possibilidade da história, tal como a podemos ocasionalmente viver, é a oportunidade cintilante de encontrar uma forma de viver.
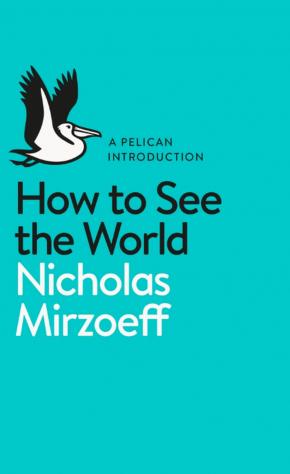 “Entrar no espaço público para desafiar a supremacia branca é sempre desde logo dar um passo “fora da história”, como observou Benjamin (…). O fardo da história tal como nos é ensinada é que “eles” ganham sempre. A possibilidade da história, tal como a podemos ocasionalmente viver, é a oportunidade cintilante de encontrar uma forma de viver”.Em Portugal a área da Cultura Visual está numa fase embrionária, sendo que algum do seu jargão e transdisciplinaridade foram apropriados por outras áreas ou adotados, na universidade, sob a égide do termo Estudos Artísticos. Dito isto, as dimensões política e ética da Cultura Visual são, em muitos casos, postas de parte. No seu trabalho, este posicionamento político e ético é crucial, e o Nick tem tomado posição através da diversificação dos canais de produção científica (o que McKenzie Wark apelidou de low theory), da publicação em plataformas de acesso livre, da participação na Free University em Nova Iorque e na Anti-University em Londres, e do seu envolvimento em movimentos sociais. Deste modo, o Nick tem contribuído ativamente para o intenso debate em torno da descolonização do conhecimento, recentemente intensificado pelos eventos impulsionados pelos estudantes da School of Oriental Studies em Londres e pelo movimento The Rhodes Must Fall, na África do Sul. A este respeito, também enfatizou que a cultura visual “não é uma disciplina académica; [mas] espera ir além das fronteiras tradicionais da universidade para interagir com as vidas quotidianas das pessoas”. Na FCSH-UNL, veio dar o seminário Decolonizing Media - Change your Worldview, que tem uma componente muito participativa, engajando-se com diferentes leituras que fornecem um quadro conceptual para estes debates. No blog do currículo, sob o item “Como Trabalhamos”, o Nick frisa que “participar é um ato de solidariedade. Este não é um espaço disciplinar mas um espaço de compromisso.”
“Entrar no espaço público para desafiar a supremacia branca é sempre desde logo dar um passo “fora da história”, como observou Benjamin (…). O fardo da história tal como nos é ensinada é que “eles” ganham sempre. A possibilidade da história, tal como a podemos ocasionalmente viver, é a oportunidade cintilante de encontrar uma forma de viver”.Em Portugal a área da Cultura Visual está numa fase embrionária, sendo que algum do seu jargão e transdisciplinaridade foram apropriados por outras áreas ou adotados, na universidade, sob a égide do termo Estudos Artísticos. Dito isto, as dimensões política e ética da Cultura Visual são, em muitos casos, postas de parte. No seu trabalho, este posicionamento político e ético é crucial, e o Nick tem tomado posição através da diversificação dos canais de produção científica (o que McKenzie Wark apelidou de low theory), da publicação em plataformas de acesso livre, da participação na Free University em Nova Iorque e na Anti-University em Londres, e do seu envolvimento em movimentos sociais. Deste modo, o Nick tem contribuído ativamente para o intenso debate em torno da descolonização do conhecimento, recentemente intensificado pelos eventos impulsionados pelos estudantes da School of Oriental Studies em Londres e pelo movimento The Rhodes Must Fall, na África do Sul. A este respeito, também enfatizou que a cultura visual “não é uma disciplina académica; [mas] espera ir além das fronteiras tradicionais da universidade para interagir com as vidas quotidianas das pessoas”. Na FCSH-UNL, veio dar o seminário Decolonizing Media - Change your Worldview, que tem uma componente muito participativa, engajando-se com diferentes leituras que fornecem um quadro conceptual para estes debates. No blog do currículo, sob o item “Como Trabalhamos”, o Nick frisa que “participar é um ato de solidariedade. Este não é um espaço disciplinar mas um espaço de compromisso.”
É evidente que a Cultura Visual não é possível sem uma dimensão política e ética. Como é que o Nick imagina o papel atual deste campo no movimento para descolonizar o conhecimento e a imaginação ou, como disse num artigo recente no The Nordic Journal of Aesthetics, o que fazer para efectivamente “esvaziar o museu, descolonizar o currículo e abrir a teoria”?
Tal como acabei de dizer, a questão é como desenvolver um ativismo visual dentro da atual cultura visual capitalista e global. Esta questão estabelece uma ligação entre o trabalho crítico e o ativismo, dentro e fora dos campos da educação e da produção de conhecimento. Para mim não é claro a existência de uma “área” da cultura visual dentro da universidade. Quando a área dos estudos de cinema [cinema studies] surgiu na década de 70 também teve dificuldade em estabelecer o seu espaço. Assim, o cinema foi mais amplamente reconhecido como um medium com mérito artístico - graças aos grandes filmes da década de 70 – e a teoria do cinema ganhou um campo de influência muito maior. Em suma, os estudos de cinema tinham um “objeto” reconhecido e um dispositivo teórico para suportá-lo.
Ao usar o termo “cultura visual”, que remonta à década de 60, a nossa área de investigação tem sido obstruída por um esforço inevitavelmente vão para explicar a cultura como um todo em termos de materiais visuais. Agora vislumbro uma segunda oportunidade para a área. Com a ascensão das imagens digitais vernaculares, das selfies aos vídeos do YouTube e especialmente da documentação de resistência política, há um “objeto” preciso que não é história da arte ou cinema ou televisão, mas que tem uma importância palpável. Se estas imagens conseguirem encontrar teóricos de relevo - se não forem apenas mais um “bip” na história dos media digitais - elas podem ser a base de uma área, daquilo a que chamo “prática de cultura visual”. Porque é possível fazer esse trabalho tanto quanto comentá-lo e usar estas formas para as comentar e as criticar.
As universidades, contudo, estão a mudar e em geral para pior. Os estudantes são vistos como consumidores, que, consequentemente, contraem enormes dívidas. Qualquer área que seja vista como “interdisciplinar” está fora de moda e sem fundos. Assim, tal como Fred Moten e Stephano Harney em The Undercommons, cada vez mais vejo a universidade como um potencial local de refúgio e uma instituição da qual “roubar”. Com a última afirmação, Moten e Harney têm em mente fazer uso do tempo que nos é atribuído para desenvolver trabalho que vai para além da universidade; permitir que os seus recursos, do espaço às fotocópias ou ao wifi, sejam usados por aqueles que deles precisam; e que quem tem acesso a recursos financeiros os redirecione para apoiar necessidades ativistas. Ao invés de serem meros crimes, estas práticas operam numa área dúbia - a do compromisso das universidades para com o serviço público, que raramente é definido e pode muito bem significar trabalho ativista. Certamente que a administração Trump forçou todos os que estão no centro e na esquerda a estabelecer novas alianças, mesmo que elas tenham limites.
Dito isto, a minha agenda enquanto ativista visual é, como dizes, “esvaziar o museu, descolonizar o currículo e abrir a teoria”.
“Esvaziar o museu” significa que a propriedade cultural expropriada deve ser devolvida aos seus legítimos donos. Os Mármores de Elgin devem voltar para Atenas, onde um museu vazio os aguarda. Em Ramallah, o Museu da Palestina está igualmente vazio de conteúdos. Quando o Museu Judaico de Berlim projetado por Daniel Libeskind abriu, também ele estava vazio e muitas pessoas pensaram que assim era mais expressivo. Uma questão crucial é a devolução da propriedade cultural indígena, especialmente de objetos sagrados e restos mortais humanos. No Museu do Carmo, aqui em Lisboa, os corpos de dois ameríndios estão em vitrines de vidro na biblioteca: haverá melhor exemplo da necessidade de descolonização dos museus? Nos Estados Unidos, muitos objetos indígenas foram devolvidos no âmbito de um quadro jurídico criado para apoiar as reivindicações dos povos nativos. Continua a haver muitos objetos para contemplar. O meu objetivo é imaginar como seria um “museu” que não estivesse repleto de materiais expropriados e não-específicos. Lugares como o Metropolitan Museum, o Louvre ou o British Museum seriam muito diferentes. Uma coleção como a do Tate Britain, centrada no legado de Turner à nação, não mudaria assim tanto. Porém, o propósito não é criar agendas nacionalistas. O museu já é uma indústria de serviços, acima de tudo votada à circulação de capital (turista). E se houvesse espaços abertos às comunidades locais e a artistas de todos os tipos dentro destes palácios da cultura?
“Descolonizar o currículo” é a exigência específica do movimento “fall” [cair por terra] na África do Sul, criado na sequência do #RhodesMustFall; #FeesMustFall; e do ainda mais controverso #ZumaMustFall. Ali a remoção de uma peça de arte colonial, a estátua de Cecil Rhodes, empoderou os estudantes a resistir com êxito ao então proposto aumento das propinas, e depois a desafiar o chefe de estado. Uma outra vertente do ativismo estudantil empenhou-se no movimento de descolonização. O seu objetivo não é a remoção da produção académica “branca”, mas mais a reorganização do currículo a partir de uma perspectiva africana. Este movimento envolve uma reconsideração dos modos como a aprendizagem acontece, das estruturas formais de avaliação usadas e de como a relação estudante-professor pode ser imaginada de um outro modo. Estes objetivos relacionam-se com a educação decolonial proposta por figuras como Paulo Freire, Gloria Anzaldúa, Silvia Federici e Augusto Boal. Ao contrário de muitas das “reformas” euro-americanas do sistema educativo, que se concentraram apenas no aumento do rendimento através dos estudos pós-graduados ou no ajuste dos cursos às supostas necessidades da tecnologia e da engenharia, o movimento para descolonizar o currículo centra-se nas necessidades humanas e não-humanas da biosfera presente e futura. O meu trabalho é seguir as suas passadas, em vez de instituir uma direção. Faz uma grande diferença prática no modo como organizo as oportunidades de aprendizagem, me envolvo como os outros e no que considero ser o meu papel. Tudo isto está em desenvolvimento e faz parte do meu trabalho diário.
Tal como “abrir a teoria”. Imagino “abrir” [open] aqui mais como um verbo do que como um adjetivo: como abrimos a teoria àqueles que dela se sentem excluídos? A low theory de McKenzie Wark relaciona-se intimamente com esta ideia. O projeto dele trata de ideias usáveis e acionáveis. Abrir a teoria é uma injunção para ser tão inclusivo quanto possível. Não se opõe a novas formas de linguagem. Os ativistas trans mudaram a nossa abordagem aos pronomes, por exemplo, e as feministas impelem-nos a pensar “intersecionalmente”. Estes termos são usados em debates ativistas e sociais em curso. Deste modo, abrir a teoria não é uma posição anti-teoria, mas é contra o elitismo como um fim em si mesmo. Que criemos as melhores ideias que pudermos, absolutamente. Mas se só uma pequena elite de homens brancos altamente instruídos as podem entender, serão realmente as melhores ideias? Na nossa abordagem encontra-se outra forma de considerar esta questão. Encorajo as pessoas com quem trabalho a ler um texto como Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon do mesmo modo que leriam filosofia de elite: linha a linha, com a presunção de muitas interpretações possíveis em cada uma delas. É “normal” fazer isto com Hegel, Platão ou até com pensadores mais recentes como Derrida. Mas as obras “políticas” são lidas de uma forma demasiado rápida e superficial. Quando associada à descolonização do currículo, a “teoria” não são só palavras numa página, mas também coisas que se fazem, como o mapa inovador do uso de sementes transgénicas criado pelo Pedro Neves Marques na sua atual exposição. Ou poderia ser o trabalho feito pelo colectivo Visualizing Palestine para tornar a ocupação compreensível. Ou os atlas de cidades criados por equipas lideradas por Rebecca Solnit, que mostram tanto discotecas gay como lugares onde há borboletas-monarcas. Na minha prática, faço aquilo a que chamo de “dérives da escravatura”: vou a uma instituição cultural e caminho ao acaso à procura de indícios de seres humanos escravizados. Não apenas a sua representação formal mas a presença de açúcar, chá, café ou algodão – repare-se que a pintura passou a ser feita em telas de algodão no século XVIII, substituindo o cânhamo, por exemplo, pelo que grande parte do “cânone” da pintura moderna repousa sobre o produto do trabalho escravizado.
O propósito colectivo destes esforços seria a criação de instituições alternativas. Algumas já existem, como a Islington Mill em Salford e a Open East in Margate (ambas no Reino Unido). A artista Emily Jacir acabou de angariar fundos para um projeto similar em Belém (Palestina). Algumas pessoas argumentam que deveria ser o Estado a fazê-lo e, a longo prazo, estou de acordo. Estas alternativas são um meio de prefigurar novas abordagens à aprendizagem e de fazer pressão sobre as instituições financiadas pelo Estado para que respondam.
 haverá melhor exemplo da necessidade de descolonização dos museus? (…) Na minha prática, faço aquilo a que chamo de “dérives da escravatura”: vou a uma instituição cultural e caminho ao acaso à procura de indícios de seres humanos escravizados. Não apenas a sua representação formal mas a presença de açúcar, chá, café ou algodão – repare-se que a pintura passou a ser feita em telas de algodão no século XVIII, substituindo o cânhamo, por exemplo, pelo que grande parte do “cânone” da pintura moderna repousa sobre o produto do trabalho escravizado”.Crédito Mariojr
haverá melhor exemplo da necessidade de descolonização dos museus? (…) Na minha prática, faço aquilo a que chamo de “dérives da escravatura”: vou a uma instituição cultural e caminho ao acaso à procura de indícios de seres humanos escravizados. Não apenas a sua representação formal mas a presença de açúcar, chá, café ou algodão – repare-se que a pintura passou a ser feita em telas de algodão no século XVIII, substituindo o cânhamo, por exemplo, pelo que grande parte do “cânone” da pintura moderna repousa sobre o produto do trabalho escravizado”.Crédito Mariojr
O Nick escreveu um número considerável de livros, mas parece que The Right to Look é um ponto de viragem na sua produção intelectual. Em The Right to Look explica que, apesar da “visualidade” ser um termo chave para a cultura visual, não é um termo recente nem neutro, e não pode ser usado com leveza para designar tudo o que é visível (como algumas pessoas tendem a fazer). De facto, revela que Thomas Carlyle inventou o termo em 1841 para significar precisamente a “visualização da história”, uma história relacionada com a guerra - especificamente a necessidade dos generais de visualizar os campos de batalha. Então o Nick definiu “visualidade” como uma “prática discursiva mediante a qual a dominação impõe a evidência sensível da sua legitimidade”, distinguindo três complexos visuais diferentes ao longo do tempo: o da “plantação”, o “imperial” e o “militar-industrial”. Sinto que a ideia de um “complexo” é do maior interesse metodologicamente falando, porque põe em evidência a dimensão epistémica e dialéctica dos objetos, sujeitos e ações ao longo da história.
Pode desenvolver mais a noção de “complexo de visualidade” e falar sobre os modos como “o direito a olhar” [the right to look] pode constituir uma tática de contravisualdade em contraste com o “gaze”?
A visualidade é o meio de visualizar um campo de batalha usando ideias, informação, imagens e intuição. Este campo de batalha não é visto diretamente por aqueles que o visualizam, porque é demasiado vasto para ser visto e os líderes não arriscam as suas vidas dessa forma. A visualidade é um complexo porque procura organizar a vida humana e não-humana numa variedade de registos - trabalho, disciplina, castigo, autocuidado - num enquadramento criado pela prática da guerra. A guerra é travada em diferentes “teatros”, de modos formais e informais, por vezes entre exércitos regulares e amiúde de forma “assimétrica” entre um exército e os resistentes, sejam povos colonizados, seres humanos escravizados ou revolucionários. A visualidade também produz uma simplificação ao comprimir toda a guerra assimétrica naquilo que apelida de “contrainsurgência”, num esforço para deslegitimar o conflito e acabar com o apoio popular que aquele recebe. Assim, ao discutir estratégia militar, torna-se logo necessário pensar em formas mentais. Por isso, o complexo também é um conjunto de formas de ver o mundo, com o intuito de compreendê-lo.
Se esse meio de conduzir a guerra teve o seu início na era napoleónica, anunciado nos escritos estratégicos de Clausewitz que ainda hoje são ensinados aos soldados, já há muito que havia sido adotado na plantação colonial - ou, como deveríamos antes dizer, no campo de trabalho escravo. Ali o capataz/supervisor queria transmitir a impressão de que podia, de facto, monitorar toda a atividade dos escravizados, quer pudesse vê-la pessoalmente ou não. A era formal da visualidade enquanto técnica militar foi inaugurada pela transformação histórica da revolução bem sucedida contra a escravatura no Haiti. Esta revolução foi, e em certa medida ainda é, “impensável” nos termos de Michel-Rolph Trouillot. A supervisão [oversight] deveria tê-la impedido. Mas oversight, em inglês, também pode significar “não ver” ou ser negligente. Assim, a visualidade não é simplesmente o poder. Ela reforça o poder com autoridade, uma dimensão chave na manutenção da ordem do ponto de vista do escravocrata, do colonizador e da sua descendência - o capitalista. Por isso, há uma contradição no coração da visualidade. É aquele momento em que a “lei do gaze” subitamente se transforma no “direito a olhar”. Temo-lo visto abundantemente na política global desde que o livro foi publicado, de Tahrir ao Black Lives Matter e ao Rhodes Must Fall. Porém, a teoria do gaze pertence ao dispositivo, especificamente ao do cinema. O drone, que é o epíteto da visualidade hoje, não é exatamente esse dispositivo. O drone traduz o mundo numa abstração bidimensional. Ser visível nessa abstração é estar susceptível a ser morto. Mas o drone é tão mau a distinguir pessoas que os seus operadores fazem pontaria a cartões SIM em vez de pessoas. Com isto quero dizer que identificam um cartão SIM como pertencendo a um “alvo” e, quando é encontrado, destroem-no. É o acaso que dita se esse cartão está na posse do alvo nessa altura ou não, o que conduz a um elevado número de baixas civis causadas por drones. O drone é um telemóvel com asas, mas essas asas são barulhentas, usando um motor de hélice barato, cujo som se tornou parte do regime de terror produzido pelos drones.
O contraponto à vista do alto é, e sempre foi, a vista a partir do chão. No chão, procuramos ser vistos, ouvir e ver os outros. Ao criar um “direito a olhar”, primeiro ouvimos os outros e esperamos pelo que têm a dizer, e só depois respondemos, mesmo que eles não falem, e especialmente nesse caso. Falar primeiro é nomear e colonizar. A selfie é, nesse sentido, uma resposta sintomática ao regime de vigilância contra-insurgente. Ao tirar selfies, as pessoas tentam registar-se a si mesmas como tendo vidas que importam e que podem ser vividas. Não são produto do narcisismo, como tantas pessoas têm escrito, mas da ansiedade. Quando um espaço de aparição é formado, como em Tahrir ou numa ação do Black Lives Matter, os corpo posicionam-se num lugar onde não deveriam estar. Nesse momento criam aquilo a que Fanon chamou de “tabula rasa” da descolonização. A partir daí tudo pode acontecer. O que é então dito e visto não é simplesmente contravisualidade, uma resposta ao ato de ser visualizado, mas a alternativa “impensável”: um espaço de aparição que não é formado pela guerra, pela ordem e pela autoridade, mas pela possibilidade de viver juntos. Não aparecemos de forma igual nesse espaço porque a história não desaparece. É nesse espaço que a desigualdade estrutural pode ser enfrentada.
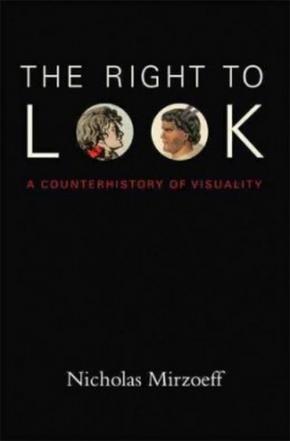 “Em Portugal, fiquei impressionado com a presença visível daquilo que ainda é referido como “exploradores” ou as “descobertas”, em vez de “colonizadores” e “encontro.” A representação de corpos africanos na arte e nos monumentos oficiais é muitas vezes estereotipada, quase degradante”. Em Portugal, a memória do império (1415-1974) perdura e, como qualquer outra memória, é parcial, dissimuladora. A memória oficial ainda é uma narrativa de heroísmo, com os termos “descobertas” ou “expansão” a prevalecer sobre “colonialismo”. O enorme papel que Portugal teve no tráfico de pessoas escravizadas - condenando 5,848,266 pessoas à escravatura (quase metade do total dos 12,500,000 seres humanos escravizados) - e a persistência do trabalho forçado após a abolição da escravatura, em 1869, até tão recentemente quanto a década de 60, são amplamente ignorados. Além disso, não existe nenhum monumento de homenagem às vítimas da escravatura que possa servir de contraponto ao discurso imperial que Lisboa emana enquanto cidade, em particular em Belém, onde a memória oficial é encenada. Assim, uma “visualidade” - que na minha perspetiva foi cuidadosamente sintetizada, atualizada, (re)definida e intensificada pela ditadura fascista (1926-1974) - sobreviveu à Revolução dos Cravos, em 1974, e tem consequências muito concretas na vida de muitos, em particular dos afrodescendentes. Hoje, esta “visualidade” permeia o senso comum, os discursos políticos, a media, os museus, e até a literatura científica que propõe fazer a sua crítica acaba por veicular o mesmo uso colonial e colonizador das imagens. Além disso, a iliteracia visual prevalece em todas as camadas da sociedade (o que poderá relacionar-se com o facto de a Cultura Visual estar num estágio tão inicial aqui). Pergunto-me até que ponto o uso contemporâneo de imagens e discursos do passado colonial não fará parte do mesmo “complexo de visualidade” que permeou o seu momento de produção, constituindo uma forma de perpetuar a necessidade destas imagens e discursos no presente.
“Em Portugal, fiquei impressionado com a presença visível daquilo que ainda é referido como “exploradores” ou as “descobertas”, em vez de “colonizadores” e “encontro.” A representação de corpos africanos na arte e nos monumentos oficiais é muitas vezes estereotipada, quase degradante”. Em Portugal, a memória do império (1415-1974) perdura e, como qualquer outra memória, é parcial, dissimuladora. A memória oficial ainda é uma narrativa de heroísmo, com os termos “descobertas” ou “expansão” a prevalecer sobre “colonialismo”. O enorme papel que Portugal teve no tráfico de pessoas escravizadas - condenando 5,848,266 pessoas à escravatura (quase metade do total dos 12,500,000 seres humanos escravizados) - e a persistência do trabalho forçado após a abolição da escravatura, em 1869, até tão recentemente quanto a década de 60, são amplamente ignorados. Além disso, não existe nenhum monumento de homenagem às vítimas da escravatura que possa servir de contraponto ao discurso imperial que Lisboa emana enquanto cidade, em particular em Belém, onde a memória oficial é encenada. Assim, uma “visualidade” - que na minha perspetiva foi cuidadosamente sintetizada, atualizada, (re)definida e intensificada pela ditadura fascista (1926-1974) - sobreviveu à Revolução dos Cravos, em 1974, e tem consequências muito concretas na vida de muitos, em particular dos afrodescendentes. Hoje, esta “visualidade” permeia o senso comum, os discursos políticos, a media, os museus, e até a literatura científica que propõe fazer a sua crítica acaba por veicular o mesmo uso colonial e colonizador das imagens. Além disso, a iliteracia visual prevalece em todas as camadas da sociedade (o que poderá relacionar-se com o facto de a Cultura Visual estar num estágio tão inicial aqui). Pergunto-me até que ponto o uso contemporâneo de imagens e discursos do passado colonial não fará parte do mesmo “complexo de visualidade” que permeou o seu momento de produção, constituindo uma forma de perpetuar a necessidade destas imagens e discursos no presente.
A questão que lhe coloco é esta (e isto não é um problema exclusivo a Portugal): como combater o uso predatório e a reciclagem de materialidades e imagens “coloniais”, em particular por parte da media, dos museus, e, especialmente, do meio académico, que de forma persistente racializa os sujeitos e volta a inscrevê-los numa equação colonial, de onde parecem nunca ter saído?
O regresso do império e da nostalgia colonial e o (neo)colonialismo realmente existente são características palpáveis do presente. Ao longo de The Right to Look, usei a terminologia da descolonialidade e não a do pós-colonialismo. Em suma, a descolonialidade é um projeto de longo prazo, do qual a experiência histórica do pós-Segunda Guerra Mundial foi apenas uma parte importante. O pós-colonial é mais específico ao subcontinente indiano e não uma condição geral ou global. A teorização da colonialidade e da descolonialidade tem origem no contexto da América Latina, onde meio milénio de exploração colonial criou reservas quanto a uma declaração do fim dessa era.
Na Europa e nos Estados Unidos, existe também o regresso específico da forma e da nostalgia coloniais. Em Portugal, fiquei impressionado com a presença visível daquilo que ainda é referido como “exploradores” ou as “descobertas”, em vez de “colonizadores” e “encontro.” A representação de corpos africanos na arte e nos monumentos oficiais é muitas vezes estereotipada, quase degradante. Infelizmente, não vejo este caso como uma exceção, mas como um exemplo das novas divisões. As universidades dão um mau exemplo neste campo, estando as minorias e as pessoas de cor sistematicamente sub-representadas em ambos os lados do Atlântico.
Não vejo isto como um sintoma da falta de literacia visual, o que quer que isso queira dizer - talvez seja antes uma questão de conhecimento de referências visuais? Acho que tem a ver com primazia da “raça” enquanto sistema visualizado de hierarquia humana. É evidente que não há uma base biológica ou genética para a “raça,” apesar de ser obviamente possível detetar diferentes histórias, com diferentes desenlaces. Mas quando um agente da polícia olha para um suspeito, se o chama com um “ei, você aí,” como em tempos aconteceu a Althusser, é porque reconhece esse suspeito como “branco.” Para o ser humano racializado este tipo de chamamento não existe e muito menos um “siga em frente, não há nada para ver aqui,” também dirigido à pessoa “branca”. Quando a polícia “vê” uma pessoa como negra ou de qualquer outra forma racializada, a resposta será violenta. “Polícia” não significa apenas agentes com fardas nas ruas, mas todo um dispositivo da sociedade de controlo, como Deleuze observou. Mas Deleuze não enfatizou o modo como essa sociedade é internamente diferenciada em “zonas” de autocontrolo oferecidas aos que são designados como “brancos” e áreas altamente controladas e diversamente socializadas, onde as pessoas podem ser mortas com impunidade, não como homo sacer, mas com a marca da hierarquia colonial e racializada.
A agenda da descolonização é, assim, a da “democracia da abolição” - uma democracia em que todas as pessoas são finalmente reconhecidas como plena e irrevogavelmente humanas e na qual não há polícia.
 Checkpoint em Qalqilya. Crédito NM. “Não há dúvida de que a colonialidade na sua forma neoliberal é perniciosa e empobrece a vida (…). Descolonizar a media significa em parte reconhecer as formas pelas quais os media estão sempre já colonizados e fazer um uso descolonial deles”.
Checkpoint em Qalqilya. Crédito NM. “Não há dúvida de que a colonialidade na sua forma neoliberal é perniciosa e empobrece a vida (…). Descolonizar a media significa em parte reconhecer as formas pelas quais os media estão sempre já colonizados e fazer um uso descolonial deles”.
No seu projeto “How to See Palestine: an ABC of Occupation”, sugere que a Palestina é o mais extremo exemplo contemporâneo de colonialismo: “A minha primeira e mais duradoura impressão é inequívoca: isto é o que é o colonialismo”. Normalmente, o passado ajuda-nos a compreender o presente, mas neste projeto, numa jogada típica da praxis da cultura visual, o Nick faz o contrário: ao compreender o presente – o presente excruciante da Palestina – revelou-nos o passado; um passado que não diz respeito apenas à Palestina.
O Nick pode falar mais sobre o método que aqui usou e o novo conhecimento que produziu sobre a Palestina e a experiência/práticas do colonialismo em geral? Acha que as possibilidades abertas pelas humanidades digitais ajudaram a visualizar melhor a Palestina (e o colonialismo, passado e presente)? Será este o futuro da Cultura Visual: visualizar o nosso presente - migração em massa, crise de refugiados, guerra permanente, o Antropoceno, que se relacionam diretamente com o colonialismo - de forma a reconciliarmo-nos com o passado e, ao fazê-lo, resgatar os nossos futuros?
É um conjunto de perguntas muito intrigante. Começando pela Palestina, a minha experiência foi que ali vivenciei o colonialismo enquanto tal pela primeira vez, tendo eu escrito sobre ele durante muito tempo. Não há dúvida de que a colonialidade na sua forma neoliberal é perniciosa e empobrece a vida. É completamente diferente ver pessoas a quem são apontadas armas rotineiramente, vê-las condicionadas por checkpoints todos os dias e a ser sujeitas a uma constante e humilhante dominação. Falar com pessoas que vivem a 40 milhas [cerca de 65 quilómetros] do Mediterrâneo e que nunca viram o mar – e que, de facto, essa seja a sua ambição. Ouvir que um homem muçulmano não pode visitar a mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, desde 2001, a uns poucos quilómetros de distância da sua casa, no campo de refugiados de Aida, em Belém. Ser informado pelos Beduínos de que os seus camelos são presos pela “Patrulha Verde” israelita por invadirem uma área ambiental, como se um animal de pastoreio pudesse saber isso. E que depois têm de pagar uma multa de centenas de dólares para recuperar o animal. Todas estas experiências e muitas outras tornaram claro para mim que isto é exemplar, não excecional. Ali pude ver a ordem colonial dos nossos dias tal como ela realmente é. No entanto, não sou um especialista e não falo nem leio árabe, pelo que não reivindico qualquer “competência” académica. Decidi envolver-me num projeto de documentação performativa, como já fiz antes. O projeto tem as suas regras: neste caso, escrevi apenas sobre coisas que vi e vivi, usando só fotografias que tirei e informação que recolhi no campo, quer fosse através das pessoas com quem falei ou dos media locais. Apercebi-me de que não tinha uma imagem mental da Palestina além das imagens repetidas de terror, pelo que coloquei a mim mesmo a pergunta: “como posso ver a Palestina?” Como principiante, usei o formato ABC, de modo que há vinte e seis entradas, ordenadas alfabeticamente.
Os media digitais permitiram-me criar e disseminar este projeto de um modo que não teria sido possível num formato impresso. Mesmo que tivesse conseguido encontrar uma publicação científica ou revista interessada em publicar as minhas observações, que suportasse o custo de impressão das fotografias a cores, que são certamente amadoras mas mostram de uma forma ingénua aquilo que vivi. No entanto, não estou certo de que isto ainda “conte” como humanidades digitais. As “DH”, como ficaram conhecidas, parecem exigir a construção de uma nova ferramenta para análise de dados, ao invés da sua interpretação. Na verdade, a designação “humanidades interpretativas” é uma chamada de atenção às pessoas das “DH”. Não é tampouco discernível um aspecto político na maioria dos projetos de “DH”. Talvez o trabalho que ali fiz possa ser visto como uma versão amadora do projeto Forensic Architecture dirigido por Eyal Weizman no Goldsmiths, que usa as redes sociais para recriar e analisar os ataques israelitas na Palestina. Mas o trabalho dele é muito sofisticado e inovador, enquanto que eu agi na tradição da investigação militante, tendo simplesmente colocado o meu corpo onde ele não deveria estar e relatado o que vivi.
Concordo com a avaliação mais abrangente que aqui fazes. Presentes em rápida mudança precisam de passados examinados de novo para explicá-los e explorá-los. Mas primeiro têm de ser compreendidos nos seus próprios termos. Isto requer uma certa adaptabilidade, mas não há aqui uma variedade infinita de experiência. A investigação em cultura visual adequa-se bem a momentos de ansiedade massivamente mediada, seja na sua forma aguda, como no desastre da Grenfell Tower ou nos ataques terroristas, seja na experiência diária da vigilância, do policiamento e do controlo mediado. Uma imagem como a de Alan Kurdi, o menino de três anos que se afogou ao tentar chegar à Europa, atravessou as nossas sensibilidades enrijecidas não por pura pena, mas porque a fotografia involuntariamente ecoa o arquétipo cristão da pietá. Quer os espetadores tenham feito essa ligação conscientemente ou não, ela permitiu-lhes “ver” esta criança morta de uma forma diferente de milhares de outras, que não foram vistas. Descolonizar os media significa em parte reconhecer as formas pelas quais estes estão sempre já colonizados e fazer um uso descolonial dos mesmos.
![The Appearance of BLM (índice). “Enquanto que sob a escravatura e de novo nos futuros segregados então por vir, a ‘raça’ foi indexada a tons de pele, relacionando-os com a ascendência, [a Revolução Haitiana, de 1804] dissociou-a do corpo. Ser Negro (noir) seria, daí para a frente, a designação de todos aqueles que permaneceriam no Haiti e se filiariam à sua revolução, independentemente do seu passado histórico. As pessoas ‘brancas’ seriam aquelas que tentassem ser proprietários de terras no país, sem lá viver. A Negritude como revolução. Certamente, o longo espectro da revolução haitiana é a prova de que esta reconfiguração foi amplamente compreendida”. The Appearance of BLM (índice). “Enquanto que sob a escravatura e de novo nos futuros segregados então por vir, a ‘raça’ foi indexada a tons de pele, relacionando-os com a ascendência, [a Revolução Haitiana, de 1804] dissociou-a do corpo. Ser Negro (noir) seria, daí para a frente, a designação de todos aqueles que permaneceriam no Haiti e se filiariam à sua revolução, independentemente do seu passado histórico. As pessoas ‘brancas’ seriam aquelas que tentassem ser proprietários de terras no país, sem lá viver. A Negritude como revolução. Certamente, o longo espectro da revolução haitiana é a prova de que esta reconfiguração foi amplamente compreendida”.](https://www.buala.org/sites/default/files/imagecache/half/2017/06/6-the_space_of_appearence.jpg) The Appearance of BLM (índice). “Enquanto que sob a escravatura e de novo nos futuros segregados então por vir, a ‘raça’ foi indexada a tons de pele, relacionando-os com a ascendência, [a Revolução Haitiana, de 1804] dissociou-a do corpo. Ser Negro (noir) seria, daí para a frente, a designação de todos aqueles que permaneceriam no Haiti e se filiariam à sua revolução, independentemente do seu passado histórico. As pessoas ‘brancas’ seriam aquelas que tentassem ser proprietários de terras no país, sem lá viver. A Negritude como revolução. Certamente, o longo espectro da revolução haitiana é a prova de que esta reconfiguração foi amplamente compreendida”.Uma das coisas de que mais gosto no seu trabalho é o uso prático que o Nick faz dos conceitos de outros autores, amplificando-os a um outro nível, conferindo-lhes uma materialidade, uma forma visual. Fez isso com Jacques Rancière em The Right to Look e novamente com a leitura que Judith Butler fez do conceito de “espaço de aparição” de Hannah Arendt no seu novo livro, The Appearance of BlackLivesMatter (download gratuito aqui). O que é este “espaço de aparição”? O que acrescenta ao “direito a olhar,” às “táticas de contravisualidade”? E o que dizer desta mudança do “nomear” para o “escutar”? Que promessas nela habitam?
The Appearance of BLM (índice). “Enquanto que sob a escravatura e de novo nos futuros segregados então por vir, a ‘raça’ foi indexada a tons de pele, relacionando-os com a ascendência, [a Revolução Haitiana, de 1804] dissociou-a do corpo. Ser Negro (noir) seria, daí para a frente, a designação de todos aqueles que permaneceriam no Haiti e se filiariam à sua revolução, independentemente do seu passado histórico. As pessoas ‘brancas’ seriam aquelas que tentassem ser proprietários de terras no país, sem lá viver. A Negritude como revolução. Certamente, o longo espectro da revolução haitiana é a prova de que esta reconfiguração foi amplamente compreendida”.Uma das coisas de que mais gosto no seu trabalho é o uso prático que o Nick faz dos conceitos de outros autores, amplificando-os a um outro nível, conferindo-lhes uma materialidade, uma forma visual. Fez isso com Jacques Rancière em The Right to Look e novamente com a leitura que Judith Butler fez do conceito de “espaço de aparição” de Hannah Arendt no seu novo livro, The Appearance of BlackLivesMatter (download gratuito aqui). O que é este “espaço de aparição”? O que acrescenta ao “direito a olhar,” às “táticas de contravisualidade”? E o que dizer desta mudança do “nomear” para o “escutar”? Que promessas nela habitam?
É uma observação pertinente, eu realmente pratico esses atos de apropriação! Em parte, foi assim que aprendi a fazer o trabalho que faço e sinto que tenho a incumbência de não fingir que invento novas ideias, mas antes de mostrar como simplesmente ajustei uma cadeia de pensamento que pode ter um percurso já longo. O “espaço de aparição” é, como dizes, uma expressão de Hannah Arendt para o espaço onde a política se faz. Judith Butler fez um uso fascinante deste conceito no seu estudo da Praça Tahrir e do Parque Gezi. Porém eu queria refinar ambos os usos. Arendt reconhece que o espaço de aparição que imagina é o da cidade-estado grega, o que quer dizer que, por definição, exclui as mulheres, os seres humanos escravizados, os menores, os não-gregos e assim por diante. Por isso, queria primeiro imaginar o espaço de aparição como o lugar onde as pessoas podem exercer o direito a olhar, uma troca de olhares de um para o outro e vice-versa - olhar nos olhos uns do outros - que não pode ser possuído ou representado. A vantagem de o considerar como um espaço e não como uma reivindicação é o facto de poder ser analisado em momentos e formas específicas. Ao aprender com o Black Lives Matter e outros movimentos relacionados, levou-me a ver esse espaço antes de mais e sobretudo como um “escutar”. Nem esta escuta nem o olhar no “direito a olhar” são feitos apenas com um dos sentidos corporais. Pelo contrário, são maneiras de estar presente. Escutar é esperar que o outro faça a primeira aproximação, seja ela verbal ou não, de modo a não reclamar o privilégio colonial de nomeá-lo. Nesse escutar, as formas desiguais sob as quais as pessoas entram no “espaço de aparição” podem ser reconhecidas e negociadas.
Para Butler, esta intersecção é fugaz, aquilo a que ela chama de “passagem anarquista” [anarchist passage]. É com grande alívio que ela regressa ao território familiar das normas e regulamentos foucauldianos. Vi no Black Lives Matter a possibilidade de um modo diferente de ser que tem sido apelidado de abolição, no qual as normas e os regulamentos seriam permanentemente deslocados. Penso aqui na forma como a Revolução Haitiana usou a sua Constituição de 1804 para definir a negritude. Enquanto que sob a escravatura e de novo nos futuros segregados então por vir, a “raça” havia sido indexada a tons de pele relacionando-os com a ascendência, os haitianos dissociaram-na do corpo. Ser Negro (noir) seria, daí para a frente, a designação de todos aqueles que permaneceriam no Haiti e se filiariam à sua revolução, independentemente do seu passado histórico. As pessoas “brancas” seriam aquelas que tentassem ser proprietários de terras no país, sem lá viver. A Negritude como revolução. Certamente, o longo espectro da revolução haitiana é a prova de que esta reconfiguração foi amplamente compreendida.
Para mim, a diferença entre o trabalho que estou a tentar fazer hoje e o que fiz em The Right to Look é que, depois de Tahrir, depois de Occupy e no esforço continuado de afirmar que as vidas negras importam, já não tenho de imaginar a experiência revolucionária de conceder e reclamar o direito a olhar num espaço de aparição. Vi-o e experimentei-o, tal como muitos outros. Já não precisa da linguagem da filosofia especulativa para que possa ser expresso por mim.
 BLM Millions March (2014). Crédito Anon. “Escutar é esperar que o outro faça a primeira aproximação, seja ela verbal ou não, de modo a não reclamar o privilégio colonial de nomeá-lo. Nesse escutar, as formas desiguais sob as quais as pessoas entram no “espaço de aparição” podem ser reconhecidas e negociadas”.
BLM Millions March (2014). Crédito Anon. “Escutar é esperar que o outro faça a primeira aproximação, seja ela verbal ou não, de modo a não reclamar o privilégio colonial de nomeá-lo. Nesse escutar, as formas desiguais sob as quais as pessoas entram no “espaço de aparição” podem ser reconhecidas e negociadas”.
Walter Benjamin exortou o intelectual a conscientemente escolher o lado dos comuns (o termo de Benjamin era “proletariado”), exortando-os/as a construir o seu próprio “improved apparatus”[dispositivo aprimorado]: “Um autor que nada ensina aos escritores, não ensina ninguém. O que importa, assim, é o caráter exemplar da produção, que é capaz, primeiramente de induzir outros produtores a produzir, e, em segundo lugar, de colocar um dispositivo melhorado à sua disposição. E este dispositivo é tanto melhor quanto mais consumidores consiga transformar em produtores - isto é, leitores ou espectadores em colaboradores”. Considerando o conjunto da sua obra-ativismo sinto que tem estado a montar um “improved apparatus” à disposição das pessoas. Além disso, as suas aulas são habitualmente espaços colaborativos (na melhor tradição de Paulo Freire), algo que foi acentuado pelo seu envolvimento com os movimentos sociais, e estou certa de que este seminário na FCSH-UNL não será uma exceção, como está implícito no blog do currículo: “O seu desfecho depende dos participantes. Podemos decidir mudar o que quisermos.”
Acha que a cultura visual, pelo menos a que pratica, poderia ser imaginada como um “improved apparatus” ao serviço das pessoas, e em particular dos estudantes, que deveria induzi-los a produzir o seu próprio dispositivo, e nesse processo, transformá-los de consumidores em produtores?
Sim, acho.
Muito obrigada, Nick, pela generosidade do seu tempo.
* Esta entrevista é a parte 1 de um díptico. Na parte 2, vamos entrevistar Marita Sturken, cujo trabalho se concentra na relação da memória cultural com a identidade nacional e a cultura visual. Professora na NYU, Sturken tem também oferecido, nos últimos três anos, seminários no Doutoramento em Estudos Artísticos na FCSH-UNL.
Tradução de Filipa Cordeiro
Doutoranda em Estudos Artísticos (FCSH-UNL) com formação anterior em Arte Multimédia (FBAUL) e Filosofia (FCSH-UNL), foi assistente de investigação no projecto de filme experimental Oporto (Lisboa) e no Arquivo Vilém Flusser (Berlim). Paralelamente ao trabalho de investigação no cruzamento entre estética e filosofia política, tem criado e participado em vários projectos colaborativos no campo da edição independente, com ênfase na activação de redes horizontais para a circulação da produção artística.