“As solas dos meus pés não saíram nunca das quedas do rio Cutato” Entrevista a Zetho Cunha Gonçalves
Série Viver e escrever em trânsito entre Angola e Portugal (parte 4)
Poeta, autor de literatura para a infância e juventude, tradutor de poesia, organizador de edições e antologias, Zetho Cunha Gonçalves nasceu no Huambo (Angola) em 1960. Cresceu numa pequena povoação chamada Cutato, lugar que identifica como a sua “pátria inaugural da Poesia”. Frequentou um colégio interno na cidade de Huambo e, ainda muito jovem, passou pela guerra em Angola como soldado adolescente. No entanto, a família deixa Angola em 1975 e vem para Portugal onde Zetho estuda agronomia e onde, depois de outras andanças, acabou por radicar-se. Na aba dos volumes I e II da sua obra Rio sem margem (2011 e 2013) abre-se um vasto leque de trabalhos que acompanharam o seu percurso de poeta: tratador de gado numa fazenda, empregado de escritório, vendedor de publicidade, publicitário, diretor adjunto de um jornal de turismo falido, empregado de mesa, pesquisador de notícias, intermediário e conselheiro de bibliófilos.
A sua já extensa obra é dedicada, por um lado, à recriação poética de material oriundo das tradições orais sobretudo de Angola, mas também de outras partes de África e da América Latina. Por outro lado, trabalha frequentemente temas ligados à sua origem e ao seu percurso de vida, sem, no entanto, limitar-se tematicamente a eles.
Em novembro de 2020, Zetho Cunha Gonçalves conversou com Doris Wieser sobre a sua história, a sua relação com Angola e Portugal e o seu trabalho literário. Segue-se uma versão abreviada dessa entrevista.
O seu percurso de vida é marcado por imensas ruturas e trânsitos. Comente-nos, por favor, como chegou a ser o Zetho com quem hoje converso.
Então vamos começar pelo começo do mundo. Nasci na cidade de Huambo porque os meus pais viviam numa pequena povoação sem luz elétrica nem água canalizada no Kuando-Kubango, chamada Cutato. Nessa povoação não havia hospital e a minha mãe, por precaução, e como os meus avós maternos viviam na Caála, que é uma cidade a 27 km do Huambo, fui nascer à cidade do Huambo. Como não mamava – a minha mãe sofreu imenso – fiquei seis meses em casa dos meus avós maternos, de onde tenho a minha primeira memória. Portanto, vou para a casa dos meus pais já com seis meses e aí a maior parte dos meus amigos eram negros. Quando comecei a falar, imediatamente e naturalmente, a mesma palavra que começava a aprender a dizer em português, sabia dizer também em nganguela, que é a língua de um dos povos que habitam naquela região.
Quando fui para a escola primária, era o único menino que não era negro. E levei muita porrada do meu professor da primeira classe, do Jacinto Mundombe, com canas de bambu que doem, mas doem mesmo, porque com os meus amigos falávamos em nganguela e não se podia falar em nganguela na escola, só português.
 Desde muito criança, o meu pai fez sempre questão de mostrar, a mim e ao meu irmão, Angola, para onde foi com 19 anos. Só voltou a Portugal em 1975 porque assaltaram a nossa casa, senão, não teríamos vindo. A minha mãe foi para Angola com um ano e meio. Morreu muito jovem, com 56 anos, de cancro, e nunca chegou a conhecer a terra onde nasceu. Os meus avós maternos e dois tios meus, dois irmãos da minha mãe, estão sepultados na Caála. Portanto, aquela era a terra também dos meus pais.
Desde muito criança, o meu pai fez sempre questão de mostrar, a mim e ao meu irmão, Angola, para onde foi com 19 anos. Só voltou a Portugal em 1975 porque assaltaram a nossa casa, senão, não teríamos vindo. A minha mãe foi para Angola com um ano e meio. Morreu muito jovem, com 56 anos, de cancro, e nunca chegou a conhecer a terra onde nasceu. Os meus avós maternos e dois tios meus, dois irmãos da minha mãe, estão sepultados na Caála. Portanto, aquela era a terra também dos meus pais.
Depois da escola primária fui para um colégio interno na cidade de Huambo, o colégio Alexandre Herculano. Era um colégio de padres e aí aprendi uma coisa que é: a violentação contra a ternura. Quando vou para esse colégio, aos dez anos de idade, fiquei separado dos meus pais, dos meus amigos, do meu mundo, de tudo. Depois vivi a violentação, a falta de ternura. Os meus pais iam de 15 em 15 dias visitar-me, andavam 450 km para me irem visitar.
Entretanto, os movimentos começam a entrar em Angola em 1974, e optei pela FNLA, não pelo MPLA nem pela UNITA. Daí ter sido um adolescente soldado, com 14, nas vésperas de fazer 15 anos. Andei lá naquelas loucuras todas, onde salvei todas as vidas que me foi possível salvar, e algumas mortes teriam sido evitadas se eu soubesse a tempo, mas sobretudo provocadas pela UNITA. Enfim…
Dessas experiências de guerra, só consegui escrever quando finalmente a guerra acabou em Angola. Então escrevi alguns poemas que saíram publicados na Noite vertical, que são violentíssimos, e dois contos que estão numa antologia, ou melhor, em várias antologias da União dos Escritores Angolas e depois foram traduzidas, inclusivamente na Alemanha. A Noite vertical foi um livro que me deixou exausto. Aliás, todos os livros me deixam numa tenebrosa exaustão, mas este particularmente, porque a última parte contém prosas-poemas para amigos mortos. Foi um livro que me deixou num vazio terrível.
Depois de muitas peripécias, chego a Portugal, para voltar a Angola. E ainda voltei, para a guerra… Depois vim, andei um bocado pelas Europas ligado à FNLA, até que vim parar a Portugal novamente. Como a gente tem que viver em algum lugar, fui ficando por aqui. Sempre fui do meu país um exilado, exilado na minha própria língua. A Portugal o que me ligava (e liga) é a grande poesia que tem e a gastronomia que está a ser destruída com muita, muita, muita proficiência, infelizmente.
Gostaria de aprofundar um pouco mais a sua relação com Portugal. Depois de tantos anos vividos em Portugal, não se sente também, e até certo ponto, identificado com este país?
A gente pertence só a um lugar: é o lugar onde, pela primeira vez, a terra absorveu uma gota do nosso sangue. Não é o sangue da nossa mãe quando nos dá à luz. É quando a gente parte a cabeça, esfola um joelho, a palma das mãos, os cotovelos, enfim… é esse o nosso lugar de pertença, quanto a mim.
Os meus sapatos pisam e caminham pelas ruas mais variadas do mundo, mas as solas dos meus pés não saíram nunca das quedas do rio Cutato. Portugal poderia ser um pequeno paraíso na terra, mas é demasiada mediocridade em tudo isto, a começar pelos senhores do poder, coitados. Posso dizer que conheço – como pouca gente – a poesia portuguesa, porque a leio e releio muito.
Mas a poesia não é literatura, como digo no prefácio de Noite Vertical: “A poesia é uma coisa demasiado séria e importante para se confundir com literatura”. A poesia tem a idade da voz humana, a poesia é a nomeação criadora das coisas. Se não fossem os poetas, o ser humano não sabia o que era a paixão. Aliás, a poesia é anterior a Deus, porque foi preciso um poeta criar e nomear Deus para que ele existisse. Todos os povos têm a sua literatura de tradição oral. E quando um povo se esquece dela, e cada vez mais dela se esquece, nestes tempos de assassinato da memória, e se recusa a olhar para as origens, então esse povo está mal, é um povo doente. Essa é uma outra preocupação que tenho com a minha escrita. Tento não me repetir e, de livro para livro, sendo as obsessões sempre as mesmas, os temas são sempre os mesmos, tento dizer tudo de uma outra forma.
A sua poesia traz muitos elementos da tradição oral de diversos grupos étno-linguísticos de Angola, mas também de outras partes de África, como também da América Latina. Estes elementos traduzem uma certa visão de mundo apoiada por rituais, pela sabedoria dos mais velhos e pela presença dos espíritos. Qual é a sua relação pessoal com as visões africanas do mundo e que encontro pretende produzir entre esses elementos culturais e o público português ou internacional?
Creio que o fundamental é que o poema seja efetivamente um poema. Por exemplo, A palavra exuberante é produto de vinte anos de trabalho ininterrupto. Não me preocupo com os leitores. Costumo dizer e não é, de modo algum, por arrogância: não sei quem são os meus leitores. Felizmente os meus livros de poesia têm encontrado leitores. Estão praticamente todos esgotados neste momento.
Para se escrever há duas coisas fundamentais: 1) a vida vivida é fundamental, e depois, 2) ter alguma coisa para dizer ou imaginar e dizê-la duma forma que se não confunda. Criar uma voz pessoal é um trabalho duma vida inteira e nunca estamos satisfeitos. Qual é o meu melhor livro? O meu melhor livro é aquele que eu ainda não escrevi e que apenas existe na minha cabeça. Tenho alguns poemas para um próximo livro, escrevi dois pequenos livros, cada um tem dez poemas. Um, durante a pandemia, que é A respiração suspensa, e um outro, Exorcismos para ler em voz alta. Em alguns desses poemas entram o quimbundo, o nganguela e umbundo.
Toda poesia, toda manifestação de arte, é um acrescento de beleza à beleza que o mundo não tem. Não é o real quotidiano que deve fazer a poesia, mas, ao contrário, a poesia é que deve, em absoluto, criar o real quotidiano.
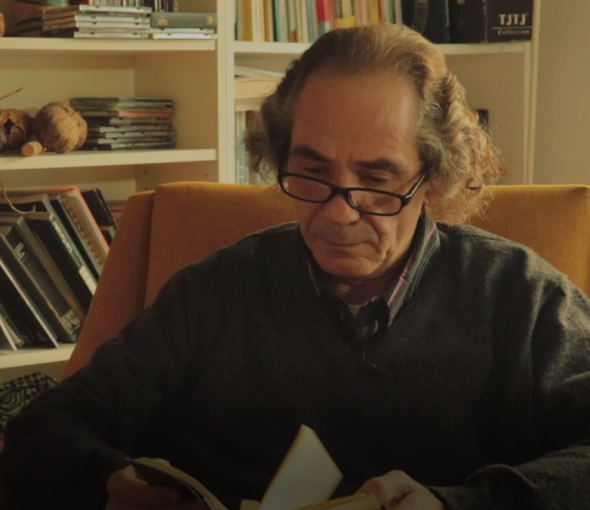
Isso, quanto a mim, é terrível, porque comecei a escrever aos onze anos, e nunca li nenhum livro que era obrigado a ler durante o tempo que andei a estudar. Tinha toda a ligação às oraturas, mas a forma como me obrigavam a ler… Depois, em Angola nós tínhamos que saber todos os rios de Portugal, os ramais do caminho de ferro… para quê? Dividir e classificar orações… ó diabo! Um horror!
O Zetho, ao escrever ou reescrever tradições orais, oraturas, parece fazer um exercício de tradução em vários sentidos: de uma cultura para outra, de uma língua para outra e, por fim, da oralidade para a escrita. É nisto que consiste o seu projeto literário?
O projeto do Rio sem margem nasce da minha paixão pelas oraturas. Começo a ir ao que está publicado em recolhas de provérbios, de adivinhas, de motejos, de poesia tradicional. Olhando para aqueles trabalhos, que na sua maioria são muito bons, faltava ali o dom do poema, faltava ali poesia. Então, sem trair toda essa poesia que estava lá implícita, tenho tentado e vindo a criar ou a devolver a poesia que aqueles adágios, aqueles provérbios, aqueles motejos têm, mas que, na língua portuguesa, estava perdida nas traduções literais. Então Rio sem margem é um projeto de recolha das tradições orais e de recriação autoral, porque aquilo que ali está é um trabalho de autor. E apesar de no primeiro volume haver poemas das oraturas maias, incas, da Etiópia e de Moçambique, decidi, no segundo volume, incluir apenas oraturas de Angola.
Entretanto, decidi fazer algo diferente com O sábio do Bandiagara. Fui baixando da internet alguns livros em pdf das literaturas da América Latina e descobri aquelas sete mulheres de Chiapas, do Taller Literário Las Leñateras, que me encantó! Então fui traduzindo, montando poemas a partir das oraturas africanas, mas não de Angola, e da América Latina, ou seja, criar um livro altamente político com dois continentes despedaçados pelo exterior. Disse-me: “e se eu pegasse e fizesse um jogo com poetas contemporâneos e a poesia ancestral de vários povos?” E depois disso: “e se retirasse as origens e as autorias e o leitor só as tivesse disponíveis no fim do livro?”. Ótimo! Assim nasce O sábio do Bandiagara, Esconjuros, ebriedades e ofícios, em que há também três poemas meus.
Tinha, porém, a ideia de dedicar o livro ao Luandino Vieira, ao Arnaldo dos Santos e ao Adolfo Maria, porque são da mesma infância lá no Makulusu, na Ingombota. O Luís Carlos Patraquim então sugere-me algo. É ele que, no fundo, cria a dedicatória. As dedicatórias são a essas pessoas e ao Uanhenga Xitu pela sua relação com a oralidade. Então definimos:
“Este livro é dedicado
a João Vêncio e Mestre Tamoda;
à vida verdadeira de Adolfo Maria;
aos Rios do Tempo
e ao vento que desorienta o caçador.”
 Quando estava a compor este livro, havia poemas que o livro recusava e que vieram depois a dar O leopardo morre com as suas cores. Os livros é que sabem quando é que acabam, o que é que querem… eu não mando nos livros.
Quando estava a compor este livro, havia poemas que o livro recusava e que vieram depois a dar O leopardo morre com as suas cores. Os livros é que sabem quando é que acabam, o que é que querem… eu não mando nos livros.
Em mim pelo menos, a escrita é sempre contra o desespero e contra a estupidez humana com a qual infelizmente temos que coabitar, temos que conviver com ela quotidianamente. Só escrevo realmente quando não consigo não escrever. O meu processo de escrita é ir anotando, fazendo cábulas. O que parece uma boa ideia para um poema muitas vezes não dá nada, outras vezes, sim. Então acumulam-se papéis e papéis e papéis. Depois vou trabalhando, escrevendo e reescrevendo até chegar a um mínimo de satisfação.
No início da nossa conversa disse que se considera um exilado do seu país. Isso tem a ver também com o facto de ter pertencido à FNLA? Trata-se de não pertencer a um certo paradigma que venceu em Angola?
Esta é a razão. Ainda hoje pago em Angola um preço alto por isso. Em 1975, eu era preso ou era morto. Mas isso é a lei da guerra e as leis da guerra são pouco belas. Ainda que tenha muitos amigos do MPLA, estive em Angola, mas há sempre um estigma do Outro. Eu, da minha parte, tenho tudo muito bem resolvido, não tenho nenhum problema com nada.
Diz-se muitas vezes que a poesia é intraduzível. Como tradutor de poesia, o que pensa sobre esta afirmação?
Tenho transposto para português, transmudado, transvertido para português uma série de poemas, muita coisa está inédita. Tenho para mim que, ao passar um texto de uma língua para outra, o importante é que, na língua de chegada, se crie um poema absolutamente poema, sem trair a ideia. Mas é impossível a respiração de uma língua ser transposta para a respiração de outra língua. Então, com estas coisas todas, eu disse “vou escrever um poema que seja mesmo impossível de traduzir, seja lá para que língua for” e escrevi o “Canto de nomeação”, que dá cinco páginas de glossário de hipotética tradução.
O que me interessa é criar uma obra que não se confunda, e escrever o melhor que consigo: acrescentar um pouco de beleza à beleza que falta ao mundo. E, se conseguir que os meus leitores, as minhas leitoras, ao lerem um poema meu, se sintam mais felizes… que maravilha!
Esta entrevista é a quarta de uma série de entrevistas com escritores/as que transitam entre Angola e Portugal. Pertencendo a diferentes gerações, tornam-se testemunhas das relações culturais e políticas entre estes países, e da herança do colonialismo que os une e os separa. A série faz parte do projeto “Identidades Nacionais em Diálogo: Construções de Identidades Políticas e Literárias em Portugal, Angola e Moçambique (1961-presente)”, coordenado por Doris Wieser, financiado pela FCT e sediado no Centro de Literatura Portuguesa, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra.